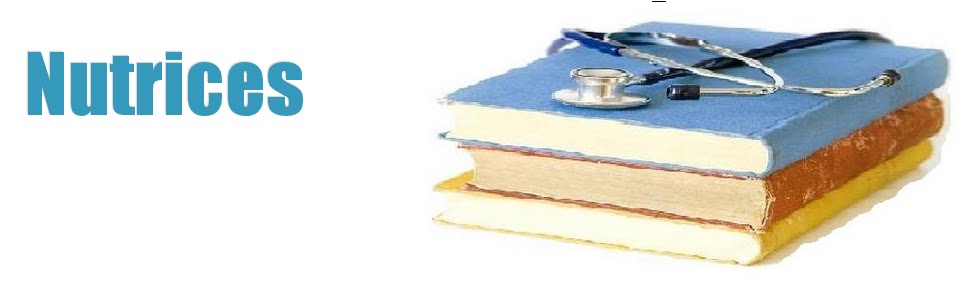Tal como recomenda a OMS, todos os indivíduos devem ter a oportunidade de envelhecer numa sociedade que os ajude a preservar as suas capacidades, que lhes ofereça cuidados quando tiverem necessidade deles e que por fim, lhes permita morrer com dignidade. Sim, porque envelhecer faz parte da vida e todos nós, somos à partida potenciais idosos.
“A velhice é num sentido genérico, um processo de diminuição gradual da capacidade fisiológica de cada órgão ou sistema, devido à atrofia progressiva dos tecidos. Nas células notam-se modificações morfológicas, químicas e enzimáticas”. (REIS, 1978, p.174). Assim, pode dizer-se que O envelhecimento está relacionado ao envelhecimento dos órgãos.
Para WOODS [et al] (1995, p.567) os rins e as outras estruturas do sistema urinário desempenham um importante papel na regulação da homeostase e do ambiente interno, com o envelhecimento existe afectação das artérias renais o que vai produzir alterações da função renal.
Relativamente ao aparelho reprodutor e segundo WOODS [et al] (1995, p.567) existem situações que afectam o seu funcionamento como é o caso do envelhecimento, já que tanto na mulher como o homem surgem modificações que levam a alterações morfológicas, fisiológicas e hormonais, mas tanto um sexo como outro continuam a ter capacidade de reacção sexual.
Neste trabalho vai ser dado ênfase às descompensações do trato urinário e reprodutor que fazem parte das queixas mais frequentes do doente geriátrico, quer masculino quer feminino, sendo assim temos como objectivos:
o Compreender as alterações morfológicas e fisiológicas resultantes do envelhecimento no sistema urinário e reprodutor;
o Apresentar as patologias mais frequentes destes sistemas relacionadas com o envelhecimento.
2 – ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA URINÁRIO
Segundo ALLIER (1985, p.75), durante muitos anos foi impossível distinguir envelhecimento renal de origem patológica do de origem fisiológica. No entanto, sabe-se que os rins diminuem com a idade. O exame histológico revela a existência de diferentes tipos de lesões.
“O aparelho urinário conjuntamente com outros órgãos, regula o volume e mantém a composição do líquido intersticial dentro de uma estreita margem de valores.” (SEELEY [et. al], 1997, p.910).
Fig.1, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, p.55
Este aparelho compreende os seguintes órgãos:
o 2 Rins;
o A bexiga;
o 2 Ureteres;
o A uretra.
2.1 – Rins
Para Ferreira (1985, p.129), o rim é o órgão que melhor permite avaliar a evolução do processo fisiológico do envelhecimento. No decorrer da terceira década de vida, o rim começa a sofrer uma diminuição do seu tamanho anatómico e isto vai se acentuando de maneira lenta e progressiva até aos 70 anos. Aos 80, 85 anos já apresenta uma atrofia de 30% da sua massa renal. Após este processo de atrofia, o rim torna-se pequeno, contraído e de aspecto finamente granuloso. Esta atrofia faz-se acompanhar de uma redução equivalente do número de néfrons, provocando uma perda progressiva da capacidade funcional do rim. Diminuindo os néfrons, é claro que diminuirão também os glomérulos, ou que irá dificultar as trocas a nível renal.
“O rim é um órgão par, em forma de feijão, com a dimensão de um punho fechado, localizado junto à parede posterior do abdómen, por detrás do peritoneu, de cada lado da coluna vertebral, adjacente ao bordo lateral do músculo psoas.” (SEELEY, 1997, p.910).
De acordo com SEELEY [et. al]. (1997, p.910), cada rim mede cerca de 3 cm de espessura, 5 cm de largura e 11 cm de comprimento e pesa cerca de 130 gr. Uma cápsula renal, de tecido conjuntivo fibroso reveste cada rim, que por sua vez é revestida por uma camada densa de tecido adiposo, que é a gordura peri-renal. que tem como função proteger o rim de choques mecânicos. Os rins e o tecido adiposo que os rodeia estão fixados à parede abdominal por uma fina bainha de tecido conjuntivo, a fáscia renal. No bordo interno de cada rim existe uma pequena área chamada hilo, por onde entram os nervos renais e a artéria, e saem a veia renal e os ureteres. O hilo abre-se numa cavidade denominada seio renal, que contém gordura e tecido conjuntivo. O rim divide-se em 2 porções, uma externa, o córtex, e outra interna, a medula, que rodeia o seio renal. A região medular compreende numerosas pirâmides renais, os seus prolongamentos denominam-se raios medulares que ao se projectarem para o córtex formam as colunas renais. Umas estruturas em forma de funil, denominadas pequenos cálices, rodeia as papilas renais. A junção de vários cálices pequenos formam estruturas idênticas, mas maiores, chamadas grandes cálices. Estes convergem para formar um grande canal, chamado pélvis renal ou bacinete. O bacinete transforma-se num tubo estreito, o ureter, que faz a ligação entre o rim e a bexiga.
Segundo WOODS [et. al] (1995, p.1427), o nefrónio é considerado como unidade funcional de cada rim. Cada rim contém aproximadamente 1000000 de nefrónios. As estruturas do nefrónio que se encontram envolvidas num processo de formação da urina incluem, a cápsula de Bowman, o corpúsculo renal, túbulo contornado proximal, túbulo contornado distal, tubo colector e ansa de Henle. Os rins estão segmentados em duas regiões distintas: a medula e o córtex. A cápsula de Bowman e os túbulos contornados encontram-se situados no córtex, enquanto a ansa de Henle e o tubo colector encontram-se na medula.
“A parede da cápsula de Bowman apresenta identações para formar uma cavidade com uma parede dupla. Estas identações são ocupadas por emaranhados de capilares que formam o glomérulo semelhante a um novelo de lã. O conjunto de glomèrulo e da capsula de Bowman formam o corpùsculo de Malpighi. Os líquidos passam do glomérulo para a cápsula de Bowman. A cavidade desta abre-se para o túbulo contornado proximal, o qual drena o líquido da cápsula.” (SEELEY [et al], 1997, p.913).
“O glomérulo é irrigado por uma arteríola aferente e drenado por uma arteríola eferente, apresentando ambas uma camada de músculo liso.” (SEELEY [et. al], 1997, p.914).
De acordo com SEELEY [et. al] (1997, p.916), o túbulo contornado proximal tem cerca de 14 mm de comprimento e as suas paredes são compostas por epitélio cúbico simples.
Ainda segundo SEELEY [et. al] (1997, p.916), as ansas de Henle são prolongamentos dos túbulos proximais, e são constituídas por um ramo descendente e outro ascendente. A ansa tem uma porção larga que se dirige para o glomérulo e termina dando origem ao túbulo contornado distal, junto à mácula densa. Os túbulos contornados distais não são tão compridos quanto os proximais.
Fig. 2 - Fonte: anatomia do rim – fonte: SEELEY – Anatomia e Fisiologia.1997, pág. 912
2.2 – Artérias e veias
Para SEELEY [et. al] (1997, p.916), as artérias renais são ramos da aorta abdominal que entram no seio de cada rim, cujos ramos, as artérias segmentares, se dividem para formar as artérias interlobares, que sobem no interior das colunas renais até ao córtex. Próximo da base de cada pirâmide, os ramos das artérias interlobares divergem e arqueiam-se sobre ela, formando as artérias arqueadas. As artérias interlobulares estendem-se, desde as artérias arqueadas, para dentro do córtex, e as arteríolas aferentes derivam delas ou dos seus ramos. As arteríolas eferentes têm origem no glomérulo, de onde drenam o sangue. As arteríolas aferentes irrigam os capilares dos glomerulares do corpúsculo renal. Depois de abandonar o glomérulo, cada arteríola eferente dá origem a um plexo de capilares, denominados capilares peritubulares, que rodeiam os túbulos contornados proximais e distais. Porções especializadas destes capilares, os vasa recta, penetram na medula e voltam a regressar ao córtex, acompanhando a ansa de Henle. Os capilares peritubulares drenam para as veias interlobulares que, por sua vez, terminam nas veias arqueadas. Estas drenam para as veias interlobares que vão desembocar na veia renal, que sai do rim e entra na veia cava inferior.
Fig.3, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, p.54
2.3 - Ureteres
“Os ureteres e a uretra sai da bexiga pela porção antero-inferior. A área triangular da apresentam-se como extensões da pelve e penetram na bexiga, numa região denominada trígono.” (WOODS [et. al], 1995, p.1427).
De acordo com SEELEY [et. al] (1997, p.917), os ureteres entram na parte inferior da superfície posterolateral da bexiga. Estes são revestidos por epitélio de transição, circundado por uma lâmina própria, uma camada muscular e uma adventícia fibrosa.
“Os ureteres são compostos por musculatura lisa e são enervados pelo Sistema Nervoso Simpático. A função dos ureteres consiste em transportar a urina da pelve renal até à bexiga.” (WOODS [et. al], 1995, p.1427).
2.4 – Bexiga
Para WOODS [et. al] (1995, p.1427 e 1430), a bexiga está situada por detrás da sínfise púbica, na região pélvica e serve como que um saco colector de urina. A bexiga é composta por uma membrana mucosa que está disposta em pregas, chamadas rugas que, juntamente com a enorme elastecidade das pardes musculares, podem distender a bexiga consideravelmente, para albergar grandes quantidades de urina. A base da bexiga é rodeada por um músculo esquelético, formando o esfíncter urinário interno. A bexiga é enervada pelo sistema nervoso simpático e parassinpático. Sob o controlo voluntário, o esfíncter uretral abre-se, deixando passar a urina.
Segundo JACOB [et. al] (1988, p.451), a bexiga consiste em duas partes, uma pequena área triangular, chamada de trígono vesical (que se situa perto da entrada da bexiga) e o músculo detrusor da urina, que é um músculo liso da parede da bexiga, o detrusor forma a porção principal do corpo da bexiga.
No homem, localiza-se anteriormente ao recto mas, na mulher, está situada imediatamente à frente da vagina e antero-inferiormente ao útero. As suas dimensões dependem da presença ou ausência de urina.
Fig.4, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, pág.55
2.5 – Uretra
De acordo com JACOB [et. al] (1988, p.452 e 453), A parede da uretra é composta por três camadas: mucosa, sub-mucosa e muscular. A uretra é a porção distal do trato urinário e serve como local de passagem da urina que é eliminada pelo corpo Humano. No homem, a uretra é, também, a porção terminal do trato reprodutor, servindo para a passagem do líquido seminal. No homem a uretra é um tubo estreito, musculomembranoso com, aproximadamente, 20 cm de comprimento e é dividida em três porções: prostática, membranosa e esponjosa. A primeira parte tem cerca de 3 cm e começa logo no colo da bexiga (saída da bexiga). A uretra membranosa tem mais ou menos 2 cm de comprimento e liga o pénis à uretra prostática. A uretra esponjosa (porção do pénis) tem cerca de 15 cm de comprimento e estende-se desde o ligamento triangular até ao óstio externo da uretra. Na mulher, tem somente uma função urinária, com 4 cm de comprimento. Admite-se, geralmente, que a uretra feminina, forme um foco ideal para infecção crónica, pois é envolvida por uma rede de glândulas e ductos.
2.6 – Produção de urina
Segundo SEELEY [et. al] (1997, p.918), as unidades funcionais de um rim são os nefróneos. Há três principais processos de formação de urina, eles são: a filtração, que consiste no movimento dos líquidos através da membrana, em resultado das diferenças de pressão; a reabsorção, que é o regresso, ao sangue, de substâncias existentes no filtrado; e por fim a excreção, transporte activo das substâncias para o nefrónio.
2.7 – Micção
De acordo com WOODS [et. al] (1995, p.1432), a urina sai dos rins e é levada até à bexiga pelos ureteres, aqui acumula-se cerca de 100 a 300 ml de urina, antes que pessoa tenha vontade de urinar. As paredes da bexiga, por distensão, accionam barorreceptores, o que provoca a estimulação reflexa dos nervos parassimpáticos da bexiga, isso vai fazer com que a bexiga se contraia. Quando os nervos motores da esfíncter urinário externo estão inibidos, o músculo descontrai-se, abrindo o esfíncter e permitindo a saída de urina. O controlo voluntário sobre a micção pode ser exercido por um estímulo transmitido, pelas vias descendentes da espinal medula, a partir do tronco cerebral.
“O reflexo da micção tem início quando a parede vesical se encontra distendida e dá origem à micção, ou eliminação da urina contida na bexiga. O controlo do reflexo da micção ocorre na região sagrada da espinal medula e no tronco cerebral.” (SEELEY, 1997, p.934).
Fig. 5, Fonte: anatomia do rim – fonte: SEELEY – Anatomia e Fisiologia.1998, pág.936
Apresentação de forma resumida do reflexo da micção (fig. 5):
1 – “Os receptores de volume da parede vesical são estimulados quando o volume da bexiga aumenta;” (SEELEY [et. al], 1997, p.936).
2 – “Os potenciais de acção são transportados por neurónios aferentes até à espinal medula;” (SEELEY [et. al], 1997, p.936).
3 – “Na espinal medula, o reflexo da micção é iniciado. Potenciais de acção eferentes são conduzidos à bexiga, causando contracção da musculatura lisa. O relaxamento dos esfíncteres interno e externo ocorre por diminuição dos potenciais de acção eferentes a essas estruturas;” (SEELEY [et. al], 1997, p.936).
4 – “O cérebro tem uma influência primordial sobre o reflexo da micção, uma vez que os centros cerebrais superiores podem inibi-lo e manter o esfíncter externo contraído. Sob condições apropriadas, o efeito inibidor do cérebro sobre o reflexo urinário é reduzido, permitindo-lhe iniciar a micção.” (SEELEY [et. al], 1997, p.936).
3 – ANATOMIA DO APARELHO sexual E REPRODUTOR
“Muitas explicações científicas iniciais sobre reprodução eram mais místicas do que científicas. Hipócrates acreditava que sementes que emanavam de todas as partes do corpo do homem e da mulher se juntavam para formar um fruto. Aristóteles opinava que os factores masculinos forneciam o movimento e os femininos forneciam a substância, sendo que o sexo da criança estaria na dependência dos factores que predominassem.” (JACOB [et. al], 1988, p.499).
“Embora não seja essencial para a sobrevivência, o aparelho sexual e reprodutor afecta as características estruturais e funcionais dos adultos. As diferenças morfológicas entre os dois sexos e o papel importante que estas diferenças desempenham no comportamento humano reflectem o significado deste aparelho. Além de que, o desempenho do aparelho sexual e reprodutor na procriação, por alguns indivíduos é essencial para a sobrevivência da espécie. (...) Embora os aparelhos sexuais e reprodutores do homem e da mulher mostrem diferenças tão marcadas, partilham também uma série de semelhanças. Muitos dos órgãos sexuais e reprodutores, masculinos e femininos, têm origem nas mesmas estruturas embrionárias.” (SEELEY [et. al], 1997, p.972).
3.1 – Anatomia do aparelho sexual e reprodutor masculino
Para SEELEY [et. al] (1997, p.972), o aparelho sexual e reprodutor masculino é composto por testículos, epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbo-uretrais, uretra, bolsa escrotal e pénis. As células espermáticas são muito sensíveis à temperatura e, normalmente, não se desenvolvem à temperatura corporal habitual. Os testículos e os epidídimos, órgãos de produção e desenvolvimento dos espermatosóides, encontram-se localizados no exterior do corpo, na bolsa escrotal, onde a temperatura é mais baixa. Os canais deferentes vão desde os epidídimos até à cavidade pélvica, a sua porção terminal alarga-se formando a ampola do canal deferente, reúnem-se com os canais provenientes das vesículas seminais e continuam-se pelos canais ejaculadores. Estes passam através da próstata e abrem-se para a uretra, no interior da mesma. Por seu lado, a uretra tem início na cavidade pélvica e passa através do pénis para o exterior.
Fig. 6, Fonte: anatomia do rim – fonte: SEELEY – Anatomia e Fisiologia.1998, pág. 974
3.1.1 – Bolsa escrotal
Segundo WOODS [et. al] (1995, p.1589), o escroto é uma bolsa cutânea que cobre e protege os testículos bem como os cordões espermáticos. Dado que os testículos se encontram rodeados por uma membrana serosa e estão suspensos na cavidade do escroto, estes conseguem mover-se com facilidade, protegendo-os contra traumatismos. A pele do escroto é muito elástica e fina, porque contêm rugas e folículos sebáceos. Devido ás rugas a pele do escroto é capaz de grande distensão e o escroto pode aumentar bastante de tamanho, quando se verifica um edema. Interiormente, existe um septo que divide o escroto em duas metades, cada uma das quais contém um testículo, o epidídimo e uma porção do cordão espermático. O aspecto exterior do escroto varia em diversas situações, nos homens idosos ou debilitados, e em temperaturas elevadas o escroto torna-se alongado e plano. Nos homens jovens saudáveis e com baixas temperaturas, o escroto apresenta-se curto, muito enrugado e muito agarrado aos testículos.
“O lado esquerdo do escroto pende geralmente um pouco mais a baixo do que o lodo direito, porque o cordão espermático esquerdo tem um comprimento superior.” (WOODS [et. al] 1995, p.1589).
3.1.2 – Testículos
De acordo com SEELEY [et. al] (1997, p.975), os testículos são dois pequenos órgãos ovóides com cerca de 4 ou 5 cm, no seu maior diâmetro e encontram-se situados dentro da bolsa escrotal. O revestimento exterior de cada testículo é uma cápsula branca e espessa designada por túnica albugínea. O tecido conjuntivo desta membrana penetra para o interior do testículo formando septos incompletos, estes dividem cada testículo em, aproximadamente, 300 a 400 lóbulos. O conteúdo testicular do espaço entre os septos inclui dois tipos de estruturas: os túbulos seminíferos e o estroma de tecido conjuntivo laxo. O comprimento total dos túbulos seminíferos em ambos os testículos é aproximadamente de 800 m. Os túbulos seminíferos abrem-se para um sistema de túbulos curtos e rectos, que por sua vez se abrem para uma rede tubular designada por rede testicular. A rede testicular esvazia-se para dentro de 15 a 20 túbulos, os canais eferentes.
Para WOODS [et. al] (1995, p.1588), Além de produzirem espermatuzoides, os testículos funcionam como glândula endócrina, a testosterona é produzida pelas células intersticiais dos testículos, e é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos genitais durante a puberdade, e pela sua manutenção em estado funcional durante a vida da pessoa.
Fig.7, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, p.57
3.1.3. – Pénis
Segundo SEELEY [et. al] (1997, p.981), o pénis consiste em três colunas de tecido eréctil e o engorgitamento com sangue deste tecido eréctil vai provocar um aumento do volume do pénis, tornando-o ríjido, a que se dá o nome de erecção. O pénis é o órgão masculino da cópula e transfere os espermatozóides do corpo do homem, para o da mulher. Duas das colunas erécteis constituem as faces laterais e dorsal do pénis, os corpos cavernosos. O corpo esponjoso, a terceira coluna, situada na face inferior dos corpos cavernosos, dilata-se na sua extremidade distal para formar a glande peniana. A uretra esponjosa passa ao longo do corpo esponjoso, penetra na glande e atravessa-a para se abrir para o exterior através do orifício exterior da uretra ou orifício uretral. Na extremidade proximal do pénis o corpo esponjoso dilata-se para formar o bulbo peniano, e cada corpo cavernoso alarga-se para formar a raiz do corpo cavernoso. Estas estruturas em conjunto constituem a raiz do pénis e inserem o pénis aos ossos da bacia. No pénis, e especialmente na glande a pele é bem fornecida de receptores sensoriais. Uma prega solta de pele, o prepúcio, cobre a glande peniana.
3.1.4. – Próstata
Parafraseando SEELEY [et.a]l (1997, p.982), a próstata é constituída por tecido glandular e muscular, tem a forma de e aproximadamente a mesma dimensão de uma castanha, ou seja, apresenta cerca de 4 cm de comprimento e dois centímetros de largura. Esta encontra-se situada atrás da face posterior da sínfise púbica, na base da bexiga, onde envolve a uretra prostática e os dois canais ejaculadores. A glândula é composta por uma cápsula de músculo liso e de numerosos feixes de fibras musculares que irradiam para o interior da glândula na direcção da uretra. Recobrindo estas trabéculas musculares encontra-se o epitélia cilíndrico que forma dilatações saculare para o interior das quas as células excretam o líquido prostático os canais prostáticos, vinte e três, conduzem estas secreções para a uretra prostática.
3.1.5. – Modificações fisiológicas com o envelhecimento masculino
Para WOODS [et. al] (1997, p.1594), no homem, a produção de testosterona vai diminuindo gradualmente até cerca dos 60 anos e depois mantém-se no mesmo nível. Podem contudo notarem-se modificações nos testículos, líquido seminal, próstata e nas erecções do pénis.
De acordo com Segundo ALLIER (1985, p.78), os tubos seminíferos sofrem a mais importante alteração: a túnica exterior sofre uma esclerose progressiva com o aumento do tecido colagénico e a degenerescência das fibras elásticas. Os elementos seminíferos vão sendo progressivamente substituidos por tecido conjuntivo. No que respeita à espermatogénese mais de metade dos testículos e dos canais contêm espermatozóides em abundância até depois dos 70 anos.
Segundo ALLIER (1985, p. 75), não é frequente observarem-se perturbações na próstata em adultos jovens, contudo a maior parte dos homens têm uma próstata patológica. No homem, a alteração da próstata faz parte do processo geral de envelhecimento, mas está-se longe de se ter descoberto a causa; a teoria hormonal é a mais plausivel, contudo seria excessivo faze-la prevalecer para basear nela um tratamento hormonal, tanto mais que se poderia tornar perigoso em caso de pré-neoplasia. O adenoma começa aos 50 anos; 60 corresponde ao máximo da frequência. A sintomatologia resulta da compressão da uretra posterior que provoca a dificuldade em urinar e a progressiva retenção da urina, por falta músculo vesicular devido à distensão derivada da retenção da urina e fadiga do aparelho renal dado o obstáculo à excreção e à infecção urinária a ela frequentemente associada, donde resulta a nefrite ascendente.
“Ao contrário da incapacidade de procriar observada nas mulheres idosas, os homens podem ainda procriar, mas com menos probabilidade que os jovens, devido à menor quantidade de esperma viável. Tanto as mulheres como os homens continuam a ter a capacidade de reacção sexual”.
| Estrutura | Alteração |
| Testículos | Diminuição do tamanho e firmeza |
| Líquido Seminal | Diminuição da quantidade e da viscosidade |
| Próstata | Hipertrofia |
| Erecção do pénis | Mais lenta, menor frequência de erecções matinais involuntárias |
Quadro 1, Fonte: Enfermagem Médico-Cirúrgica, WOODS [et. al], 1995, p.1594
3.2 – Anatomia do aparelho sexual e reprodutor feminino
Segundo SEELEY [et al] (1997, p.987), os órgãos do aparelho sexual feminino são os ovários, as trompas uterinas, o útero, a vagina e os órgãos genitais externos. Os órgãos genitais internos estão localizados na cavidade pélvica entre o recto e a bexiga. O útero e a vagina têm localização mediana, estando os ovários situados um de cada lado do útero. Estes órgãos estão ligados à parede interna da bacia, por 3 pares de ligamentos. O mais evidente é o ligamento largo.
Fig. 8, Fonte: anatomia do rim – fonte: SEELEY [et.al]. - Anatomia e Fisiologia.1998, p.988
3.2.1 – Ovários
Parafraseando WOODS [et al] (1995, p.1587), os ovários são glândulas endócrinas além de serem órgãos reprodutores. Há normalmente dois ovários em forma de amêndoa com 2 cm de largura, 1 ou 2 cm de espessura e 3 a 4 cm de comprimento e encontram-se situados perto das fímbrias das trompas de falópio.
Para SEELEY [et al] (1997, p.987), cada um dos ovários está em ligação com o ligamento largo por intermédio de uma prega peritoneal, o mesovário. Existem dois outros ligamentos relacionados com o ovário: o ligamento suspensor, que se extende desde o mesovário até à parede lateral interna da bacia, e o ligamento ovárico, que liga o ovário ao ângulo uterino do mesmo lado.
“Diferentemente dos espermatozóides que estão a ser constantemente produzidos, nos homens, apenas um óvulo amadurece de cada vez e o processo de amadurecimento do óvulo exige em média 28 dias. Quando o óvulo atinge a maturidade, abandona o ovário, durante o processo da ovulação.” (WOODS [et al], 1995, p.1588).
Fig.9, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, p.56
3.2.2. – Trompas de falópio
Segundo WOODS [et al] (1995, p.1587), as trompas de falópio são dois canais musculares, estreitos, cujo comprimento vai de 8 a 14 cm. Estende-se a partir do corpo, perto do fundo, nos cornos uterinos e estão rodeados pelas pregas dos grandes ligamentos. Os tubos encontram-se divididos em três partes: o ístmo é a parte proximal do tubo, mais próxima do corno uterino; a ampola é a parte média mais longa, onde geralmente ocorre a fertilização; e a parte distal, mais afastada do tubo, é fimbriada. As paredes da trampa de falópio contêm músculos lisos que apresentam propriedades peristálticas. As trompas de falópio encontram-se revestidas com uma membrana mucosa que contém cílios. As funções das trompas de falópio vão servir de lugar para a união do espermatozóide e do óvulo, e transportar o óvulo para o útero. Se existir um estrangulamento das trompas de falópio na região proximal, o óvulo fertilizado poderá não passar pelo ponto de obstrução, e poderá verificar-se uma gravidez ectópica.
3.2.3. – Útero
De acordo com SEELEY [et al] (1997, p.992), o útero apresenta a forma de uma pêra média e mede cerca de 5 cm de largura e 7,5 cm de comprimento. É ligeiramente achatado no sentido antero-posterior e encontra-se na cavidade pélvica com a porção mais arredondada e de maior diâmetro transversal, o fundo, orientado para cima e a porção mais estreita, o cérvix, dirigido para baixo. A porção du útero entre o fundo e o colo é designado por corpo. Uma ligeira constrição ou istmo, marca a junção do corpo com o colo. No interior do útero situa-se a cavidade uterina que se continua através do canal cervical e se abre para a vagina através do orifício externo do canal cervical. A parede uterina é composta por 3 camadas: a serosa; muscular; mucosa.
“As modificações das propriedades físicas e do ph do muco cervical são importantes, no tratamento da infertilidade e no controlo da fertilidade. Na altura da ovulação, o muco cervical torna-se mais fino e mais elástico. Estas modificações aumentam a penetração do muco cervical pelo esperma.” (WOODS [et al], 1995, p.1587).
Fig.10, Fonte: Dicionário Visual do Corpo Humano do “Público”, p.57
3.2.4. – Vagina
Para SEELEY [et al] (1997, p.992), a vagina é um canal de cerca de 10 cm de comprimento que se estende desde o útero até ao exterior. A vagina é o órgão da cópula da mulher, tem como função receber o pénis durante a penetração, permitir a passagem do fluxo menstrual e permitir o nascimento. Sobre cada uma das paredes posterior ou anterior da vagina estende-se uma saliência longitudinal, designada por colunas vaginais; transversalmente, entre as colunas anterior e posterior, encontram-se as cristas ou rugas vaginais. A extremidade superior da vagina é inserida sobre o colo uterino e rodeia o seu segmento inferior, intra-vaginal, formando-se um fundo de saco vaginal circular ou fórnix vaginal, mais profundo atrás do que à frente. A parede vaginal é constituída por uma camada muscular exterior e, internamente, uma mucosa de revestimento. A túnica muscular é formada por músculo liso que permite a dilatação da vagina, o que faz com que ela se alargue consideravelmente durante o parto. A túnica mucosa, húmida, é constituída de epitélio de escamação estratificado que forma uma camada superficial de protecção. Na mulher, a maior parte das secreções lubrificantes produzidas durante o acto sexual, são segregadas pela mucosa vaginal. O orifício vaginal é obliterado por uma fina membrana mucosa chamada o hímen.
3.2.5. – Modificações fisiológicas com o envelhecimento feminino
Segundo ALLIER (1985, p.78), a involução genital da mulher caracteriza-se pelo desaparecimento da menstruação e o aparecimento das perturbações da menopausa. A supressão da menstruação, a que a mulher atribui tanta importância constitui um dos aspectos da idade crítica, fazendo-se acompanhar por uma extrema fadiga, enxaquecas, afrontamentos e por um estado depressivo generalizado. A idade do aparecimento da menopausa, a idade média é aos 45 anos, varia em função da constituição da mulher, do seu passado sexual, do nível de vida e da raça. A menopausa pode ser precedida de por uma pré-menopausa. Esta caracteriza-se por fases de ausência da menstruação a algumas hemorragias para além da menstruação normal.
“Quando a ovulação cessa, não se produz progesterona e o estrogénio diminui. As modificações hormonais levam a modificações no útero, ovários e vagina. As modificações fisiológicas podem provocar desconforto ou complicações nas relações sexuais; a secura vaginal e o estreitamento da abertura podem causar dispareunia (coito doloroso) e podem ocorrer infecções vaginais com maior facilidade...” (WOODS [et al], 1995, p.1594).
| Estrutura | Alteração |
| Útero | Diminuição do tamanho |
| Ovários | Atrofia, com diminuição do tamanho |
| Vagina | Menor largura e comprimento; Atrofia da entrada vaginal (intróito); As secreções vaginais diminuem e tronem-se mais alcalinas. |
Quadro 2, Fonte: Enfermagem Médico-Cirúrgica, WOODS [et. al], 1995, p.1594.
4 – Insuficiência Renal Aguda
“I.R.A. é a supressão abrupta da função renal em consequência de alterações renais agudas caracterizada pela oligúria ou anúria” (GRANDE ENCICLOPÉDIA MÉDICA SAÚDE DA FAMÍLIA, Vol. 9, p.36).
Segundo WOODS [et al] (1995, p.1507), a I.R.A. ocorre subitamente, no espaço de poucos dias, as modificações bioquímicas chegam a ser impressionantes, e a pessoa tem pouco tempo para se adaptar a essas alterações. A pessoa fica muito doente, e é necessário o seu internamento, muitas vezes em áreas de cuidados intensivos. Um indivíduo que sofre de insuficiência renal, pode parecer bem e sentir-se bem, embora os dados laboratoriais reflictam a deterioração da função renal.
4. 1 – Epidemiologia/Etiologia
Para WOODS [et al] (1995, p.1507), a I.R.A. manifesta-se como uma diminuição ou cessação da função renal, súbita e frequentemente irreversível, relacionada com factores pré-renais, renais ou pós-renais. Segue-se geralmente a um traumatismo de natureza tóxica, esquémica, ou a infecção pós-renal ou a obstrução. A recuperação de um episódio de I.R.A. depende da doença subjacente, situação do doente e do tratamento cuidadoso e de apoio que lhe for prestado durante o período da paragem do funcionamento renal. A mortalidade associada à necrose tubular aguda aproxima-se dos 40%. Estes valores estatísticos reflectem amplamente a morte de pessoas gravemente doentes, em que a insuficiência renal é uma sequela de uma patologia subjacente, extensa. Devido à maior disponibilidade de diálises diminui e mortalidade directamente imputável à diminuição da função renal por intoxicação de potássio, acidose, excesso de líquidos. O potencial de recuperação da função renal, para as pessoas que sobrevivem a um episódio agudo de insuficiência tubular é bom. Embora as estatísticas de recuperação indiquem que o parênquima renal se pode regenerar mais completamente após lesão tóxica do que após lesão isquémica, estudos de continuidade de diversas pessoas, ao longo de alguns anos após episódio de insuficiência tubular aguda, revelam um funcionamento renal quase normal ou normal. Para aqueles em que a insuficiência renal aguda foi causada por doença glomerular ou grave infecção do parênquima renal, o prognóstico poderá não ser tão favorável. O retorno da função renal é determinado pela extensão de tecido necrosado e supressão do parênquima renal funcional que tenha ocorrido durante o episódio agudo de insuficiência renal.
| Situações e substâncias que produzem lesão isquémica ou nefrotóxica nos rins | |
CAUSAS ISQUÉMICAS | SUBSTÂNCIAS TÓXICAS |
| -- Hipovolémia | -- Solventes (Tetracloreto de carbono, metanol, etilenoglicol) |
| -- Perda de sangue (cirurgia, traumatismo) | -- Metais pesados (chumbo, arsénico, mercúrio) |
| -- Perda de plasma (queimaduras, cirurgia, pancreatite aguda) | -- Antibióticos ( Kanamicina, Gentamicina, Polimixina B, Anfotericina B, Colistina, Neomicina) |
| -- Perda de sódio e água (prolongada diarreia ou vómitos, drenagem do sistema gastro-intestinal, febre alta contínua) | -- Pesticidas |
| -- Insuficiência cardíaca | -- Cogumelos |
| -- Enfarte do miocárdio | |
| -- Disrritmias cardíacas | |
| -- Insuficiência cardíaca congestiva | |
| -- Choque séptico |
Quadro 3, Fonte: Enfermagem Médico-Cirúrgica, WOODS [et. al], 1995, p.1508.
Além destas outras situações podem dar origem à I.R.A.:
- Doença glomerular aguda;
- Infecção aguda do parênquima renal;
- Oclusão bilateral das artérias renais;
- Obstrução mecânica das vias urinárias;
- Emoglobinémia e mioglobinémia.
4. 2. – Incidência
Parafraseando WOODS [et al] (1997, p.1508), a maior insuficiência renal aguda ocorre em pessoas com:
- Cirurgia óptica;
- Queimaduras extensas;
- Grandes traumatismos;
- Enfarte grave do miocárdio;
- Perda de sangue em grande quantidade.
Segundo o autor supracitado a insuficiência renal aguda ocorre frequentemente também em doentes com sépsis. E nos que têm coagulação intravascular anormal, como por exemplo a coagulação intravascular disseminada, visto que estas pessoas estão gravemente doentes, são as principais candidatas à inadequada perfusão renal.
4. 3 – O envelhecimento e a I.R.A.
De acordo com Gallo [et al] (2001, p.269), a incidência da I.R.A. aumenta com a idade. A incidência da I.R.A. no doente hospitalizado é calculado em, pelo monos 5 vezes, em relação à população mais jovem. O rim do idoso é também mais susceptível à I.R.A. isquémica e à nefrotóxica. A idade avançada é considerada um factor de risco para a nefropatia, por contrastes radiológicos. As razões para esta maior susceptibilidade do rim do idoso para a I.R.A. isquémica e nefrotóxica não estão completamente delineadas. Mecanismos importantes na defesa contra a I.R.A. consistem em factores que preservam o fluxo sanguíneo renal, particularmente para a medula renal, que sempre existe em baixas tesões de oxigénio. O diagnóstico e tratamento da I.R.A. na população de idade avançada não diferem dos diagnósticos de uma população mais jovem. Estudos examinando os resultados de I.R.A. nos idosos sugerem que eles possam ter as mesmas taxas de recuperação que os doentes mais jovens, sem quaisquer consequências adversas adicionais da diálise, por tanto, a idade por si só não é necessariamente um indicador de prognóstico reservado nos casos de I.R.A. e não deve ser usada como uma razão para evitar a diálise aguda se outros sistemas orgânicos estão intactos.
4. 4 – Fisiopatologia e manifestações clínicas
Para WOODS [et al] (1997, p.1508), ocorre isquémia renal quando a corrente sanguínea até aos rins está reduzida. A reacção do rim normal é a vasoconstrição que vai agravar o problema da reduzida corrente sanguínea renal e aumenta a isquémia renal. Os problemas da perfusão afectam os dois rins. Quando a isquémia é prolongada, o tecido tubular renal é destruído e desenvolve-se uma clara insuficiência renal. As substâncias que são tóxicas para os túbulos renais vão afectar ambos os rins. O rim, com a sua grande corrente sanguínea e a capacidade de concentrar líquido na porção medular, cria condições para a máxima exposição das células tubulares às toxinas. A lesão das células vai levar a menor permeabilidade glomerular e à obstrução tubular.
4. 4. 1 – Fase Oligúrica
o Incapacidade de eliminar excesso de líquidos
De acordo com WOODS [et al] (1995, p.1509), os líquidos ficam retidos no organismo devido à função renal diminuída, resultando em sobrecarga de líquidos e edemas. Quando a sobrecarga de líquidos é excessiva, podem ocorrer insuficiência cardíaca congestiva e edema pulmonar. A HTA acompanha a insuficiência renal aguda, quando uma pessoa tem um quadro de hipervolémia, embora não seja geralmente observada quando o balanço hídrico está controlado. A incapacidade de eliminar o excesso de líquidos leva a um débito urinário diminuído. Podem estar presentes a oligúria ou a anúria, embora a oligúria seja mais comum. Normalmente o doente com I.R.A. apresenta uma queda do débito urinário em um ou dois dias para o nível de 50 a 400 ml dia.
o Desequilíbrio electrolítico
Para WOODS [et. al] (1995, p.1509), os três principais problemas com os electrólitos são: retenção do potássio, a acidose metabólica e a eliminação do sódio. Em relação ao potássio, num indivíduo saudável, este ião é trocado no tubo contornado distal do nefrónio por iões de sódio e de hidrogénio; a pessoa saudável não consegue conservar o ião potássio, no entanto, na pessoa que sofre de I.R.A., há um grande número de células tubulares que não se encontram funcionais, pelo que não existe qualquer mecanismo que permita remover o potássio do organismo. No controlo de sinais de toxicidade com potássio, os indicadores mais fiáveis são a electrocardiografia e determinações laboratoriais do potássio sérico. Raramente o doente fica sintomático e não se deve confiar nas alterações do pulso como indicação do nível de subida do potássio no doente.
Ainda segundo o mesmo autor, em relação ao desequilíbrio de sódio é vulgar um doente com I.R.A. desenvolver hiponatrémia, com a hiperhidratação. Os sinais e sintomas da hiponatrémia incluem a pele quente húmida e ruborizada; convulsões; fraqueza muscular; alterações comportamentais, como por exemplo: confusão, delírio e coma. As concentrações de sódio sérico estarão abaixo dos 130 mEq/L. Ao valores do hematócrito e da hemoglobina descem rapidamente, sem sinal de hemorragia, o que é provocado pela hemodiluição. Também há aumento no teor total em sódio, na I.R.A., isto pode acontecer quando o doente recebe medicamentos de elevado teor em sódio e excesso de sódio na alimentação. O edema e o aumento da pressão sanguínea revelam retenção de sódio e líquidos, mesmo que a concentração sérica de sódio seja normal ou abaixo do normal. Em relação à acidose metabólica, isto acontece quando a secreção de iões de hidrogénio e a produção de iões de bicarbonato diminuem nas células tubulares. O ph do sangue diminui, o conteúdo do dióxido de carbono diminui e então podem aparecer sintomas do SNC de confusão, que progride para o estupor e coma. Embora os pulmões sejam capazes de compensar totalmente a crescente carga ácida ajudam a determinar a taxa a que a acidose se desenvolve e a frequência ou a necessidade de diálise. Ao compensar o aumento de cargas metabólicas, os pulmões tentam eliminar mais dióxido de carbono, surgindo assim a respiração de Kussmaul.
FASE OLIGÚRICA
| Efeito Fisiológico | Achados | Sintomas |
| Incapacidade de eliminar os resíduos metabólicos. | Aumento sérico: o Ureia nitrogenada; o Creatinina. | o Náuseas; o Vómitos; o Confusão; o Coma; o Sonolência; o Hemorragia gastro-intestinal o Pericardite |
| Incapacidade de regular os electrólitos. | o Hipercaliémia; o Hiponatrémia; o Acidose. | o Náuseas; o Vómitos; o Disrritmias cardíacas; o Respiração de Kussmaul; o Sonolência; o Confusão; o Coma. |
| Incapacidade de eliminar o excesso de líquidos. | o Sobrecarga de fluídos; o Hipervolémia. | o Edema; o Insuficiência Cardíaca Congestiva; o Edema pulmonar; o Hipertensão. |
Quadro 4, Fonte: Enfermagem Médico-Cirúrgica, WOODS et. al., 1995, p.1509
4. 4. 2 – Fase Diurética
De acordo com WOODS [et al] (1995, p.1510), após um período de oligúria ou anúria que pode durar alguns dias até várias semanas, os doentes que estão a recuperar da função renal, passam então para outra fase distinta da doença, que é caracterizada pelo aumento do débito urinário, o que indica que os nefrónios lesados estão a recuperar e podem começar a excretar a urina. No início a diurese aumenta lentamente, embora dentro de um ou dois dias possa ocorrer diurese de 4 a 5 L por dia. Embora esteja a ser eliminado líquido durante essa fase os rins ainda não se encontram recuperados. A recuperação total da função renal é lenta e pode levar dias a meses. Este retorno da função à normalidade ou a níveis quase normais é demonstrada quando o rim consegue, simultaneamente, conservar e diluir a urina e quando os níveis de electrólitos séricos e azoto não proteico se tornam normais.
FASE DIURÉTICA
| Efeito Fisiológico | Achados | Sintomas |
| Aumento da produção de urina (défice na capacidade de concentração dos túbulos e efeito diurético osmótico de BUN elevado) | o Hipovolémia; o Perda de sódio; o Perda de potássio. | o Débito urinário até 4 ou 5 L por dia; o Hipotensão postural; o Taquicardia. |
| Aumento lento dos resíduos metabólicos | o Inicialmente, elevada ureia nitrogenada no sangue (BUN); o O BUN regressa lentamente ao valor base. | o Melhoria do estado mental e actividade. |
Quadro 5, Fonte: Enfermagem Médico-Cirúrgica, WOODS et. al., 1995, p.1509
4.5. – Tratamento
Para WOODS [et al] (1995, p.1510), durante a fase oligúrica os objectivos do tratamento são:
- O controlo dos líquidos;
- Regulação dos elactrólitos;
- Controlo e promoção da eliminação do conjunto de resíduos metabólicos;
- Redução do catabolismo dos tecidos.
Isto consegue-se através de:
- Restrições de líquidos;
- Alimentação de baixo teor proteico, de baixo teor em potássio e rico em hidratos de carbono
A prevenção da infecção faz-se com a administração de antibióticos.
Ainda segundo WOODS [et al] (1995, p.1510), durante a fase diurética o tratamento médico centra-se na conservação de um equilíbrio hídrico, correcto, enquanto também se regulam os electrólitos. Embora o doente possa estar a eliminar grandes quantidades de urina, a diálise pode continuar a ser necessária para um controlo correcto dos electrólitos.
4.6. – Prevenção
Segundo WOODS [et al] (1997, p.1508), a I.R.A. pode ser reduzida por meio de duas medidas: identificação e observação das populações em risco e identificação e controlo dos factores de isco ambientais. Os factores significativos a nível dos cuidados preventivos para a população em geral, incluem controlo dos medicamentos nefrotóxicos, aumento da supervisão médica das pessoas que sofrem de infecções da garganta e das vias respiratórias superiores, e maior identificação de caos e tratamento de indivíduos com bacteriúria e doença obstrutiva das vias urinárias. As tentativas no sentido de controlar a identificação e distribuição de produtos químicos e medicamentos nefrotóxicas, são principalmente efectuadas pela administração de alimentação e medicamentos (F.D.A.). A identificação destes, a rotulação obrigatória e a venda destes medicamentos apenas por receita, são exemplos dos esforços da F.D.A., no sentido de promover a saúde pública.
4.7. – Cuidados de Enfermagem
Diagnóstico de Enfermagem | Intervenções de Enfermagem |
| Perfusão dos tecidos alterada, relacionado com esquémia renal | 1- Ver se há sinais de hiperqueliémia, hiponatrémia, ou acidose durante a fase de oligúrica e hipocaliémia durante a fase diurética. 2- Avaliar o estado mental quanto a alterações (confusão, convulções, coma). 3- Ver se há sinais de hemorragia GI ou “Asterixis”. 4- Durante a fase oligúrica, proporcionar repouso no leito e ajudar nas ADL. 5- Durante a fase diurética, encorajar a independência nas ADL e diambulação precoce, conforme tolerado. 6- Proporcionar uma alimentação reduzida em proteínas |
Fonte: WOODS [et al]. – Enfermagem Medico-Cirúrgica 1995, p.1514
Diagnóstico de Enfermagem | Intervenções de Enfermagem |
| Excesso de volume de líquido (oligúria) ou défice dele, relacionados com mecanismo regulador comprometido. | 1- Controlar os valores da pressão venosa central 2- Controlar o peso, o balanço hidrico, os sinais vitais e os sons respiratórios 3- Avaliar as veias do pescoço, o turgor da pele e as mucosas, ver se há edema periférico. 4- Usar dispositivos de controle IV, durante a fase de oligúria |
Fonte: WOODS [et al] – Enfermagem Medico-Cirúrgica 1995, p.1514
Diagnóstico de Enfermagem | Intervenções de Enfermagem |
| Infecção potencial relacionado com a nutrição diminuída e reacção imunitária reduzida. | 1- Ver se há sinais de infecção; observar a pele diariamente. 2- Manter a assepsia estrita, da algália permanente 3- Promover a higiene pulmonar 4- Ajudar o doente, frequentemente na mobilização. 5- Usar medidas para prevenção de soluções de continuidade da pele 6- Evitar a exposição a pessoas com infecção 7- Administrar os antibióticos, prescritos nas horas certas |
Fonte: WOODS [et al] – Enfermagem Medico-Cirúrgica 1995, p.1515
Diagnóstico de Enfermagem | Intervenções de Enfermagem |
| Lesão potencial, relacionada com défice sensório-motor, fadiga, alterações fisiológicas | 1- Ver se há gengivorragia ou fezes positivas nas análises do guaiaco. 2- Ensinar o doente a usar escova de dentes macia 3- Ministrar hemolientes de fezes, se necessário. 4- Proporcionar a necessária ajuda, por causa da fadiga. 5- Proporcionar ambiente seguro. |
Fonte: WOODS [et al] – Enfermagem Medico-Cirúrgica 1995, p.1515
Diagnóstico de Enfermagem | Intervenções de Enfermagem |
| Défice de conhecimentos, relacionados com falta de informação | 1- Ensinar: a- A base dos sintomas da terapia b- A medicação prescrita e os regimes diatéticos prescritos. c- Os sinais de problemas recedivantes, ou infecção. d- A necessidade de cuidados de acompanhamento |
Fonte: WOODS [et al] – Enfermagem Medico-Cirúrgica 1995, p.1516
Prevenção | Após Instalado | |
| Hipervolémia | o Correcta administração de líquidos; o Restrição de sódio; o Peso diário e balanço hídrico; o Vigilância e detecção de: Ý pressão venosa central; Débito cardíaco; HTA; Alteração do turgor da pele Edema agudo do pulmão | o Administração de diuréticos (se prescritos); o o Monitorização: TA; PVC; pressão arterial pulmonar e débito cardíaco; o o Colocar idoso em posição semi-fowler; o o Preparação para diálise ( se houver indicação) |
Prevenção | Após Instalado | |
| Acidose metabólica | o Vigilância e detecção de hiperkaliémia e valores de bicarbonatos | o Preparação para diálise (se houver indicação) |
| Alterações cardiovasculares (hipertensão por retenção hídrica) | Observar e detectar: o Aumento da pressão diastólica > 100 mmHg, cefaleias, prostração | o Monitorização dos sinais vitais; o Restrição de sódio; o Balanço hidro-electrolítico; o Peso diário; o Administração de diuréticos e sedativos; o Preparação para diálise (se houver indicação) |
Prevenção | Após Instalado | |
| Pericardite | o Observar e detectar: desconforto, respiração superficial, alterações do pulso, arritmia | o Monitorizar TA, pulso; o Posicionar o idoso confortavelmente; o Terapêutica prescrita; o Preparação para diálise (se houver indicação) |
| Edema agudo do pulmão | Balanço hidro-electrolítico; o Peso diário; o Observar respiração; o Detecção sinais hipóxia, taquicardia, letargia o Detectar edemas periféricos | Terapêutica prescrita; o Preparação para diálise (se houver indicação) |
Prevenção | |
| Alterações electrolíticas (hiperkaliémia, hiper/hiponatrémia, hipocalcémia, hiperfosfatémia) | o Observação: detecção de acidose, alteração do turgor da pele, paralisia flácida, ansiedade, arritmias,HTA, ICC; tetania; o ß ingestão de K; o Reposição de sódio (na hiponatrémia); o Monitorização cardíaca; o Diálise (se indicado) |
| Infecção | o Técnica asséptica adequada; o Prevenção de infecções: urinárias, respiratórias; o Observar e detectar: hiper/hipotermia, SV, sinais de infecção local |
Prevenção | |
| Encefalohematoma | o Fazer orientação do idoso no tempo e espaço; o Mobilização activa e passiva; o Estimular o idoso a colaborar no auto-cuidado dentro do possível; o Avaliar capacidade de concentração (ter em conta a idade); o Detectar períodos de agitação ou depressão; o Avaliar grau de consciência; o Posicionar o idoso confortavelmente |
Prevenção | |
| Alterações gastro-intestinais, náuseas, hemorragia | o Observar e vigiar valores sanguíneos, anorexia, náuseas, vómitos; o Alterar a dieta; o Administração de anti-heméticos (se indicados); o Higiene oral; |
| Má nutrição | Dieta adequada; o Peso diário; o Prevenir úlceras de pressão; o Administração de líquidos indicados; o Higiene oral; o Pequenas refeições e frequentes |
5 - INCONTINÊNCIA URINÁRIA
“Incontinência Urinária, definida como perda involuntária de urina...” (Gallo [et al], 2001, p.290).
Na opinião de Petroianu et. al. (1999, p.407), incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina objectivamente demonstrável, em quantidade suficiente para que se possa tornar num problema social e/ou higiénico. Afecta indivíduos idosos de ambos os sexos conduzindo-os progressivamente à degradação da saúde, da qualidade de vida, ao isolamento social, à regressão e, com frequência, ao internamento de longa permanência em diversas instituições. Pode produzir uma serie de efeitos indesejáveis, tais como: lesões da pele, odor desagradável, infecções urinárias recorrentes, quedas. Além disso, tem um custo financeiro elevado. Apesar de um grande impacto que exerce sobre a saúde do indivíduo, familiares, e sobre a sociedade, a incontinência urinária é frequentemente negligenciada pela própria pessoa e por muitos profissionais de saúde, que, erradamente, a consideram um evento normal do envelhecimento.
5.1 - Prevalência
Para Petroianu [et al] (1999, p.407), a prevalência da incontinência urinária varia consideravelmente entre os estudos. Geralmente eleva-se com o envelhecimento, sendo ligeiramente maior entre as mulheres do que entre os homens. Em estudos realizados na comunidade a prevalência oscilou entre os 8% e 34%. Em idosos internados em hospitais de agudos e instituições de longa permanência, a prevalência encontrada foi mais elevada, 35 e 50% respectivamente.
Segundo Gallo [et al] (2001, p.290), a incontinência urinária afecta mais de 10 milhões de adultos, incluindo, aproximadamente 30% de adultos idosos que residem na comunidade, 35 a 40% de doentes idosos nos hospitais de internamento agudo e 50% de idosos residentes em casas geriátricas.
5.2 - Impacto do envelhecimento sobre a micção
De acordo com Petroianu [et al] (1999, p.408), ao contrário da crença existente, o envelhecimento por si só, não é causa da incontinência urinária. O sistema urinário, bem como todos os outros sistemas, sofre algumas mudanças estruturais que podem predispor à incontinência, mas não causá-la. Entre as mulheres, a alteração mais importante é o declínio dos níveis de estrogénio. Essa hormona tem efeito trófico sobre os tecidos que revestem e envolvem a uretra, a bexiga e a vagina. A sua redução deixa esses tecidos mais freáveis, menos vascularizados e mais atrofiados, provocando uma redução da pressão uretral, tronando as idosas mais susceptíveis à incontinência de esforço. Em relação aos homens, o aumento da próstata é, provavelmente o principal factor responsável pelas alterações do fluxo urinário relacionadas com o envelhecimento. Algumas alterações da função vesical e da uretra ocorrem em ambos os sexos e incluem: redução da contractilidade e da capacidade vesical, aumento do volume residual e aparecimento de contracções vesicais não inibidas do detrusor. Alterações da mobilidade, da destreza manual, da motivação e da tendência para excretar grande volume de líquido após se deitar, também predispõe o idoso à incontinência.
5.3 - Fisiopatologia
Na opinião de GALLO [et al] (2001, p.290), o controle vesical e o controle da função esfincteriana, torna-se inibidor através de encadeamentos neurais do córtex sensoriomotor dos lóbulos frontais para o tronco cerebral, cerebelo, tálamo e medula. A não ser que ocorra inibição central a seguinte sequência de eventos produz a micção normal: o esvaziamento da bexiga é mediado por actividade colinérgica (parassimpática); o enchimento vesical normal aumenta o tónus colinérgico, estimulando o desejo de urinar; o controlo reflexo da micção ocorre através das raízes nervosas sacrais colinérgicas S2-S4; com o desejo de urinar, as inibições adrenérgica (simpática) e somática ocorrem simultaneamente, permitindo o relaxamento dos esfíncteres interno e externo; a contracção vesical aumenta enquanto os esfíncteres uretrais e músculos do assoalho pélvico relaxam através do estímulo do nervo podendo; quando a bexiga está cheia, os estímulos inibitórios da região cortical alta eventualmente podem ser superados, resultando na contracção involuntária vesical via arco reflexo. A intervenção do trato urinário inferior está sob o controlo dos sistemas colinérgico, adrenérgico e somático. A micção normal exige armazenamento de urina até ao momento do esvaziamento vesical. O armazenamento de urina é mediado por actividade neural adrenérgica. A capacidade normal é de 300 a 600 ml. Nas mulheres pós-menopausa, os baixos níveis de estrogénio, podem afectar a integridade da mucosa uretral. Em homens idosos, o esfíncter interno é vulnerável ao dano durante a secção prostática. O esvaziamento normal da bexiga ocorre quando a pressão intravesical excede a resistência do esfíncter e a saída da bexiga. Esse processo exige a aferência de estímulos do trato urinário inferior e a coordenação de respostas neurológicas centrais e periféricas, assim como da actividade músculo-esquelética. A perturbação de qualquer componente desse sistema delicadamente equilibrado pode dar como resultado a incontinência urinária.
Ainda segundo o mesmo autor, os itens importantes da história clínica consiste em dados sobre o parto, cirurgia pélvica, doença neurológica, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva e tratamento prévio da incontinência urinária. Devem ainda ser formuladas sobre o consumo de medicamentos e o consumo de álcool. O exame físico de doentes com esta patologia deve incidir sobre o abdómen, o sistema urogenital e sistema nervoso central e periférico.
“Em mulheres, um dilema do diagnóstico importante é a diferenciação entre incontinência de urgência e incontinência de esforço. Em homens, a distinção primária é entre incontinência de transbordamento e incontinência de urgência. A maioria dos estudos mostra uma correlação insuficiente entre a causa subjacente e os sintomas dos pacientes. A incontinência por várias causas (incontinência mista) em muitos idosos limita a utilidade de algoritmos de avaliação baseado somente em sintomas e sinais.” (GALLO [et al], 2001, p.292).
5.4 – Avaliação clínica
Para GALLO [et al] (2001, p.292), a avaliação do doente idoso incontinente deve começar com uma história cuidadosa voltada para o entendimento da natureza, gravidade e sobrecarga causada pelo problema, bem como da identificação das causas contribuintes para a incontinência que mais facilmente são curáveis. Deve ser dado ênfase aos sintomas urinários, tendo em consideração o início e duração da incontinência, a frequência, o volume urinário perdido por episódios e qualquer outro factor que contribua para a incontinência. Uma história de gotejamento imediato após tosse, riso ou mudança de postura pode ter bom valor preditivo positivo em diagnosticar a incontinência de esforço. Os sintomas clássicos de incontinência de urgência, como a perda urinária com a lavagem das mãos, ou enquanto se corre para a casa de banho são insensíveis e não específicos. A disúria e a frequência podem indicar uma infecção. Uma diminuição no vigor do fluxo urinário e o esforço à micção sugerem obstrução. A incapacidade em interromper o fluxo urinário voluntariamente sugere debilidade do músculo pélvico.
5.5 - Tipos de incontinência urinária
o Incontinência urinária transitória
“É caracterizada de início súbito, associado a condições clínicas agudas, ou uso de drogas. Normalmente a preocupação reside em remover a causa ou causas subjacentes.” (Petroianu [et al], 1999, p.409).
Segundo Petroianu [et al] (1999, p.409), a incontinência urinária está mais relacionada com factores funcionais do que estruturais, apresentando uma evolução relativamente pequena (menor de 4 semanas) podendo evoluir para incontinências permanentes, se não forem aplicadas medidas adequadas.
Ainda segundo o mesmo autor, delirium, consiste num Síndroma cerebral agudo, secundária ao efeito colateral de medicamentos e várias doenças., Caracteriza-se clinicamente por um distúrbio global da atenção e da cognição, pelo rebaixamento do nível de consciência por distúrbio do ciclo sono-vigília e do comportamento psicomotor. A infecção urinária, quando sintomática, pode causar incontinência do tipo urgência.
A uretrite e vaginite atróficas frequentemente apresentam sintomas que se assemelham aos da infecção do trato urinário. A depressão grave surge no idoso como uma causa psicológica de incontinência urinária transitória, porém menos frequente do que em jovens. A restrição da mobilidade limita como é compreensível o acesso do indivíduo à casa de banho, predispondo à incontinência. Por sua vez, esta pode resultar de numerosas causas tratáveis, tal como a artrite, problemas do quadril, descondicionamento físico, hipotensão postural, claudicação, insuficiências cardíacas.
| Causas da incontinência urinária transitória |
| - Delirium; - Infecções do tracto urinário; - Uretrite e vaginite atróficas; - Restrição da mobilidade; - Aumento do débito urinário; - Medicamentos; - Impactação fecal; - Distúrbios psíquicos. |
Quadro 6-Fonte: PETROIANU et al – Clínica e Cirurgia geriátrica. 1999, p.409
o Incontinência urinária estabelecida
Para Petroianu [et al] (1999, p.409), Incontinência urinária estabelecida não está relacionado exclusivamente a problemas agudos e que persiste ao longo do tempo. Pode ser causada por hiperactividade ou hipoactividade do detrusor, por flacidez da musculatura pélvica, por alteração da pressão uretral, por obstrução da via de saída ou por distúrbios funcionais. De acordo com a sintomatologia clínica, a incontinência estabelecida, tem sido classificada em cinco tipos: urgência, esforço, transbordamento, funcional e mista.
o Incontinência de urgência
De acordo com Petroianu [et al] (1999, p.409), é a mais comum em doentes idosos de ambos os sexos. Normalmente, está associada à hiperactividade do músculo detrusor, denominada de instabilidade, quando a lesão se localiza no tracto urinário inferior, e de hiper-reflexiva, quando se localiza no sistema nervoso. Neste tipo de incontinência verifica-se um desejo forte de urinar, desejo esse que é consciente, reconhecido pelo idoso, acompanhado de um medo em se urinar. Se a perda de urina é imediata, poderá estar relacionada com a contracção involuntária do detrusor, que por sua vez tem origem em alterações neurológicas (AVC, traumatismos vertebro-medulares, tumores, esclerose múltipla, espinha bífida, traumatismos craneo encefálicos ou tumores medulares). Clinicamente, a maioria dos portadores de hiperactividade do detrusor apresenta urgência urinária, seguida da perda de urina em quantidades moderadas a grandes (superior a 100 ml) e volume residual pequeno. No entanto, alguns dos doentes apresentam também redução da força de contracção desse músculo. Nestes indivíduos a urgência miccional pode ser confundida com a atonia vesical ou com a obstrução da via de saída. No homem, a grande causa, são as obstruções prostáticas.
“É imnportante lembrar que 20% dos pacientes portadores de hiperactividade do detrusor não apresentam urgência urinária.” (Petroianu [et al], 1999, p.410).
o Incontinência de esforço
Segundo Petroianu [et al] (1999, p.410),a incontinência de esforço é o segundo tipo de incontinência mais comum em mulheres idosas, Na maioria dos casos deve-se à flacidez da musculatura do soalho pélvico, estando relacionada com o envelhecimento (hipoestrogenismo), multiparidade ou manipulação cirúrgica e mais raramente, à incompetência esfincteriana intrínseca. Este tipo de incontinência é menos comum no homem, podendo, entretanto, ocorre naqueles portadores de lesão esfincteriana resultante de cirurgia prostática, transuretral ou radioterapia. Clinicamente a incontinência de esforço é caracterizada pela perda involuntária de pequenas quantidades de urina, simultaneamente com o aumento da pressão abdominal, durante actividades como a tosse, riso, movimentos corporais. O volume residual nesta situação é pequeno.
o Incontinência por transbordamento
Parafraseando Petroianu [et al] (1999, p.410), este tipo de incontinência ocorre em menos de 20% dos idosos, esta é provocada por um distúrbio neurológico que afecta a contractilidade vesical (bexiga atónica), ou por obstrução anatómica ou funcional da via de saída da bexiga. Os distúrbios neurológicos da contracção vesical estão relacionados com a diabetes, alcoolismo, deficiência da vitamina B12, acção das drogas anticolinérgicas. No homem a obstrução anatómica da via de saída pode ser provocada por: aumento da próstata, tumor e estenose uretral. Por sua vez na mulher, pode ser devida a: estenose uretral ou a um grande prolapso vesical. A obstrução funcional causada pela contracção simultânea da bexiga e do esfíncter externo – dissinergia detrusor – esfincteriana, também pode causar incontinência por transbordamento, ocorrendo mais raramente no idoso.
“Clinicamente, a incontinência por transbordamento caracteriza-se pela perda frequente, quase contínua, de pequenas quantidades de urina. A sensação vesical pode estar diminuída ou ausente o que pode provocar uma sensação de esvaziamento incompleto.” (Petroianu [et al], 1999, p.410).
o Incontinência funcional
Para Petroianu [et al] (1999, p.410), este tipo de incontinência envolve os doentes que não apresentam comprometimento dos mecanismos controladores da micção. Relaciona-se coma incapacidade do indivíduo chegar à casa de banho a tempo de evitar a perda de urina, quer por limitações físicas, deficit cognitivo, transtornos psíquicos, regressão, hostilidade ou limitações ambientais (iluminação inadequada, urinóis de difícil acesso). Doentes idosos hospitalizados, que não sendo prontamente atendidos pela equipa de enfermagem durante o desejo de urinar, podem-se tornar, com o tempo, funcionalmente incontinentes.
o Incontinência mista
Segundo Petroianu [et al] (1999, p.410), a Incontinência Mista verifica-se quando há mais de um tipo de incontinência no idoso. Normalmente, apresenta uma etiologia multifactorial.
5.6 - Tratamento
Para KNAPP (1999), algumas das situações que causam ou contribuem para a existência de incontinência urinária são reversíveis e devem ser tratadas ao mesmo tempo que são instituídas terapêuticas anti-incontinência, como por exemplo, a obesidade, as infecções das vias urinárias, a uretrite e a vaginite atrófica, os fecalomas, a utilização de certos fármacos, o consumo de cafeína e diuréticos.
Existem então diversos métodos, tais como:
o Treino vesical;
o Medicação;
o Cirurgia.
5.6.1 – Incontinência Urinária Transitória
Segundo PETROIANU [et al] (1999, p.411), as estratégias para o tratamento desta incontinência visa reconhecer e tratar as causas irreversíveis: delirium e patologias clínicas subjacentes, como a insuficiência cardíaca congestiva ou infecção do trato urinário, devem ser reconhecidos e tratados adequadamente. Vaginite e uretrite atróficas serão tratadas com estrogénio tópico ou sistémico, se necessário. A incontinência induzida por medicamentos resolverá com a suspensão ou redução das doses. A restrição da mobilidade, outra casa de incontinência transitória, pode ser melhorada com fisioterapia, associada a modificações ambientais. A impactação fecal é tratada com desimpactação manual e clisteres.
5.6.2 – Incontinência Urinária Estabelecida
De acordo com PETROIANU [et al] (1999, p.411), o tratamento da incontinência estabelecida inclui medidas não farmacológicas, farmacológicas e cirúrgicas. A escolha destas medidas dependerá do tipo de incontinência, das condições médicas associadas, da tolerância do doente e da avaliação do risco/benefício. As medidas não farmacológicas compreendem: manipulação ambiental, terapias de comportamento, dispositivos mecânicos, eléctricos e cateteres. As medidas farmacológicas baseiam-se nas drogas anticolinérgicas, nos relaxantes da parede vesical, nos agonistas colinérgicos, nos alfaagonistas e estrogénios.
Na opinião de PETROIANU [et al] (1999, p.412), as medidas não farmacológicas, dividem-se em manipulação ambiental e terapias do comportamento. A manipulação ambiental envolve: atitudes que facilitem o acesso ao W.C., instalação de barras de apoio, iluminação adequada e uso de urinóis ou cadeira sanitária à beira do leito. Essas medidas além de actuarem na incontinência, também previnem as quedas nocturnas, bastante frequente entre os idosos.
5.7 – Cuidados de Enfermagem
Cuidados Gerais:
- Aceitar o idoso com dignidade e respeito, motivando-o positivamente, criando um espírito de equipa;
- A prática diária de uma higiene rigorosa para evitar o odor da urina, para manter a integridade cutânea e prevenir infecções locais;
- Uma alimentação adequada às suas necessidades e um aporte de líquidos que permita um treino vesical;
- Explicar como aceder à assistência profissional e a diversos tipos de apoio;
- Sem a motivação e colaboração do idoso, família e prestadores de cuidados, torna-se impossível qualquer recuperação;
- Proporcionar a micção ao levantar, ao deitar, antes e após as refeições e ainda após 30 minutos da ingestão de bebidas diuréticas, tornando mais difícil a perda de urina;
- É necessário conhecer o padrão do idoso através do registo das micções;
- A ingestão abundante de líquidos, fora de períodos atrás referidos pode prevenir uma série de complicações;
- Um acesso fácil ao W.C. e o uso de vestuário adequado vai evitar perdas de urina, em indivíduos com dificuldade em movimentar-se, ou que apresentem vários tipos de incontinência.
6 - Patologias Prostáticas
6.1 - O que é a próstata?
Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia cit in www.sbu.org.br/leigos/hiperplasia.asp a próstata é um músculo liso de tecido fibroso que contém glândulas cuja secreção é responsável pelo odor característico do sémen, e juntamente com a secreção das vesículas seminais forma a estrutura do líquido seminal. Este líquido, pelas suas características, neutraliza o pH do sémen ajudando na sobrevivência do espermatozóide e também na sua motilidade.
6.1.1 - Onde está localizada?
Está situada na pelve, abaixo da bexiga. Os tamanhos da próstata são variáveis, os maiores diâmetros da próstata, em indivíduos sadios, são aproximadamente 3x2x4 cm. Podemos compará-la a uma noz.
Figura 11, Fonte: www.sbu.org.br/leigos/hiperplasia.asp
6.1.2 - Como é que a próstata aumenta de tamanho?
A próstata permanece relativamente pequena durante a infância e começa a crescer durante a puberdade sob o estímulo da hormona masculina chamada testosterona. Essa hormona é a responsável pelas características sexuais masculinas, como o surgimento de pêlos, engrossamento da voz, desenvolvimento muscular e, como já dissemos, o crescimento da próstata. A glândula atinge o tamanho máximo normal por volta dos 20 anos.
Já SROUGI no site www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline/ed0999/prostata.htm questiona: ”Por que esta estrutura tão diminuta, que pesa 15 g (o equivalente a apenas 0,0002% do nosso peso!) causa tanta agitação nos homens e na ciência médica? E responde:
Erroneamente, porque desde tempos primordiais atribui-se a próstata os dons de controlar a função e o prazer sexual, atributos que ela definitivamente não tem. Correctamente, porque esta glândula pode ser envolvida por dois problemas frequentes e distintos, ambos de consequências negativas para a quantidade e qualidade de vida de seus portadores.
Em primeiro lugar, a próstata pode originar o cancro mais comum do homem, que atingirá um em cada 6 indivíduos que viverem até os 75 anos e não poupará nenhum que sobreviver até 100 anos. Em segundo lugar, e para além do cancro, outra doença pode acometer a próstata. Quase todos os homens apresentam, após os 40 anos de idade, um crescimento benigno da glândula, chamado de hiperplasia ou hipertrofia prostática. Este crescimento, sem nenhuma relação com o cancro local, estrangula a luz do canal uretral e cria graus variados de dificuldade para se expelir a urina. Nos casos extremos torna-se necessária uma cirurgia para aliviar o padecimento urinário.
6.2 - Hiperplasia benigna prostática
Segundo o site www.uro.com.br/hpb.htm adenoma prostático, hipertrofia prostática ou – termo cientificamente mais correcto – hiperplasia prostática benigna (HPB) são termos análogos que significam simplesmente "engrossamento" da próstata (das dimensões originais de uma pequena ameixa, pode atingir o tamanho de uma laranja grande). De facto, habitualmente quando o médico diz: "hiperplasia prostática", acrescenta o termo "benigna" e subentende-se que não há aí qualquer relação entre a hiperplasia e o cancro de próstata.
Os autores CASSMEYER, LEHMAN, PHIPPS e SANDS (1995, p.401), afirmam que hiperplasia benigna, é, na verdade, a designação mais correcta, já que apenas uma porção da glândula aumenta de volume, enquanto outras porções podem atrofiar-se ou tornar-se nodulares. As alterações, na glândula, são atribuídas ao aumento dos níveis de androgénios, particularmente a dihitestosterona.
É o tumor benigno mais frequente no homem.
Fig 12, Fonte: www.uro.com.br/hpb.htm Fig 13, Fonte: www.uro.com.br/hpb.htm
Próstata normal Próstata com HPB
Importante: A presença de HPB não significa que o paciente desenvolverá cancro de próstata no futuro!
6.2.1 - Epidemiologia
O autor BRESCHI cit in www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline/prostata.htm afirma que embora os homens sejam certamente susceptíveis à irritação e à infecção em qualquer idade, o aumento da próstata, ou hiperplasia prostática benigna (HPB), normalmente ocorre em 75% dos homens com mais de 50 anos, provocando problemas com a micção.
De acordo com o site www.uro.com.br/hpb.htm foram feitas pesquisas na região central da Escócia, que mostra a prevalência da HPB na população masculina é:
IDADE | TAXA DE HPB |
| 40 - 49 anos | 14% |
| 50 - 59 anos | 24% |
| 60 - 69 anos | 43% |
| 70 - 79 anos | 40% |
Quadro 7, Fonte: www.uro.com.br/hpb.htm
Outros estudos apresentados no site www.herbarium.com.br/saude/saude_interna_prostatal.htm revelam que após os 60 anos, a Hiperplasia Prostática Benigna possa atingir 80% dos homens, e no mínimo 50% dos homens acima dos 45 anos já desenvolvem algum aumento da próstata, acompanhado de sintomas ou não. Mas a partir dos 35 anos já é possível verificar um início do crescimento microscópico benigno da próstata, o denominado Adenoma Prostático.
6.2.2 - Fisiopatologia
Segundo CASSMEYER [et al] (1995, p.401), o desequilíbrio hormonal cria um aumento, adenomatoso, da glândula, com hipercrescimento de músculo liso e tecido conjuntivo. As alterações podem causar vários problemas urinários. A compressão da uretra faz com que ela se alongue, e o fluxo urinário fica obstruído. O músculo vesical torna-se mais espesso e as trabéculas da parede criam bolsas de retenção urinária. A bexiga apresenta tónus diminuído e tem dificuldade em esvaziar-se, completamente, na micção. A estase da urina residual cria um meio alcalino, que favorece o desenvolvimento de bactérias. Os sintomas incluem menor fluxo de urina, esforço para urinar retenção urinária. Os sintomas de irritação podem incluir disúria, nictúria, urgência e hematúria.
É interessante que a composição da próstata inclui grandes quantidades de tecido glandular e principalmente o que se chama "estroma", entremeado de tecido muscular liso.
| Normal - 2 : 1 | Esta relação mostra que normalmente há duas vezes mais tecido muscular do que glandular na próstata |
| HPB - 5 : 1 | Em homens com HPB passa haver cinco vezes mais tecido muscular do que glandular na próstata |
Esta informação é necessária diante do facto de que esse tecido muscular se contrai por acção de uma hormona (noradrenalina), agravando o efeito compressor da próstata sobre a uretra.
Assim, quando se bloqueia a actividade da noradrenalina, pode-se obter alívio dos sintomas urinários associados ao crescimento anormal da próstata.
É interessante notar que nem sempre o volume da próstata corresponde à gravidade dos sintomas. Há pacientes com próstatas pouco aumentadas, mas com sintomatologia acentuada e vice-versa. Daí a importância do exame urológico bem-feito, incluindo sempre toque rectal.
Há pacientes com próstatas pouco aumentadas, mas com sintomatologia acentuada e vice-versa. Daí a importância do exame urológico bem-feito, incluindo sempre toque rectal.
6.2.3 – Diagnóstico
o Sinais e sintomas
Para PETROIANU e PIMENTA (1999, p.434), a instalação do quadro clinico frequentemente ocorre de forma lenta, embora, em alguns casos, possa ocorrer um episódio inesperado de retenção aguda de urina. Quando ocorre uma retenção aguda, sem sintomas significativos prévios, deve saber-se se o utente não utilizou simpaticomiméticos ou outras drogas que possam ter provocado uma contracção exagerada da musculatura lisa prostática ou relaxamento do detrusor. Também processos inflamatórios ou de congestão prostática causados por infecções, excesso sexual, uso de condimentos ou bebidas alcoólicas, ou estar sentado por muitas horas, podem constituir causa de retenção aguda de urina que merecem apenas tratamento conservador.
Os mesmos autores defendem que o utente com HPB manifesta:
o Sensação de bexiga cheia mesmo após terminar de urinar;
o Necessidade de voltar a urinar em curtos espaços de tempo;
o O jacto urinário pára e recomeça, pára e recomeça;
o Dificuldade de conter a urina;
o Necessidade de fazer força para começar a urinar;
o Necessidade de levantar várias vezes à noite para urinar;
o Desconforto suprapúbico.
Uma avaliação mais objectiva dos sintomas foi realizada na forma de questionário, tentando quantificar a intensidade com que ocorrem num utente com HPB (quadro 8). Este questionário tem sido usado universalmente e tomou a sigla de IPSS (Internacional Prostate Score Symptoms).
SCORE INTERNACIONAL DE SINTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS)
| Nenhuma Vez | Menos de 1 vez em cada 3 | Menos que a metade das vezes | Cerca da metade das vezes | Mais que a metade das vezes | Quase sempre | Valor obtido | ||||
| 1. No último mês, quantas vezes ficou com a sensação de não esvaziar completamente a bexiga após urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2. No último mês, quantas vezes teve que urinar novamente antes de 2 horas depois de urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 3. No último mês, quantas vezes teve o jacto urinário interrompido várias vezes enquanto urinava? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4. No último mês, quantas vezes teve dificuldade em controlar e evitar o desejo de urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 5. No último mês, quantas vezes teve o jacto urinário fraco? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6. No último mês quantas vezes teve que fazer força para iniciar o acto de urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 7. No último mês, quantas vezes, em média, teve que se levantar da cama à noite para urinar? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| SCORE TOTAL DE SINTOMAS | SOMA = | |||||||||
Quadro 8, Fonte: www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline/ed0999/prostata.htm
| INTERPRETAÇÃO |
| Total de Pontos | Significado Clínico |
| 0 – 7 8 – 19 > 20 | Quadro favorável Avaliação médica recomendável Tratamento necessário |
Quadro 9, Fonte: www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline/ed0999/prostata.htm
o Exame físico
Para PETROIANU e PIMENTA (ano, p.436), o exame físico pode demonstrar alguns dados muito importantes para o diagnóstico de HPB.
O exame físico da próstata faz-se através do toque digital transrectal e estes autores defendem que deve ter-se em conta:
o Tonicidade do esfíncter anal;
o Consistência prostática; superfície prostática;
o Análise dos contornos da próstata, dos sulcos laterais e mediano;
o Grau de sensibilidade sentida pelo utente durante o toque;
o Mobilidade da próstata;
o Temperatura da próstata.
Um toque rectal feito para o diagnóstico de HPB vai revelar:
o Esfíncter anal de tonicidade preservada;
o Próstata de tamanho aumentado (1 a 4 vezes o tamanho de uma noz);
o Superfície lisa;
o Consistência fibro-cartilaginosa;
o Contornos nítidos, móvel e indolor;
o Temperatura normal.
A próstata pode ser examinada através de diversos métodos de imagem tais como:
o Exame radiográfico;
o Ultra-sonografia;
o Tomografia computorizada;
o Ressonância nuclear magnética.
Algumas doenças podem causar sinais e sintomas que possam levar a pensar estarmos perante uma HPB, daí a importância de um diagnóstico diferencial. As mais frequentes são:
o Estenose da uretra;
o Esclerose do colo vesical;
o Adenocarcinoma da próstata;
o Cálculo vesical;
o Bexiga neurogénica;
o Prostatite aguda;
o Cálculo uretral.
6.2.4 - Tratamento médico
Segundo MIGUEL SROUGI cit in www.unifesp.br/dcir/urologia/uronline//prostata.htm, o tratamento da hiperplasia benigna da próstata somente deve ser instituído quando os sintomas urinários são proeminentes. A existência de manifestações discretas e toleráveis não justifica a realização de qualquer tratamento, mesmo quando a próstata apresenta aumento significativo de tamanho. Certos especialistas, muitas vezes por excesso de zelo, algumas vezes por outro tipo de excesso, costumam indicar a remoção cirúrgica da glândula sempre que ela está aumentada, com o argumento de que estariam prevenindo problemas futuros. O mesmo autor defende que esta posição é inconsistente, já que actualmente as intervenções prostáticas podem ser realizadas com segurança em homens de qualquer idade. Além do mais, não existiriam filas, hospitais e dinheiro suficientes, se todos os homens com crescimento assintomático da próstata passassem a ser tratados com medicações ou cirurgia.
A HBP é diagnosticada, como referimos anteriormente a partir dos seus sintomas clássicos e do exame rectal, que revelará próstata dilatada uniformemente. Pode usar-se citoscopia, para observação directa do revestimento da bexiga e para excluir a presença de contracção, cálculos, e doença maligna, especialmente registando-se hematúria.
A terapêutica comum envolve cirurgia, mas há outras alternativas a ser objecto de investigação. Está, presentemente, a empregar-se farmacoterapia com Finasterida (Proscar), um fármaco que inibe a actividade da 5-alfa-reductase, prevenindo, assim, a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Aquele fármaco reduz a próstata, por vários meses, mas ainda não se conhece bem a sua eficácia a longo prazo. Também a dilatação com balão e a ressecção com laser estão a ser investigados.
De acordo com PETROIANU e PIMENTA (1999, p.442), a ressecção transuretral da próstata (RTUP) é responsável por 95% das cirurgias da próstata. Sendo assim, abordaremos este tipo de cirurgia endoscópica da próstata, com os devidos cuidados de enfermagem.
Para PHIPPS, CASSMEYER, SANDS e LEHMAN (1995, p.401), a RTUP é usada, especialmente quando a dilatação glandular, major, se localiza no lobo médio que rodeia a uretra. Introduz-se pela uretra um ressectoscópio com uma alça de corte e cauterização. Cortam-se pequenos pedaços de tecido, cauterizando-se os pontos de hemorragia. A bexiga e a uretra são, continuamente, irrigadas, durante o procedimento. A RTUP pode ser feita com o doente sob anestesia geral ou raquidiana. Muitos doentes permanecem sem sintomas durante 8 a 10 anos após o procedimento, depois do que pode ser necessário novo tratamento.
Geralmente, depois da cirurgia, usa-se uma sonda vesical Foley, de 3 vias, com irrigação contínua da bexiga. A sonda de Foley de grande calibre facilita a remoção de coágulos e estabiliza a uretra. O balão de 30 ml é posicionado no colo da bexiga, de modo a exercer pressão na área operatória e controlar a hemorragia. Pode aplicar-se tracção, prendendo a sonda á região pélvica ou coxa. A pressão sobre o esfíncter interno da bexiga pode provocar urgência urinária ou espasmos da bexiga. Estes problemas diminuem de intensidade nas primeiras 24h. Continua-se com a irrigação durante cerca de 24h, depois remove-se a sonda e é dada alta ao doente, uma vez restabelecida a micção espontânea.
6.2.5 - Cuidados de enfermagem de um doente com HPB submetido a ressecção transuretral da próstata:
- Manter uma irrigação da bexiga contínua e livre, quando usada (geralmente, nas primeiras 24h):
- A solução deve correr com velocidade suficiente para manter a drenagem urinária com uma cor rosa clara;
- Observar, cuidadosamente, se há formação de coágulos;
- Manter registos, rigorosos, da ingestão e da eliminação;
- Manter a tracção sobre a sonda vesical, como prescrito;
- Controlar, frequentemente, os sinais vitais.
-
o Ensinar, ao doente que o balão da sonda vesical com 30 ml desencadeia constante urgência urinária e espasmos da bexiga.
o Administrar os analgésicos e antiespasmódicos, necessários (beladona e ópio).
o Irrigar a sonda vesical manualmente, se prescrito.
o Encorajar a ingestão liberal de líquidos pela boca, salvo contra-indicação.
o Evitar usar termómetro, ou sonda rectal ou fazer enemas.
o Prestar cuidados rigorosos de assepsia á sonda vesical, ou ensinar o doente a fazê-lo. Observar, cuidadosamente, para despistar sinais de il1fecção.
o Avaliar a capacidade de iniciar a micção e de esvaziar a bexiga, após a remoção da sonda vesical.
o Ensinar, ao doente, exercícios perineais para ajudar o retorno total do controlo urinário. A polaquiúria é um problema passageiro, frequente.
o Avaliar o doente quanto a sintomas de hipertensão, bradicardia, e confusão, que poderão indicar intoxicação por água e hiponatrémia, pela irrigação.
o Encorajar o doente a expressar as suas preocupações sobre a cirurgia, e o seu impacto na sexualidade.
o Proporcionar as informações necessárias, nomeadamente:
- A RTUP não afecta o funcionamento sexual, mas pode causar esterilidade.
- Ocorrerão ejaculações retrógradas, e a urina pode apresentar aspecto leitoso.
o Evitar relações sexuais 4-6 semanas após a cirurgia.
o Ensinar ao doente os cuidados após a alta.
- O doente deve abster-se de levantar pesos, fazer exercícios violentos, conduzir veículos, e de actividade sexual durante 3-6 semanas.
- Encorajar a deambulação.
- O doente deve usar emolientes de fezes, para evitar esforços e manobras de Valsalva.
- O doente deve beber bastantes líquidos (pelo menos 2,5l).
- O doente deve contactar com o médico, se se verificarem hematúria ou sinais de infecção ou cistite. É possível que volte a ocorrer hemorragia passadas 2 semanas.
6.2.6 - Prognóstico
De acordo com PETROIANU e PIMENTA (1999, p.446), a hiperplasia benigna da próstata é um processo pouco agressivo que tem, modernamente, uma evolução favorável. No início do século, tratava-se de doença que cursava com formação de cálculos vesicais, infecções urinárias graves, retenção crónica de urina, hidronefrose e morte por insuficiência renal ou por quadro séptico. Actualmente, é uma doença cuja etiologia ainda é mal compreendida.
o SABIA QUE:
o Actualmente na Europa, medicamentos formulados com plantas medicinais são amplamente utilizados no tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata, sendo que na Alemanha o índice de uso desta terapia é de 90% dos casos. Na Itália também é de grande difusão e 49% dos tratamentos são fitoterápicos.
o O óleo da semente de Saw Palmetto (Serenoa repens), uma palmeira \nativa da costa atlântica dos Estados Unidos, tem-se destacado no uso para o tratamento dos problemas da próstata, fazendo parte inclusivé, da Farmacopédia Oficial dos Estados Unidos. Historicamente, os índios americanos já utilizavam o Saw Palmetto no tratamento de distúrbios urinários e também como um tónico nutricional.
o O Saw Palmetto apresenta importante efeito no metabolismo hormonal masculino, reduzindo os efeitos causados pelas alterações da testosterona e de seus derivados, sendo esta uma das causas da Hiperplasia Benigna da Próstata. Actua também desinchando a próstata, reduzindo assim a fase inflamatória do quadro.
o As sementes de abóbora, planta amplamente cultivada em regiões de clima quente e temperado, têm sido utilizadas desde tempos remotos na medicina tradicional para a hipertrofia da glândula prostática.
o Uma dieta e um estilo de vida saudáveis contribuem para amenizar os sintomas de HPB. Por isso procure: ingerir frutas e vegetais frescos, consumir bastante água, ingerir alimentos à base de soja, evitar comer alimentos com excesso de gorduras saturadas, evitar fumo, diminuir o consumo de álcool, manter o nível de stress sob controle.
o Foram feitas recentemente pesquisas realizadas em Honolulu, no Havaí e em Rhode Island, nos Estados Unidos, que demonstraram que os riscos de uma cirurgia de próstata são 50% menores nos homens que ingerem diariamente um copo de vinho ou três copos de cerveja, quando comparados aos indivíduos sem estes hábitos.
o Um outro estudo do Dr. Edward Giovannucci, da Universidade de Harvard, demonstrou que homens que realizam 3 horas de exercícios físicos semanais tem menos sintomas atribuíveis ao crescimento da próstata.
o Foi realizado um estudo na Universidade de Queens, no Canadá, com o objectivo de avaliar a eficiência do tratamento medicamentoso da hiperplasia prostática, relacionando este com impotência sexual Um dos grupos de pacientes recebeu cápsulas que simulavam a medicação mas que continham apenas farinha. No final 6,3% deles queixaram-se de impotência. É óbvio que factores psicológicos e, talvez, uma certa propensão, desencadearam a disfunção sexual nestes casos e isto pode também ocorrer quando se institui qualquer tratamento para o crescimento benigno da próstata, incluindo a cirurgia.
o Dados estatísticos revelam-nos que 10% dos indivíduos do sexo masculino, que vivem até aos 80 anos, vão precisar de uma, ou outra, forma de tratamento para corrigir os sintomas da HBP.
o Estatísticas publicadas pela Organização Mundial da Saúde indicam que em 1996 gastou-se no mundo 280 milhões de dólares com medicações para tratar o problema.
o Nos Estados Unidos, onde existem cerca de 30 milhões de homens com mais de 50 anos de idade, são dispendidos 2 bilhões de dólares a cada ano para o diagnóstico e tratamento do crescimento benigno da próstata, quase 20% do total de dinheiro destinado à Saúde anualmente em nosso país.
6.3 - Carcinoma da próstata
Segundo PETROIANU e PIMENTA (1999, p.447), ainda não foi determinado como e porquê o cancro da próstata ocorre. Algumas hipóteses são levantadas acerca dos factores possivelmente desencadeantes. Os mais significativos são:
o Factor hormonal: quando se iniciaram os estudos acerca deste tipo de cancro foram feitos testes a eunucos (homens castrados antes da adolescência) e verificou-se que não desenvolviam hipertrofia benigna ou neoplasia maligna da próstata. Pensou-se que estaria relacionado com a presença em maior ou menor quantidade da hormona masculina (testosterona). Pode ser observado que o crescimento anómalo da próstata ocorre numa faixa etária mais avançada, onde se espera e se verifica que a quantidade de hormonas são mais modestas e às vezes inferiores ao desejável. Optou-se então pela hipótese de que alterações hormonais pudessem desencadear um crescimento anómalo da glândula. Não se conseguiu provar que a quantidade de hormonas no sangue fosse causadora de carcinoma da próstata, no entanto uma vez existente, o tumor pode ser estimulado por essas hormonas. Verificou-se que a suspensão da actuação das hormonas podia inibir o crescimento tumoral e melhorar sintomaticamente os pacientes.
o Factor hereditário: assim como noutros tipos de neoplasias, verifica-se que existe uma grande influência da carga genética, não sendo incomum encontrar-mos vários casos de cancro da próstata numa mesma família quando fazemos uma análise das suas gerações. Alguns factores genéticos estão cada vez mais relacionados coma incidência do aparecimento do carcinoma prostático.
o Factor infeccioso: tem sido constatada a presença de partículas virais em células neoplásicas prostáticas, embora este achado não seja muito constante.
o Factor alimentar: embora seja um factor bastante discutível, parece que este factor pode ter alguma influência sobre o aparecimento e a comportamento do carcinoma da próstata. Dietas ricas em gorduras influenciam o metabolismo hormonal e podem agir indirectamente, favorecendo o desenvolvimento do cancro da próstata. Há um aumento de incidência deste tumor no Japão, e isto parece estar associado a uma ocidentalização dos hábitos alimentares.
6.3.1 - Epidemiologia
Para PETROIANU e PIMENTA (1999, p.447), o cancro da próstata é responsável por cerca de 19% das neoplasias malignas que acometem o sexo masculino. Das mortes provocadas por cancro 10% são de origem prostática.
Com o aumento do número de consultas e exames urológicas rotineiras há uma tendência natural, de nestes próximos anos o número de novos casos de cancro decrescer.
Embora possa ocorrer o aparecimento deste tipo de cancro em indivíduos jovens, é relativamente raro em indivíduos entre 40 e 60 anos. A partir daí há um aumento gradual da sua incidência. Cerca de 10 a 30% dos homens de 50 anos têm cancro de próstata, porém apenas 8% destes vão ter doença clinicamente significante. Cerca de 60% dos homens acima dos oitenta anos sofrem deste cancro, o que não quer dizer que tenham a doença em actividade ou que caminhem para a morte por este motivo. Na verdade apenas 5% vão morrer em virtude da neoplasia prostática.
De acordo com CASSMEYER, LEHMAN, PHIPPS e SANDS (1995, p.403), os afro-americanos têm a maior taxa de incidência do mundo. A idade é o factor de risco mais claramente identificado, juntamente com as alterações hormonais associadas ao envelhecimento.
6.3.2 - Fisiopatologia
De acordo com CASSMEYER, LEHMAN, PHIPPS e SANDS (1995, p.404), o cancro da próstata começa, muitas vezes, numa área de atrofia senil da glândula, e ocupa-a muitos tumores são adenossarcomas e começam como discretos nódulos, duros e localizados, nas regiões periférica ou exterior da glândula. Raramente existem sintomas urinários no início da doença, já que a neoformação está geralmente localizada na porção externa da glândula. A maioria dos homens apresentam-se com doença localizada, mas o tumor pode metastizar pelo sangue e linfa, até zonas distantes, sendo o mais comum o envolvimento ósseo. O tumor pode ser de crescimento extremamente lento ou muito agressivo.
6.3.3 - Sintomas
“O doente com cancro da próstata apresenta sinais e sintomas decorrentes do processo tumoral localizado ou suas metástases” (PETROIANU e PIMENTA 1999, p.450).
A neoplasia, em decorrência do seu crescimento, pode obstruir parcial ou totalmente a uretra e o colo vesical, repercutindo-se, deste modo, sobre a fisiologia miccional ou então se comprometimento mais grave, afectar a drenagem dos rins.
Os sinais e sintomas mais frequentes são:
- Disúria;
- Polaquiúria;
- Nictúria;
- Urgência miccional;
- Incontinência urinária paradoxal;
- Desconforto suprapúbico;
- Gotejamento urinário prolongado;
- Diminuição do calibre e da força do jacto urinário;
- Demora do esvaziamento da bexiga;
- Retenção urinária;
- Hematúria.
Se já existirem metástases iram ocorrer sinais e sintomas relativos aos locais mais afectados.
6.3.4 - Histopatologia e estadio
Segundo PETROIANU e PIMENTA (1999, p.448) os tumores malignos da próstata podem dividir-se em adenocarcinoma, sarcoma, carcinoma epidermóide. De acordo com o sistema TNM, são avaliados separadamente o tumor (T), os nódulos linfáticos (N) e as metástases (M).
- T – tumor primário
- Tx – quando não foi possível avaliar o tumor primário
- T0 – sem evidência de tumor
- T1 – tumor achado incidentalmente (positivo)
- T2 – tumor na glândula
- T2a – nódulo <1,5 cm
- T2b – nódulo> 1,5 cm ou bilateral
o T3 – tumor para fora da glândula, ou invadindo bexiga ou vesícula seminal.
o T4 – tumor para fora da glândula, fixo, invadindo outras estruturas pélvicas.
o N – linfonodos
o Nx – linfonodos não avaliados
o N0 – sem linfonodos comprometidos
o N1 – um linfonodo positivo <2 cm
o N2 – vários linfonodos positivos <5 cm
o N3 – linfonodos positivos> 5 cm
o M – metástase à distância
o Mx – metástase não avaliada
o M0 – ausência de metástases
o M1 – metástases presentes
O estadiamento do tumor prostático é importante, pois vai possibilitar planear o tratamento.
6.3.5 - Tratamento
O tratamento do cancro da próstata tem sido muito discutido e é objecto de controvérsia. PETROIANU e PIMENTA (1999, p.457) resumem as possibilidades de tratamento admitindo podendo dividir-se em duas vertentes distintas. A primeira consiste na terapia da doença localizada e a segunda, na terapia da doença disseminada. Portanto, o tipo de tratamento a ser escolhido depende de forma importante do grau em que se encontra o tumor no momento do seu diagnóstico. Resumidamente o tratamento baseia-se em hormonoterapia e em intervenção cirúrgica associado a tratamento radioterápico.
6.3.6 - Prognóstico
“O prognóstico do adenocarcinoma da próstata, embora impreciso, é estatisticamente previsível, se considerarmos vários factores na sua avaliação” (PETROIANU e PIMENTA 1999, p.456). Através dos diferentes exames realizados é possível distinguir se estamos perante uma neoplasia agressiva.
A presença de metástases diagnosticadas, indica doença grave com um prognóstico sombrio.
6.3.7 – Prevenção
- O que é prevenção de um tipo de cancro?
Prevenir o aparecimento de um tipo de cancro é diminuir as hipóteses de que uma pessoa desenvolva essa doença. Normalmente, isso faz-se através de acções que a afastem de factores que propiciem o desarranjo celular que acontece nos estágios mais iniciais da doença, quando apenas algumas agressões que podem transformá-las em malignas. São os chamados factores de risco.
Além disso, outra forma de prevenir o aparecimento de cancro é promover acções sabidamente benéficas à saúde como um todo e que, por motivos muitas vezes desconhecidos, estão menos associadas ao aparecimento desses tumores.
Nem todos os cancros têm esses factores de risco e de protecção identificados e, entre os já reconhecidamente envolvidos, nem todos podem ser facilmente modificáveis, como a herança genética (história familiar), por exemplo.
- Como se faz a prevenção do cancro da próstata?
O cancro da próstata, como a maioria dos tipos de cancro, tem factores de risco identificáveis. Alguns desses factores de risco são modificáveis, ou seja, pode alterar-se a exposição que cada pessoa tem a esse determinado factor, diminuindo a sua possibilidade de desenvolver esse tipo de cancro.
Há também os factores de protecção. Ou seja, factores a que a pessoa está exposta e a sua possibilidade de desenvolver esse tipo de cancro diminui.
Os factores de risco e protecção para o cancro da próstata mais conhecidos e que podem ser modificados são:
o Idade
O cancro da próstata é pouco comum em homens de 50 anos ou menos. Porém depois dessa idade torna-se mais comum a cada década que passa. Por isso, fazer exames de detecção precoce após essa idade é importante.
Quanto mais precocemente se diagnostica um tumor, maiores são as possibilidades de cura.
Os exames mais comumente realizados para se detectar esse tipo de cancro, precocemente ou não, são o toque rectal, o exame de ultra-sonografia transrectal e o exame de antigeno prostático-especifico.
o Dieta
Uma dieta pobre em gordura, principalmente de origem animal, e rica em frutas, legumes e verduras parece estar associada a uma diminuição no risco para esse tipo de cancro. Algumas substâncias têm sido apontadas como responsáveis por esse factor de protecção. Os estudos com Vitamina E, Vitamina D, Selenium e Lycopene (este último presente nos tomates) na sua forma natural ou como suplemento dietético são os mais consistentes em demonstrar essa associação. Entretanto ainda há controvérsias sobre a real capacidade dessas substâncias em diminuir a mortalidade associada a esse tipo de cancro, além de não se ter esclarecido a forma e a quantidade em que estas substâncias se tornam especificamente benéficas.
o História Familiar
Quinze por cento (15%) dos homens que têm cancro de próstata têm um familiar de primeiro grau com esta doença. Por isso, ter pai, irmão ou filho com esse tipo de tumor é indicação para fazer um seguimento mais cuidadoso com o objectivo de detectar precocemente esse tumor, assim como com o passar da idade.
o Raça
Nos EUA, os homens negros têm mais cancro da próstata que homens brancos, e mais que homens de origem oriental. Aparentemente, essa diferença racial dá-se pelos níveis de testosterona circulante em cada raça. Porém, outros factores que podem estar distribuídos de forma diferente nas raças podem ser responsáveis por essa diferença na distribuição desse tipo de cancro. De qualquer forma, homens da raça negra devem dar uma atenção especial para esse risco elevado e fazer os exames de detecção precoce rotineiramente.
o Prevenção com o uso de hormonas
Vários estudos estão a ser feitos para se definir o valor do uso de hormonas que se opõem à acção da testosterona com o objectivo de diminuir as hipóteses de se desenvolver esse tipo de cancro. Esse tratamento seria utilizado naquele grupo de homens com risco muito aumentado. Nenhuma conclusão se obteve até ao momento.
6.3.8 - Cuidados de Enfermagem (em caso de cirurgia)
Ensino sobre cirurgia planeada:
- Fazer a preparação intestinal do pré-operatório;
- Prestar os cuidados de rotina para a incisão perianal;
- Controlar para despistar fugas de urina, hemorragia ou sinais de infecção;
- Evitar usar sondas rectais, termómetros rectais e supositórios duros;
- Controlar a permeabilidade de todos os drenos e avaliar a quantidade e tipo de drenagem;
- Colocar o doente em posição confortável e utilizar almofadas quando ele se senta fira da cama. Colocar uma ligadura perineal ou cuecas de suporte, para ajudar a manter os pensos no lugar;
- Vigiar permeabilidade da sonda vesical e se há sinais de hemorragia;
- Observar se há sinais de infecção.
Promoção da função sexual
Fornecer ao doente informações rigorosas sobre o funcionamento sexual:
o 90% dos doentes submetidos a cirurgias que poupam os nervos passado um ano voltam a ser potentes;
o Os efeitos da radioterapia são muitas vezes permanentes;
o Encorajar o doente a explorara a actividade sexual, sem o acto, e a verbalizar os seus sentimentos e preocupações;
o Esclarecer ao doente que a esterilidade é um resultado permanente da cirurgia;
o Fornecer ao doente informações sobre abordagens de recuperação, para superar a impotência fisiológica;
o Encorajar o doente a expressar o luto por perdas e a sua preocupação com o futuro.
6.4 - Tumor do testículo
De acordo com MURAD e KATZ (1996, p.228), o carcinoma do testículo é um tumor relativamente raro, representando apenas 1% dos tumores malignos do sexo masculino, no entanto é a neoplasia mais frequente entre os 20 e os 40 anos.
Para WOODS [et al] (1995), na totalidade, o tumor testicular é relativamente raro, afectando apenas 2 a 3 homens em cada 100000, mas com tendência a aumentar.
6.4.1 - Etiologia e factores de risco
Segundo OTTO (1997, p.188 e 189) a etiologia do cancro do testículo é desconhecida, mas algumas condições estão associadas com acrescida incidência desta malignidade. Os tumores testiculares ocorrem, especificamente, com mais frequência num testículo atrófico ou numa criptorquidia, ou seja, incapacidade do testículo de descer na altura do nascimento. Para o mesmo autor, a frequência de subsequente desenvolvimento do carcinoma num testículo ascendente é 40 vezes maior do que num testículo normal. A arquiopéxia, a descida cirúrgica do testículo, até à idade dos dois anos, pode diminuir a probabilidade de desenvolvimento do tumor testicular.
De acordo com WOODS [et al] (1995) os factores ambientais também são tomados em consideração, uma vez que existe uma maior incidência de cancro testicular em zonas rurais do que em zonas urbanas. As causas congénitas implicadas são a predisposição familiar, anormalidades do desenvolvimento das gónadas e criptorquidia.
Há ainda um conjunto de factores de risco que poderão estar directamente relacionados com o aparecimento de massa tumoral testicular, como sendo a história familiar, já que homens com história familiar de cancro no testículo podem ter o risco aumentado para a doença. Também as condições hereditárias, ou seja, homens que nasceram com disgenesia gonadal ou Síndrome de klinefelter, como a raça, sendo mais predominante na raça branca e a história pessoal, serão potenciais factores de risco para o aparecimento da doença.
“Os tumores testiculares têm algumas características que favorecem um tratamento com sucesso. Os homens que tiveram testículo ascendente encontram-se em maior risco de desenvolvimento de cancro do que os homens que cujos testículos desceram até ao escroto.” (OTTO, 1997, p.189).
6.4.2 - Epidemiologia
Para OTTO (1997, p.188), o cancro testicular é uma doença relativamente pouco comum, com um número estimado de três mil casos por ano. Causa um forte impacto emocional, porque ocorre durante o apogeu etário da maioria dos doentes. O tumor testicular representa um dos carcinomas sólidos com maior probabilidade de cura, servindo como paradigma no tratamento multimodal dos tumores sólidos.
“O cancro testicular encontra-se muitas vezes na infância, entre os 20 e 40 anos de idade, e em idades superiores aos 60 anos. Se o cancro testicular não for tratado, a morte advém em 2 a 3 anos. Se for detectado e tratado precocemente, há 90% a 100% de probabilidade de cura.” (WOODS [et al] 1995, p.1702).
Refere OTTO (1997, p.188), que o aumento da sobrevida é obtido pela combinação de técnicas de diagnóstico efectivas, aperfeiçoamento nos marcadores tumorais, protocolos efectivos de poliquimioterapia e avanço nas técnicas cirúrgicas. O contributo destas técnicas tem permitido o declínio significativo da morbilidade e da mortalidade neste quadro clínico.
6.4.3 - Quadro clínico
“A apresentação clássica de um tumor testicular é um testículo duro e aumentado sendo identificado acidentalmente pelo doente ou pelo parceiro sexual. Isto é descrito pela massa de dureza do testículo, com uma opressão ocasional ou entorpecimento e sensação dolorosa do abdómen inferior no escroto. A dor aguda é um sintoma presente em 10% dos doentes. Por vezes a infertilidade é a única queixa presente.” (OTTO 1997, p.190).
WOODS [et al] (1995, p.1703), consideram que poderão aparecer outros sintomas como uma sensação de peso ou retracção no escroto, uma dor aguda na região infra-abdominal ou região inguinal e ocasionalmente dores. Um testículo pequeno ou atrofiado poderá atingir o tamanho normal.
Para OTTO (1997, p.190), em muitas ocasiões o diagnóstico do carcinoma nos testículos é feito muito tarde, devido à relutância do indivíduo em procurar o médico apenas pela sensação de mal-estar testicular ou porque o médico refere que a massa escrotal representa um processo infeccioso ou inflamatório. Observa-se, por vezes, história de traumatismos, parotidite, orquite ou dor testicular pontual.
Segundo OTTO (1997, p.190) a avaliação médica deve passar por papação testicular e das estruturas circundantes à procura de uma massa escrotal, examinar as mamas, lesões intra-escrotais translúcidas e realizar o exame abdominal, para localizar massa palpável, assim como a região supraclavicular, axilar e inguinal, para detecção de adenopatias.
Os estádios de classificação testicular são:
o Estadio I – sem metástases, localizada no testículo;
o Estadio II – metástases nos gânglios linfáticos retroperitoneais ou nas áreas subdiafragmáticas;
o Estadio III – metástases nos gânglios mediastínicos e supraclaviculares ou outras áreas acima do diafragma.
O diagnóstico clínico deste carcinoma, baseia-se nos sintomas e sinais clínicos.
“A determinação do estadio desses tumores na fase de pré-tratamento tem grande importância na escolha do tratamento correcto.” (SMITH 1985, p.305). No que diz respeito ao tratamento, este poderá ser feito através de:
o Orquidectomia;
o Dissecação dos nódulos linfáticos retroperintoneais;
o Quimioterapia;
o Radioterapia.
6.4.4 - Classificação
“Cerca de 97% do total dos tumores testiculares são tumores de células germinativas, originados nas principais células, essenciais à espermatogénese. O cancro do testículo é geralmente dividido em dois grupos: uma forma pura – seminoma; e uma mistura de diferentes tipos de células – não seminoma.” (OTTO 1997, p.191).
Como nos diz SMITH (1985, p.308), existe ainda outro tipo de classificação, respeitante aos tumores de células não-germinativas, que podem ser: 1 - tumor de células intersticiais (células de Laydig) – a orquiectomia radical geralmente é suficiente para a forma benigna; 2 - tumor de células de Sertoli – raramente malignos, de modo que se indica somente orquidectomia; 3 – linfoma e sarcoma de células reticulares.
6.4.5 - Cuidados de enfermagem
Os cuidados de Enfermagem prestados a um doente com neoplasia do testículo devem ao encontro das necessidades biológicas e psicossociais dos doentes. Deve o enfermeiro: 1 - Identificar as carências tanto a nível físico como psicológico; 2 - Apoiar o doente em todas as fases do internamento e explicar alguns dos procedimentos a empregar; 3 - Apostar directamente no estabelecimento de um relacionamento empático com o doente, de forma a que este possa expressar os seus sentimentos e ansiedade; 4 - Fazer entender ao doente e familiares que as suas reacções são normais; 5 - Compreender especificamente as reacções do doente e família perante a patologia; 6 - Integrar a família em todo o processo patológico.
O doente oncológico não é apenas um indivíduo com o corpo doente, mas é também uma pessoa, uma mente que pensa, que tem atitudes, capacidades, interesses, instintos, sonhos e esperanças que afectam e são afectadas pelo seu estado físico. A actuação do enfermeiro mais uma vez recai sobre esses aspectos, de forma a diminuir este tipo de sintomatologia.
O doente oncológico para além da diminuição da saúde e integridade física, experimenta ainda fenómenos como: 1 - Perda da capacidade de realizar actividades de vida diária; 2 - Perda de convicções religiosas; 3 - Perda ou separação dos amigos e/ou entes queridos; 4 - Perda da autoestima.
Deve o enfermeiro ter a capacidade de avaliação do doente através de uma visão holística e ao mesmo tempo imputar-lhe responsabilidades no sentido de integração e participação na conquista do seu melhor estado de saúde.
6.4.6 - Prevenção
“O auto-exame do testículo regular é recomendado, para detectar o cancro nas suas fases precoces, quando tem mais probabilidades de ser localizado e é curável na maior parte dos casos.” (WOODS [et al] 1995, p.1702).
Fig. Nº 14 – auto-exame do testículo – Enfermagem Oncológica – OTTO, 2000, p.189
Afirmou WOODS [et al] (1995, p.1703), que após o banho de imersão ou chuveiro, será a melhor altura para a realização do exame, visto que o escroto encontra-se mais relaxado. Examina-se cada testículo separadamente, segurando-o com o polegar entre os restantes dedos de ambas as mãos. O testículo deverá ser liso, oval e firme à palpação, sem quaisquer nódulos. O epidídimo encontra-se entre os testículos e parece um tubo macio. A sensibilidade deverá ser igual em todo o lado, ou seja, qualquer massa papável deve ser um sinal de alerta.
Cada indivíduo deverá conhecer-se no sentido de detectar precocemente qualquer tipo de nódulos ou anomalias. A maior parte dos cancros testiculares (9 em cada 10) são detectados pelo doente ou pela parceira sexual.
6.5 - Cancro do ovário
Para Seeley [et al] (1997, p. 987), “os ovários são dois pequenos órgão que medem 2 a 3,5 cm de comprimento e 1 a 1,5 cm de largura.”
Os ovários estão situados de cada lado da pelve, ligados ao útero pelas trompas. Resumidamente, podemos dizer que a sua função é produzir estrogénio e progesterona que regem entre muitas outras coisas, o ciclo menstrual da mulher, e produzir e armazenar óvulos (www.abcdasaúde.html.pt). Os ovários são formados por diferentes tipos de células, as quais podem sofrer um processo de malignização e desenvolverem uma neoplasia benigna ou maligna.
Fig15 Fonte: Grande Enciclopédia Médica Saúde da família; esquema do processo de malignização
Segundo PHIPPS [e tal] (1995, p.401) há uma grande variedade de quistos, tumores benignos e malignos, que podem afectar o ovário e no ciclo de vida há certos tipos, que predominam em certos períodos.
“Dos tumores malignos dos ovários, o mais comum é o adenocarcinoma do ovário. As neoplasias do ovário podem crescer muito até produzirem sintomas para a doente, o que faz com que a maioria desses tumores seja diagnosticado quando já estão em estádio avançado. Este é um dos motivos porque este tumor está relacionado com um baixo índice de sobrevivência. (Grande enciclopédia médica saúde DA família, 2003, p.77).
6.5.1 - Epidemiologia
O cancro do ovário pode ocorrer em qualquer faixa etária (incluindo infância e juventude), mas acomete principalmente as mulheres acima dos quarenta anos de idade, tendo o pico máximo de risco entre os cinquenta e os sessenta anos de idade. Este tipo de cancro representa apenas 4 % dos cancros em geral (REIS, 1978, p.112).
E a quarta causa de morte por cancro em mulheres, sendo o mais letal dos tumores ginecológicos, com taxas de sobrevivência de apenas 19 a 39 %. Isto deve-se ao facto de que na maioria dos casos o diagnóstico é tardio, já que são tumores de crescimento insidioso com sintomas também tardios.
6.5.2 - Fisiopatologia
Os quistos e tumores ováricos podem desenvolver-se a partir de diferentes desequilíbrios fisiológicos, incluindo hiperestimulação dos ovários pelas gonadotropinas. Para PHIPPS, CASSMEYER, SANDS E LEHMAN (1995, pag 401) “a dimensão das lesões pode variar entre os poucos milímetros e tamanhos espectaculares que podem ocupar a região pélvica. As lesões cancerosas também podem ser de vários tipos, consoante o tipo de células. Em diferentes idades predominam diferentes tipos histológicos.”
Fig. 16 Grande enciclopédia médica saúde DA família, 2003, p. 77
Pela localização que tem na pelve, os ovários podem aumentar de tamanho 10 a 20 vezes antes de qualquer sintoma.
A patologia dos ovários pode estar relacionada com alterações hormonais, sendo que a maioria dos tumores ováricos não dão sinais de actividade hormonal, havendo outros que produzem excessivas quantidades de hormonas, dependendo do tipo de células que constituem o tumor.
“O exame clínico geralmente falha no diagnóstico de tumores pequenos. As ecografias pélvicas transabdominal e transvaginal permitem o diagnóstico de avaliação destes tumores. Algumas vezes é necessária a realização de tomografia axial computorizada para avaliação mais detalhada do comprometimento de outros órgãos” (www.abcdasaúde.html.pt).
O marcador tumoral relacionado com o tumor do ovário (doseável no sangue) é o CA 125. o exame faz-se através da recolha de sangue, onde é medida a sua concentração. Outro exame realizado é o exame pélvico feito por um médico treinado. Nesse exame é feita uma palpação do colo uterino, do útero, das trompas e dos ovários. Esse exame detecta apenas tumores numa fase mais avançada.
“Alguns estudos estão a avaliar se a combinação do exame da palpação da pelve mais a ultra-sonografia e o doseamento do marcador juntos podem ser utilizados efectivamente na detecção precoce desse tipo de tumor que, quando detectado na sua fase inicial, diminui muito a mortalidade relacionada à sua disseminação e ao tratamento para o seu controlo.
Os resultados desses estudos ainda não estão disponíveis para que se confirme ou rejeite essa estratégia como sendo eficaz na diminuição da mortalidade” (Grande Enciclopédia médica saúde da família, 2003, p.79).
6.5.3 - Sintomas
O quadro clínico é inespecífico, podendo surgir:
o Irregularidades menstruais, se estiver presente desequilíbrio hormonal;
o Dor pélvica;
o Dor abdominal difusa e na região dorso-lombar;
o Anorexia, náuseas
o Obstipação;
o Dispepsia;
o Aumento do volume abdominal;
o Perda de peso.
6.5.4 - Tratamento médico
Segundo PHIPPS [et al] (1995, p.402), o diagnóstico definitivo é por cirurgia, sendo esse também o tratamento permitindo também a classificação da fase em que a doença se encontra. É feita a avaliação da cavidade abdominal e é retirado todo o tumor visível passível de ressecção cirúrgica. A extensão da cirurgia depende fundamentalmente do tipo de tumor, da extensão da doença, da idade da doente e da intenção de preservar a sua fertilidade. Geralmente faz-se histerectomia abdominal, total, com salpingectomia e ooforectomia bilateral.
A maioria dos casos necessita de complementação terapêutica com quimioterapia. A radioterapia e a hormonoterapia também podem complementar o tratamento.
6.5.5. - Cuidados de enfermagem
A acção de Enfermagem no cancro do ovário relaciona-se directamente com a afecção em causa, com o tratamento instituído, com a idade da doente e muito particularmente com a sua personalidade.
Como a cirurgia é o tratamento mais eficaz, a actuação do enfermeiro prende-se essencialmente com o pré e pós-operatório, com especial atenção para o apoio psicológico que deverá ser dado à utente.
Assim no pré-operatório o enfermeiro tem de:
o Explicar, de modo simples, os efeitos da cirurgia no funcionamento sexual e reprodutor;
o Ensinar à doente os cuidados do pós-operatório, incluindo levante precoce, restrições da dieta, cuidados à ferida operatória, controlo da dor;
o Ensinar à utente exercícios de respiração profunda;
o Ensinar exercícios com as pernas e os tornozelos;
o Encorajar a utente a fazer perguntas e expressar preocupações acerca dos efeitos da cirurgia;
o Informar a utente da possibilidade de tratamento quimiterapico (objectivos, em que consiste, mecanismos de acção, duração do tratamento, efeitos secundários);
o No pós-operatório o enfermeiro deve administrar analgésico prescrito, para controlo da dor da sutura operatória;
o Encorajar frequentes mudanças de posição;
o Encorajar levante precoce e deambulação frequente;
o Dar à doente oportunidade para exprimir os seus sentimentos e preocupações;
o Mostrar empatia com os sentimentos de luto, culpa, vergonha e remorso;
o Ensino acerca das actividades que está impedida de realizar e por quanto tempo é os que pode realizar sem qualquer restrição.
Fig. 17 Fonte: Grande Enciclopédia médica saúde da família, 2003, p. 79 – imagem radiológica do aparelho reprodutor Feminino.
6.5.6. - Prevenção do cancro do ovário
Associada à prevenção do cancro do ovário estão os exames de diagnóstico e rastreio, ou seja, a detecção precoce que consiste em procurar um determinado tipo de cancro na sua fase inicial, antes mesmo que ele cause algum tipo de sintoma.
“Algumas pessoas têm mais predisposição para desenvolver este tipo de cancro por causa da sua história familiar, por causa doas doenças que já teve ou por causa dos hábitos que tem, como fumar, consumir bebidas alcoólicas” (Enciclopédia médica saúde e família, 2003, p.76). A isso chama-se factores de risco e as pessoas que têm esses factores pertencem a grupos de risco. Para essas pessoas é indicado um determinado teste ou exame (dependendo da situação), para detecção precoce e com que frequência o teste ou exame deve ser realizado.
O exame dos ovários faz parte do exame ginecológico e pode ser feito através da palpação no exame pélvico, exame do Papanicolau (apesar de analisar características do colo do útero, pode diagnosticar alterações no ovário, já que células malignas do ovário podem exteriorizar-se para o colo uterino). A ultra-sonografia ou ecografia transvaginal também é utilizado, para diagnosticar alterações da forma, tamanho e conteúdo dos ovários.
Existem também factores de protecção, ou seja, factores que se a pessoa está exposta, o seu risco de desenvolver este tipo de cancro diminui (www.abcdasaúde.html.pt).
Os factores de risco e protecção para cancro do ovário mais conhecidos e que podem ser modificados são:
o Dieta – mulheres que ingerem alimentos ricos em gordura animal têm mais risco de desenvolver este tipo de cancro. Mulheres obesas também têm mais probabilidade. Manter-se dentro da faixa de peso ideal, principalmente após a menopausa, comer dieta pobre em gorduras e rica em alimentos de origem vegetal e ingerir bebidas alcoólicas com moderação diminuem a possibilidade de aparecimento deste tipo de cancro.
o História Ginecológica – mulheres que tiveram pelo menos um filho e que amamentaram os seus filhos, que fizeram laqueação das trompas e fizeram histerectomia sem ooforectomia, têm menor risco de desenvolver este tipo de tumor.
o História familiar – existem várias doenças que estão associadas a este tipo de tumor. As mulheres pertencentes a famílias que têm anormalidade genética conhecida como Cancro Colorectal Hereditário Não Poliposo têm risco aumentado. Estas mulheres devem fazer exames ginecológicos e ecografias de controle com frequência.
o Terapia hormonal – mulheres que fazem uso de terapia de substituição hormonal para diminuir os sintomas da menopausa têm risco aumentado para desenvolver este tipo de tumor. Por isso, mulheres que fazem uso desse medicamento devem fazer com frequência exames ginecológicos e ecografias que controlam as alterações precoces nos ovários. O intervalo entre exames depende do resultado do exame anterior e da presença de outros factores de risco.
o Anticoncepcional oral – tomar pílulas anticoncepcionais faz com que a mulher seja menos exposta a altos níveis de estrogénios endógeno. Com isto a sua exposição total a este tipo de hormona é menor. O uso de anticoncepcionais orais diminui a probabilidade de desenvolver cancro do ovário.
o Idade – mulheres mais velhas têm mais risco de desenvolver este tipo de cancro.
7 – CONCLUSÃO
A elaboração deste trabalho foi de enorme interesse para nós, já que podemos aprofundar conhecimentos acerca da anatomo-fisiologia do sistema urinário e reprodutor, o que nos permitiu compreender melhor algumas das alterações desses sistemas relacionadas com o envelhecimento, bem como assimilar conteúdos acerca das patologias mais frequentes no idoso.
Esperamos ter feito uma abordagem objectiva do tema em questão e que este trabalho seja de alguma utilidade a quem o consulte.
8 – BIBLIOGRAFIA
2CASSMEYER, Virgínia L [e tal] – Manual Clínico de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 3ª ed. Lisboa: Lusodidacta. 1995.
2ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE VISEU. Viseu – Guia de Elaboração de Trabalhos Escritos. 2000. Acessível na biblioteca da Escola Superior de Enfermagem, Viseu, Portugal.
2GALLO, Joseph J. [et al] – Assistência ao Idoso – Aspectos Clínicos do Envelhecimento. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2001.
2GRANDE ENCICLOPÉDIA MÉDICA SAÚDE FAMÍLIA DA FAMÍLIA. Volumes 11 a 13. Matosinhos: Edições e Conteúdos S.A. 2003.
2KNAPP, Peter M. – Identificar e Tratar a Incontinência Urinária. Volume 11. Postgraduate Medicine. 1999.
2OTTO, Shirley E. – Enfermagem Oncológica. 3ª ed. Loures: Lusociência. 2000.
2PETROIANU, Andy [et al] – Clínica e Cirurgia Geriátrica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1999.
2SEELEY [et al] – Anatomia e Fisiologia. 3ª ed. Lisboa: Lusodidacta. 1997.
2SMITH, MD. R. Donald – Erologia Geral. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1985.
2WOODS, Nancy Fugate [et al] – Enfermagem Médico-Cirúrgica. 2ª edição. Lisboa: Lusodidacta. 1995
2www.herbanarium.com.br
2www.sbu.org.br
2www.unipesp.br
2www.uro.com.br
2www.abcdasaude.html.pt