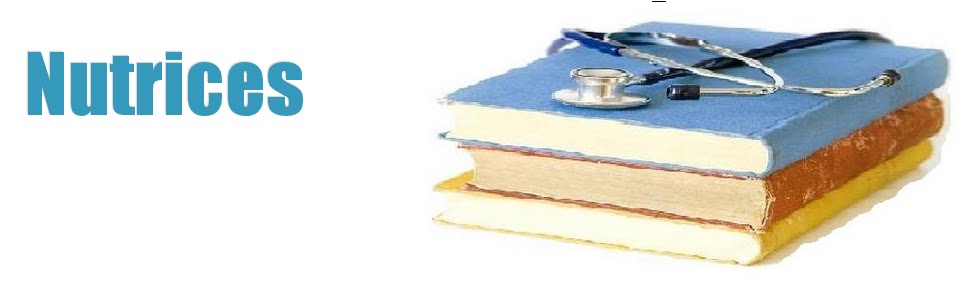O aumento de pessoas com traumatismos vértebro-medulares tem-se vindo a verificar ultimamente, na comunidade em geral e nas instituições de Saúde em particular, com repercussões evidentes a nível individual, social e económico.
É a consciência desse facto e o reconhecimento de que nem sempre lhes são prestados os cuidados a que têm direito, que nos leva hoje a abordar um dos pontos que nos parece revestir da máxima importância: “Traumatismos Vértebro-Medulares: Intervenções de Enfermagem no Serviço de Urgência”. Esta situação implica dos profissionais de Saúde uma preocupação acrescida no sentido de se manterem actualizados a nível do
conhecimento científico, pois só assim poderão prestar melhores cuidados, aumentar a independência do doente e respectivas famílias e melhorar a sua qualidade de vida. Assim, antes de passarmos propriamente ao tema central começaremos por referir os objectivos do trabalho:
Ø Desenvolver de forma clara um texto em que fiquem expressas as Intervenções de Enfermagem no Serviço de Urgência nos doentes traumatizados vértebro-medulares;
Ø Aprofundar conhecimentos sobre os cuidados a prestar no Serviço de Urgência nos doentes com traumatismos vértebro-medulares;
Ø Permitir que nos sirva de referência como futuros profissionais de Saúde na área de Enfermagem.
A estrutura do trabalho, na sua globalidade, divide-se em duas partes fundamentais. Inicialmente, uma composta pelo Conceito, Anatomia, Fisiologia e Fisiopatologia e outra referente à Avaliação Clínica e Intervenções de Enfermagem.
A metodologia seguida baseou-se na consulta de bibliografia e pesquisa na Internet de sites relevantes para o efeito.
1 - CONCEITO
O traumatismo vértebro-medular (T.V.M.) é, sem dúvida, um tipo de traumatismo muito grave pois dá origem a disfunções que influenciam dramaticamente a qualidade de vida de um indivíduo. Ocorrem traumatismos em 50% dos acidentes de viação e em 20% dos acidentes por queda, salto em altura superior a 3 metros e mergulho. Os acidentes de trabalho são quase, tão frequentes como os acidentes de viação. A incidência dos traumatismos vértebro-medulares tem aumentado nas últimas décadas, devido ao aumento dos acidentes industriais e automobilísticos.
Cerca de 10 a 15% dos pacientes com lesão craniana severa, por quedas ou acidentes rodoviários, terão também uma lesão na coluna espinal.
Anualmente, nos E.U.A., ocorrem cerca de 10 000 a 12 000 novos casos, criando uma crise catastrófica de Saúde e de custos económicos para os doentes mas também para a família.
Já em Portugal, mais precisamente no Hospital Geral de Sto António (que abrange uma população de um milhão e setecentos mil habitantes da região norte) registou-se uma incidência anual de 20 a 30 novos casos, o que corresponde de 10 a 15 traumatizados vértebro-medulares por milhão de habitantes.
Os traumatismos vértebro-medulares ocorrem com maior frequência em adultos jovens (raramente abaixo dos 14 anos, tendo 50% deles entre 15 e 24 anos) e nos indivíduos do sexo masculino (cerca de 80%).
Nos doentes politraumatizados a incidência das fracturas da coluna vertebral é maior, e também a sua associação com as lesões neurológicas. Essas fracturas estão também directamente relacionadas com acidentes envolvendo veículos em alta velocidade. Nos acidentes rodoviários ocorridos com baixa ou moderada velocidade essas fracturas não têm sido observadas.
FIGURA 1 – Gráfico que ilustra a relação entre a velocidade dos veículos no momento do acidente e a ocorrência de fracturas da coluna vertebral.
Fonte: Universidade de Hannover – Alemanha. (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
As lesões medulares dependem em muito do tipo de mecanismo do acidente. Os mecanismos mais frequentes são:
Ø Hiperflexão;
Ø Hiperextensão;
Ø Rotação;
Ø Compressão;
Ø Agressões penetrantes ou por projéctil.
a) Hiperflexão: este tipo de lesão é mais comum na região cervical (C5/C6), local esse onde existe maior mobilidade da espinal medula. Na maior parte das vezes, este tipo de lesão é causado por desacelerações súbitas de movimento (como por exemplo nas colisões com a cabeça para a frente). Nesta lesão ocorre uma lesão por compressão da medula, em consequência da fractura em fragmentos ou também por deslocação dos corpos vertebrais. Devido a ruptura ou laceração dos músculos e dos ligamentos posteriores, a coluna pode-se tornar instável.
b) Hiperextensão: as lesões que ocorrem por hiperextensão estão relacionadas com um movimento de cabeça para traz e para baixo que se encontra a maioria das vezes na colisão pela retaguarda ou nos acidentes de mergulho. Aquando de uma hiperextensão, o que acontece à medula é uma torção e um estiramento. Verifica-se, na maior parte das vezes, ruptura do disco intervertebral, assim como compressão ou fractura dos elementos posteriores da coluna. Os défices neurológicos associados a esta lesão são muitas vezes provocados por contusão e isquémia da medula, sem envolvimento ósseo significativo.
c) Rotação: estas lesões estão associadas com as de flexão ou de extensão. Uma rotação exagerada da cabeça ou do corpo pode causar ruptura dos ligamentos posteriores e deslocação da coluna vertebral.
d) Compressão: esta situação resulta de uma força vertical ao longo da medula. Estas lesões estão mais relacionadas com quedas em altura, em que se faz o embate com os pés ou as nádegas. Nestas quedas há fractura por esmagamento do corpo vertebral, projectando muitas vezes fragmentos ósseos no canal espinal ou directamente na medula.
e) Agressões penetrantes ou por projéctil: estas lesões são causadas por projécteis, armas brancas, armas de fogo, ou por objectos cortantes, provocando uma secção na espinal medula. Há nestes casos danos permanentes.
A distribuição das fracturas ao longo da coluna vertebral não é homogénea, e está relacionada com as diferenças anatómicas e funcionais dos diferentes segmentos da coluna vertebral. As fracturas da coluna torácica e lombar são as mais frequentes do esqueleto axial e correspondem a cerca de 89% de todas as fracturas.
FIGURA 2 – Distribuição percentual das fracturas nas diferentes vértebras.
Fonte: REHN, 1968. (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
A localização anatómica da lesão está directamente relacionada ao mecanismo de trauma:
Ø 2/3 das lesões medulares estão localizadas no segmento cervical;
Ø 10% das lesões medulares ocorrem na região torácica;
Ø 4% das lesões medulares ocorrem na região toraco-lombar.
A medula espinal apresenta uma íntima relação com as vértebras, e pode ser lesada aquando de uma fractura na coluna vertebral. A lesão da medula ocorre em cerca de 15 a 20% das fracturas da coluna vertebral.
2 - ANATOMIA DA COLUNA VERTEBRAL
O corpo humano é o melhor exemplo da perfeição da natureza. Se nada de errado acontecer, todos os seus órgãos e sistemas funcionam e interagem entre si com perfeição. No entanto, algumas estruturas surpreendem-nos pela sua engenhosidade. A coluna vertebral é uma delas.
A coluna vertebral é o eixo ósseo do corpo, situada no dorso, na linha mediana, capaz de sustentar, amortecer e transmitir o peso corporal. Além disso, supre a flexibilidade necessária à movimentação, protege a espinal medula e forma com as costelas e o esterno o tórax ósseo, que funciona como um fole para os movimentos respiratórios.
É constituída por um conjunto de ossos ou vértebras empilhadas umas sobre as outras, não como uma pilha de cubos de brinquedos, mas arranjadas de forma funcional. Vista de frente a coluna é uma recta mas, se observada lateralmente tem forma em “S”.
FIGURA 3 – Anatomia da coluna vertebral [A – Coluna cervical (lordose cervical); B) Coluna torácica (cifose torácica); C) Coluna lombar (lordose lombar); 1) Corpo vertebral; 2) Disco intervertebral; 3) Raiz nervosa]
Fonte: (www.doresnascostas.com.br/anatomia.html)
A coluna vertebral é formada por 33 vértebras: 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares; pelo sacro composto de 5 vértebras fundidas e pelo cóccix formado de 4 vértebras rudimentares fundidas entre si. A 1a vértebra coccígea é um pouco mais volumosa, articula-se com o ápice do sacro através de um disco intervertebral rudimentar.
A medula espinal está dividida em segmentos, e as raízes nervosas que emergem da medula ao nível de cada segmento são designadas por algarismos que se referem ao nível da sua saída. Trinta e um pares de nervos espinhais originam-se da espinal medula (8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccígeo). Nos adultos a espinal medula possui cerca de 45 cm e estende-se desde a altura do atlas (C1) até a primeira ou segunda vértebra lombar.
3 - FISIOLOGIA DA ESPINAL MEDULA
A principal função da espinal medula consiste em regular os movimentos do corpo, consequente da transmissão de impulsos nervosos entre o cérebro e o corpo.
A espinal medula é um conjunto de tecido nervoso extremamente sensível. Na secção transversal da espinal medula é visível uma substância cinzenta em forma de “H” no centro. Esta substância cinzenta está dividida nas colunas posterior, horizontal e anterior.
A substância cinzenta transmite os impulsos sensitivos para as apófises, como propriocepção, sensação de pressão, de vibração e movimento. A substância cinzenta horizontal contém neurónios de interligação que formam uma parte da via de dois neurónios para o sistema nervoso simpático. A parte anterior desta substância contém os corpos celulares motores que formam a via terminal comum de todos os impulsos que vão para os músculos estriados. Os axónios das células motoras saem da espinal medula pela raiz anterior e terminam nas placas neuromusculares.
A substância branca da espinal medula é constituída por axónios das células da substância cinzenta, axónios das células sensitivas e pelos feixes descendentes do cérebro, tronco cerebral e cerebelo. Estas fibras estão organizadas em feixes na substância branca e correm paralelamente ao eixo vertical da espinal medula. Os feixes sobem para o cérebro e descem do mesmo, bem como de outras partes da espinal medula. Esta última é composta por múltiplos feixes.
4 - FISIOPATOLOGIA DE UM TRAUMATIZADO VÉRTEBRO-MEDULAR
A espinal medula é uma “ponte complexa” através da qual é transmitida a informação motora e sensorial entre o cérebro e o corpo. Esta é composta de matéria branca, onde a maior parte das células nervosas estão localizadas.
A matéria cinzenta organiza-se por segmentos abrangendo neurónios motores e sensoriais. Os nervos da espinal medula ligam-se ao corpo através das raízes nervosas que saem da coluna e fornecem os nervos às pernas, bexiga e outras áreas. Cada raiz nervosa recebe informação de zonas da pele designadas de dermátomos, mas por outro lado também existem raízes que enervam um grupo de músculos chamados miotomas.
As lesões medulares podem ter etiologias diferentes:
Ø Traumáticas: relacionadas com lesões mecânicas (por exemplo: acidentes de viação, de trabalho e ainda da prática desportiva).
Ø Médicas: relacionadas com processos desmielinizantes (como Esclerose Múltipla), degenerativos, infecciosos inflamatórios (como Meningites), tumorais, malformações congénitas e vasculares.
Ø Iatrogénicas: têm a ver com procedimentos médicos (pós-cirúrgicos).
As lesões de origem traumática resultam de uma força mecânica que leva à ruptura de tecidos com pressão dos nervos, sendo rara a secção física da medula.
A lesão medular deve-se a alterações bioquímicas e alterações morfológicas na vascularização da substância cinzenta e nas bainhas mielínicas da substância branca. A diminuição da perfusão leva à diminuição da oxigenação, isquémia e necrose da medula que se torna edemaciada.
As alterações na estrutura da substância branca e da cinzenta provocam alterações da condução nervosa. Por sua vez, as reacções bioquímicas da lesão vão desencadear uma vasoconstrição e consequentemente hipoxia, isquémia e rápida destruição dos tecidos, com posterior interrupção neuronal.
A transferência de energia cinética para a medula espinal, o rompimento dos axónios, a lesão das células nervosas e a ruptura dos vasos sanguíneos causam a lesão primária da medula espinal. Na fase aguda da lesão (até 8h após o trauma) ocorre hemorragia e necrose da substância cinzenta, seguida de edema. Formam-se petéquias hemorrágicas na substância cinzenta logo no primeiro minuto da lesão medular espinal, que se aglutinam dentro da primeira hora resultando na necrose central que se pode estender para a substância branca nas 4 a 8h seguintes. Como consequência, há uma redução geral do fluxo sanguíneo no local da lesão. A seguir, células inflamatórias migram para o local da lesão acompanhadas de proliferação de células da glia. No período de 1 a 4 semanas ocorre a formação de tecido cicatricial e cistos no interior da medula espinal.
FIGURA 4 - Fractura da coluna vertebral associada à lesão da medula espinal.
Fonte: (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
5 - MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Os sinais e sintomas da secção da medula, e lesões menores da mesma, dependem do nível a que a lesão ocorre e do grau. Na fase imediata de uma secção, há perda completa ou défice das funções motoras e sensoriais, bem como de sensações somáticas e viscerais abaixo do nível da lesão. O indivíduo pode apresentar paralisia flácida, hipotonia e arreflexia (devido à interrupção dos impulsos nervosos) em relação ao local da medula que foi lesado.
TABELA 1 - “Função muscular após lesão da espinal medula”
| LESÃO DA ESPINAL MEDULA | FUNÇÃO MUSCULAR RESIDUAL | FUNÇÕES MUSCULARES PERDIDAS |
| Cervical Acima de C4 | Nenhuma | Todas, incluindo a respiração |
| C5 | Pescoço Elevação escapular | Membros superiores, tórax, todas abaixo do tórax |
| C6 –C7 | Pescoço. Alguma mobilidade do tórax. Alguma mobilidade do braço | Algumas, dos membros superiores e dos dedos, algumas no tórax. |
| Torácica | Pescoço Braços (total) | Tronco. Todos abaixo do tórax |
| Lombossagrada | Alguma no tórax Pescoço Braços Tórax Tronco | Membros inferiores |
Fonte: PHIPPS, Wilma J. ; LONG, Barbara C. ; WOODS, Nancy F. [et al] – Enfermagem Médico-Cirúrgica: Conceitos e Prática Clínica
Perante esse período, as pessoas podem requerer temporariamente ventilação assistida, até o organismo começar a recompor-se.
Dentro de horas, dias ou semanas, os músculos envolvidos gradualmente, tornam-se espásticos e hiper-reflexivos, com os sinais característicos de uma lesão de neurónios motores superiores.
5.1. - LESÃO AO NÍVEL DA COLUNA CERVICAL
É a mais crítica que pode ocorrer. Provoca paralisia dos 4 membros e do tronco (tetraplegia). A eventual mobilidade muscular do ombro, membros superiores e dedos depende do nível cervical, específico da lesão. Na fase imediata, os músculos de órgãos internos como a bexiga e os intestinos, ficam atónicos. A perspiração diminui, tal como a sensação de tacto. Como os músculos do diafragma e intercostais são afectados, podem resultar insuficiência respiratória e morte excepto se o doente receber assistência ventilatória adequada. Normalmente a dor não é um problema prematuro.
5.2. – LESÃO AO NÍVEL TORÁCICO
A lesão resulta em perdas musculares do tórax, tronco, intestino, bexiga e membros inferiores. A função remanescente varia nesta área, conforme o nível particular. O doente pode usar os membros superiores mas os inferiores não funcionam (paraplegia).
5.3. – LESÃO AO NÍVEL LOMBAR E SAGRADO
Uma lesão neste local implica paralisia dos membros inferiores. Quando a lesão ocorre na região sagrada baixa e nas raízes dos nervos da cauda equina, afastada da espinal medula, os sinais são variáveis e menos complicados.
6 - SEQUELAS DA LESÃO MEDULAR
Após um traumatismo vértebro-medular fica sempre uma lesão funcional.
Na lesão medular é fundamental distinguir ruptura mecânica primária dos axónios e os processos secundários que aumentam a lesão.
A lesão primária pode destruir cerca de 90% dos axónios e mesmo assim os doentes podem ainda recuperar importantes funções (lesões incompletas). A lesão secundária é igualmente importante, no sentido que pode comprometer a sobrevivência e o funcionamento das células que resistam à lesão primária. De acordo com isto, podemos classificar primariamente os traumatismos medulares em completos e incompletos.
TABELA 2 - Classificação das Lesões da Espinal Medula
| Classificação das Lesões da Espinal Medula |
| ü Lesão Completa Tetraplegia Paraplegia ü Lesão Incompleta Síndrome de Brown – Séquard Síndrome do cordão central Síndrome do cordão anterior Síndrome do cordão posterior |
Fonte: PADILHA, José M. ; CRUZ, Arménio G. ; PINTO, Vanda M. [et al] – Enfermagem em Neurologia. p. 110
6.1. - LESÕES COMPLETAS
Na lesão medular completa ocorre a perda total da função sensorial e motora abaixo do nível da lesão. Independentemente da mecânica de que o traumatismo resultou, existe uma dissecção completa medular e das suas vias neuroquímicas, provocando duas situações conforme a sua localização:
ü Tetraplegia;
ü Paraplegia.
Na tetraplegia a função residual depende do nível cervical que foi afectado aquando do traumatismo. Assim as lesões C6 provocam tetraplegia completa, enquanto que as lesões abaixo de C6 podem provocar tetraplegia incompleta com alguma independência potencial nas actividades de vida diária.
Na paraplegia ocorre secção completa na região toraco-lombar, levando a uma plegia com enervação variável dos músculos intercostais e abdominais, se esta for a nível de L1-L2.
6.2. - LESÕES INCOMPLETAS
Estas lesões significam que continua a existir funcionamento motor voluntário ou sensorial residual abaixo do nível da lesão.
Os sinais de lesão incompleta incluem sensação (sentido de posição), movimento voluntário das extremidades inferiores e não afectação da região sagrada, sensação na região anal, contracção voluntária do esfíncter anal e flexão voluntária dos dedos dos pés.
Não se considera incompleta uma lesão se apenas forem preservados os reflexos sacrais.
Os tipos de lesão incompleta incluem:
ü Síndrome de Brown – Séquard
ü Síndrome do cordão central
ü Síndrome do cordão anterior
ü Síndrome do cordão posterior
a) Síndrome de Brown – Séquard:
Nesta síndrome, ocorre uma hemisecção transversal da medula que geralmente ocorre com traumatismo, hematoma epidural, mielopatia da radiação, hérnia dos discos cervicais, tumor da espinal medula, malformação arteriovenosa espinal e espondilose cervical.
Neste tipo de lesão ocorre perda de controlo motor voluntário homolateral e perda contralateral das sensações de dor mas também de temperatura. Funcionalmente, o lado com melhor controlo motor tem pouca ou até nenhuma sensação, enquanto que o lado do corpo com sensação tem pouco ou nenhum controlo motor.
Cerca de 90% dos pacientes recuperam ao ponto de se deslocarem por si mesmos e de controlarem os esfíncteres, fazendo com que este tipo de traumatismo seja o de melhor prognóstico.
b) Síndrome do cordão central:
É o tipo mais frequente de lesão incompleta da medula. É vulgarmente diagnosticado em idosos com prévia estenose subsequente à lesão de hiperextensão aguda.
Esta síndrome resulta de contusões (consequências de um golpe na face ou no frontal, acidente de viação ou queda para a frente) e normalmente ocorre uma recuperação gradual das funções. Geralmente as extremidades inferiores recuperam primeiro, depois reaparece o funcionamento da bexiga, a seguir as extremidades superiores, e por fim, o movimento dos dedos. O quadro clínico inclui um défice motor variável de disfunção intestinal e vesical.
Em pacientes com contusão, cerca de 50% recuperam suficientemente o funcionamento das extremidades inferiores para conseguirem andar, ainda que com espasmos musculares.
c) Síndrome do cordão anterior:
Também é conhecido por síndrome da artéria espinal anterior. Acontece quando ocorre uma lesão na região irrigada pela artéria espinal anterior.
A etiologia pode ser por compressão, oclusão da artéria, traumatismo do disco ou fragmento ósseo deslocado.
O quadro clínico inclui paraplegia bilateral, perda de sensação de dor e temperatura abaixo do nível da lesão.
O prognóstico é o pior das lesões incompletas, só 10 a 20% dos doentes é que recuperam o controlo motor funcional.
d) Síndrome do cordão posterior:
Esta síndrome está normalmente associada a hiperextensão cervical. Produz uma perda da sensibilidade táctil e da propriocepção abaixo do nível da lesão. As funções motoras e a sensação de dor e de temperatura matêm-se intactas.
7 - AVALIAÇÃO CLÍNICA
A avaliação clínica do paciente compreende:
Ø A história;
Ø Exame físico;
Ø Exame neurológico;
Ø Exame radiológico.
A história do traumatismo e informações acerca do estado geral do paciente antes da lesão é de grande utilidade para auxiliar no esclarecimento do mecanismo e das possíveis lesões que lhes são associados. A presença de traumatismo crânio-encefálico, intoxicação alcoólica, lesões múltiplas, traumas da face e acima da clavícula aumentam a probabilidade da ocorrência de fractura da coluna vertebral.
O exame físico geral do paciente inicia-se pela avaliação das vias aéreas “com o controle da coluna cervical”, da respiração e ventilação, e da circulação (ABC), pois a prioridade no atendimento inicial deve ser para a avaliação, preservação e tratamento das funções vitais básicas.
Nos pacientes com lesão medular podem ser observadas respiração diafragmática, perda da resposta ao estímulo doloroso, incapacidade de realizar movimentos voluntários nos membros, alterações do controle dos esfíncteres, priapismo e presença de reflexos patológicos (Babinski, Oppenheim), indicando lesão do neurónio motor superior. Os pacientes com lesão medular podem apresentar também diminuição da tensão arterial acompanhada de bradicardia, que caracteriza o denominado choque neurogénico. Nesses pacientes, a lesão das vias eferentes do sistema nervoso simpático medular e consequente vasodilatação dos vasos viscerais e das extremidades, associadas à perda do tónus simpático cardíaco, não permitem que o paciente consiga elevar a frequência cardíaca. Essa situação deve ser reconhecida e diferenciada do choque hipovolémico, no qual a tensão arterial está diminuída e acompanhada de taquicardia. A reposição de líquidos deve ser evitada no choque neurogénico, para não sobrecarregar a volémia.
O exame neurológico consiste na avaliação da sensibilidade, da função motora e dos reflexos. A área de sensibilidade do paciente é examinada no sentido crânio-caudal desde a região cervical, por meio da avaliação da sensibilidade à variação de temperatura, sensibilidade dolorosa e sensibilidade táctil (que são funções mediadas pelo tracto espinotalâmico lateral), cujas fibras estão na porção antero-lateral da medula espinhal. A avaliação da vibração por meio de um diapasão ou da posição espacial dos membros avalia as condições do tracto posterior da medula espinhal.
As lesões medulares dão origem a uma disfunção motora, sensitiva e autonómica.
A avaliação da função motora tem como objectivo a determinação do grau de movimento que o paciente possui. A constatação da presença ou ausência de movimentos nas extremidades é insuficiente para a avaliação motora. O grau de força motora deve ser quantificado através de uma escala que varia de 0 a 5:
Ø Á paralisia total atribuímos um 0;
Ø À presença de contracção muscular palpável ou visível atribuímos um 1;
Ø À presença de movimento activo, mas que não vence a força da gravidade atribuímos um 2;
Ø Ao movimento activo que vence a força da gravidade atribuímos um 3;
Ø Ao movimento activo que vence alguma resistência atribuímos um 4;
Ø Ao movimento activo normal atribuímos um 5.
A avaliação clínica dos pacientes determina o nível de lesão neurológica, Quando o termo “nível sensitivo” é utilizado, fazemos referência ao nível terminal da medula que apresenta sensibilidade normal, podendo do mesmo modo ser definido o nível motor. O nível esquelético da lesão é determinado por meio de radiografias e corresponde à vértebra lesionada.
Quanto à avaliação radiológica: a coluna vertebral deve ser avaliada por meio de radiografias realizadas nos planos antero-posterior (AP) e lateral, procurando avaliar a assimetria, o alinhamento das vértebras e rotura das partes moles. É muito importante a visualização de todas as vértebras da coluna e na impossibilidade da observação desse segmento devemos recorrer à tracção dos membros superiores ou à utilização da posição do nadador.
FIGURA 5 - Tracção dos membros superiores para melhor visualização radiológica
Fonte: (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
As radiografias que exigem hiperflexão e hiperextensão são contra -indicadas em pacientes com défice neurológico ou inconscientes. Esse tipo de avaliação radiológica deve somente ser utilizada em pacientes que apresentem radiografias normais, sem alteração neurológica e em perfeito estado de consciência (de modo que possam realizar a flexão e extensão activa da coluna cervical voluntariamente e com o total controlo da situação).
A tomografia computorizada permite o diagnóstico de fracturas ocultas da região cervical e ela é também muito útil na avaliação da morfologia da fractura, da estabilidade do segmento lesado e da compressão do canal vertebral pelos fragmentos da vértebra fracturada.
FIGURA 6 - Tomografia computorizada: fracturas da coluna vertebral: (A) fractura com desvio da coluna torácica, (B) fractura do corpo vertebral e compressão do canal vertebral, (C) fractura de vértebra cervical.
(A) (B) (C)
Fonte: (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
A ressonância magnética também tem auxiliado no diagnóstico dos T.V.M. e sempre que possível deve ser utilizada na fase primária do diagnóstico, pois permite uma análise detalhada das partes moles (com melhor visualização de contusões medulares, hematomas, lesões ligamentares e hérnias discais).
FIGURA 7 – Ressonância magnética da coluna lombar (A), cervical (B) e torácica (C).
Fonte: (www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm)
8 - INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
A) A chegada ao serviço de urgência pode representar os minutos mais cruciais do cuidado total ao indivíduo com lesão vértebro-medular.
As manipulações no local do acidente, os primeiros socorros, as condições de transporte, as transferências e muitas outras circunstâncias são factores fundamentais no prognóstico do acidentado. Ou seja, podem determinar que um provável traumatismo vertebral simples se transforme numa lesão vértebro-medular com todo o seu quadro sintomatológico.
Estes factos levam-nos a pensar que todo o traumatizado da coluna deve ser considerado como sofrendo de fractura vertebral e, portanto, tratado como se fosse um traumatismo vértebro-medular. É importante que antecipadamente a equipa de transporte comunique aos serviços de urgência da unidade hospitalar a entrada do sinistrado, bem como a sua situação.
No serviço de urgência continua-se o tratamento ao sinistrado, com técnicos especializados que farão a sua primeira observação na maca de transporte do mesmo.
1.1. Transferência do sinistrado
A transferência do sinistrado para a maca do hospital deve ser realizada
com o auxílio dos técnicos qualificados:
ü a maca para a qual o sinistrado deve ser transferido, deverá ser dura e lisa;
ü a transferência deve obedecer às normas de um perfeito alinhamento da coluna (ponta do nariz, umbigo e pés);
ü deve ser feita com pelo menos quatro pessoas, como se o indivíduo se tratasse de um todo, levantando-o em bloco.
Depois desta transferência o tratamento segue segundo prioridades de
manutenção da vida:
ü manutenção da respiração
ü circulação
ü controle de hemorragias
ü evitar o choque
Para complementar o diagnóstico provisório, são necessários vários
exames radiológicos fundamentais para se estabelecer um diagnóstico definitivo. Em todos estes passos é de fundamental importância a manipulação cuidadosa do indivíduo.
Após a observação pelos diversos especialistas, a que o doente foi submetido, deve ser dada continuidade às prescrições efectuadas e colaborar nos diversos exames.
1.2. Acções de Enfermagem
O tratamento na urgência tem como principal objectivo a manutenção e
o restabelecimento das funções vitais do doente:
? Sistema A – Airway: manter as vias aéreas permeáveis
B – Breatling: promover uma boa ventilação
C – Circulation: vigiar/ restabelecer a circulação, controlar hemorragias
Os cuidados específicos da lesão do segmento vertebral com lesão
medular é realizada somente apões a resolução desta fase.
? Evitar o choque (choque neurogénico, com hipotensão associada à bradicardia em doentes com lesão acima de T6 evitando a administração de líquidos e consequente sobrecarga hídrica);
? Avaliar sinais vitais (TA, FC, FR, SpO2, temperatura);
? Avaliar a integridade das mucosas;
? Cateterizar pelo menos uma veia periférica de bom calibre;
? Imobilizar fracturas que possam existir;
? Manter um bom posicionamento do doente e alinhamento correcto da coluna;
? Aplicar sonda nasogástrica, ficando esta em drenagem livre – esta acção vai permitir verificar se o doente está ou não com estase gástrica, verificando simultaneamente se existe sangue no conteúdo gástrico, para além de prevenir a aspiração traqueo-brônquica deste conteúdo;
? Algaliar o doente sempre que a função esfincteriana estiver alterada;
? Colher sangue para diversas análises laboratoriais pedidas;
? Colaborar com os diversos técnicos de saúde nos vários exames e acções a prestar;
? É importante diminuir o metabolismo basal destes doentes pelo que poderão ter que ser sedados (prestar cuidados relativamente aos efeitos respiratórios e hemodinâmicos dos fármacos);
? A ansiedade que uma situação desta natureza provoca vai repercutir-se com o aumento do referido metabolismo e originar agitação indesejável;
? Aliviar a dor (diminuir a ansiedade);
? Verificar o estado psicológico do doente, acalmá-lo e tranquilizá-lo quanto ao seu estado geral;
? Posicioná-lo em decúbito dorsal, excepto se indicação em contrário e assegurar-lhe o correcto funcionamento das funções vitais.
1.3. Proposta Terapêutica
A proposta terapêutica mais utilizada no serviço de urgência são os
Protocolos NASCIS I e II, realizados em 1990 e 1992, nos quais foi observada melhoria neurológica significativa nos doentes em que foi administrada Metilprednisolona.
A Metilprednisolona tem a capacidade de reduzir a perioxidação lipídica e preservar a integridade das estruturas neuronais, actuando ao nível da lesão secundária devido à isquémia e acção dos radicais livres.
Assim a proposta terapêutica será:
§ O2 em alto débito
§ Avaliação total do doente despistando problemas de solução imediata
Ø 1ª hora: bólus de 30 mg/Kg (valor médio de 2 gr) diluídos em 100 cc de Soro Fisiológico durante 15 minutos
Ø 2ª hora até 24horas: perfusão contínua de 5,4 mg/Kg/h (valor médio de 8 gr) diluídos em 1000 cc de Soro Fisiológico a 16 gt/minuto durante 23 horas. Sempre que possível preferir seringa eléctrica.
NOTA: o protocolo de NASCIS utilizado, permite ser iniciado até um máximo de 8 horas após o acidente. No entanto, existe a possibilidade de obter melhores resultados com a administração de Metilprednisolona o mais precocemente possível, assim que for viável o seu início.
B) INSTALAÇÃO DO DOENTE
Na instalação doente, torna-se pertinente atender às seguintes características da unidade:
Ø cama articulada com base rija e lisa, com colchão de pressão alterna, respectivo motor e ligações;
Ø utilizar se necessário um a” pele de carneira”;
Ø proporcionar ambiente calmo e confortável, com temperaturas reguladas, sem ruídos externos, com luz suficiente e natural, com boa ventilação e higiene;
Ø existência de rampas de gases individualizadas com oxigénio, ar comprimido e sistema de vácuo para a aspiração de secreções.
É importante verificar e registar os parâmetros vitais assim como todas as observações feitas de um modo preciso, conciso e sucinto.
É ainda de boa conduta receber os familiares dos doentes, fazendo-lhes o ponto da situação, tranquilizando-os, respondendo às questões que coloquem no momento e pedindo-lhes a sua colaboração no momento e pedindo-lhes a sua colaboração futura.
9 - CONCLUSÃO:
Com este trabalho procurou-se desenvolver de uma forma clara, objectiva e completa o tema proposto a estudar: “Traumatismos Vértebro-Medulares: Intervenções de Enfermagem no Serviço de Urgência”.
Para tal recolheu-se toda a bibliografia considerada pertinente para elaborar um trabalho completo sem, no entanto, o tornar exaustivo. Assim sendo, tentou-se destacar os elementos essenciais clarificando termos e conceitos para uma melhor compreensão dos mesmos.
Ao longo da elaboração do trabalho, as expectativas em relação ao tema foram superiores às iniciais tornando-se para nós mais aliciante abordá-lo.
Estamos conscientes que todos os conhecimentos, principalmente os da área da Saúde, estão em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento que facultam modificações importantes ao nível das técnicas de Enfermagem – o que sabemos hoje e defendemos como certo, pode estar perfeitamente ultrapassado amanhã.
10 – BIBLIOGRAFIA
Ø BASÍLIO, Madalena do Rosário. – Traumatizados Vértebro-Medulares da coluna dorso lombar. Nursing. Lisboa : Publicit. ISSN 0881-6196. N.º 70 (Novembro 1993), p. 8
Ø CANEIRA, Joaquim. – Alterações Respiratórias no Doente com Traumatismo Vértebro-Medular (fase aguda): intervenções de enfermagem. Referência. Coimbra : Coimbra. ISSN 0874-0283. N.º 2 (Março 1999), p. 75-79
Ø DEFINO, Helton L. A. Lesões Traumáticas da Coluna Vertebral [em linha]. Brasil : Universidade de São Paulo: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, cop. 2003. [Citado em 27 de Outubro de 2003]. Disponível em <URL: http://www.fmrp.usp.br/ral/apostila%20coluna.htm
Ø FERRARETTO, Ivan. Anatomia da coluna vertebral [em linha]. Brasil : Dr. Ivan Ferraretto [Citado em 27 de Outubro de 2003]. Disponível em <URL: http://www.doresnascostas.com.br
Ø FERREIRA, João M. P. – Dom acidente ao serviço de urgências. Sinais Vitais. Coimbra : Norprint. ISSN 0872-8844. N.º 1 (Novembro 1994), p. 15-18
Ø GOLDENBERG, José. Anatomia da coluna vertebral [em linha]. Brasil : Professor Doutor José Goldenberg, cop. 2001. [Citado em 27 de Outubro de 2003]. Disponível em <URL: http://portaldacoluna.com.br
Ø NETTINA, Sandra M. – Prática de Enfermagem. 6ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, cop. 1998. Vol. 2. 837p. Tít. Original: The Lippincott Manual of Nursing Practice. ISBN 85-277-0449-8
Ø PADILHA, José M. ; CRUZ, Arménio G. ; PINTO, Vanda M. [et al] – Enfermagem em Neurologia. Coimbra : Formasau, 2001. 219p. ISBN 972-8485-18-2
Ø PHIPPS, Wilma J. ; LONG, Barbara C. ; WOODS, Nancy F. [et al] – Enfermagem Médico-Cirúrgica: Conceitos e Prática Clínica. 3ª ed. Lisboa : Lusodidacta, cop. 1991. XIII, 449p.
Ø PHIPPS, Wilma J. ; LONG, Barbara C. ; WOODS, Nancy F. [et al] – Enfermagem Médico-Cirúrgica: Conceitos e Prática Clínica. 2ª ed. Lisboa : Lusodidacta, cop. 1991. Vol.II, Tomo I XL, 1972p. ISBN 972-96610-0-6
Ø ROGERS ; OSBORN ; POUSADA – Enfermagem de Emergência: Um Manual Prático. Porto Alegre : Artes Médicas, 1992. 446p. Tít. Original: Emergency Nursing – A Practice Guide
Ø RUBINSTEIN, Ezequiel. Anatomia Funcional da Coluna Vertebral [em linha]. Brasil : Instituto de Ciências Biológicas: Universidade Federal de Minas Gerias, cop. 2000. Revisto em 9 de Abril de 2003 [Citado em 27 de Outubro de 2003]. Disponível em <URL: http://www.icb.ufmg.br/anatefis/coluna_vertebral.htm
Ø SHEEHY, Susan – Enfermagem de Urgência: da Teoria à Prática. 4ª ed. Lisboa : Lusociência, cop. 2001. VIII, 877p. Tít. Original: Emergency Nursing: Principles and Practice. ISBN 972-8383-16-9
Ø WARNER, Carmen G. – Enfermagem em Emergências. 2ª ed. Rio de Janeiro : Interamericana, cop. 1980. XIII, 465p. Tít. Original: Emergency Care. ISBN 85-201-0089-9