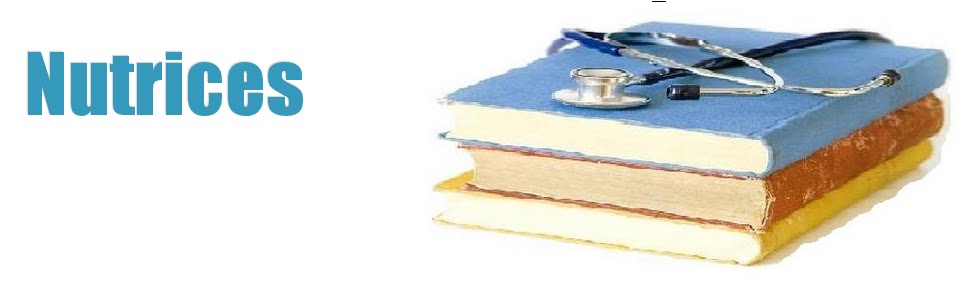A dor convencional faz parte dum sistema de alarme do corpo. Existem duas vias de dor, sendo que a via rápida produz apenas sensações de dor localizadas e de duração relati-vamente curta que permitem ao organismo afastar-se do agente nocivo. Antes de mais nada, é parte integrante do ciclo da vida: na criança, no adulto e no idoso. Apesar do tratamento da dor ser um direito humano, a dor na criança continua a ser um problema subestimado persistindo a convicção de que as crianças toleram bem a dor devido à sua imaturidade do sistema nervoso. Porém, sabe-se hoje que mesmo os recém-nascidos sentem dor. É frequente pensar que a dor é consequência do avançar da idade. A dor no adulto e no idoso é encarada como um fenómeno complexo pela sua subjectividade e multidimensionalidade, sendo influenciada por diversos factores (idade, género, tipo de educação, experiências prévias de dor e cultura), por isso é uma experiência, fundamentalmente, pessoal. Daí a utilização da teoria do portão do controlo da dor, pois esta aborda o fenómeno da dor numa perspectiva múltipla, considerando que existem factores que podem potenciar ou diminuir a dor.
Abstract
The pain is part of a conventional alarm system of the body. There are two methods of pain, and the expressway only produces sensations of localized and relatively short dura-tion pain, that allow the body depart from the harmful agent. First of all, it is an integral part of the cycle of life: in the child, adult and the elderly. Despite the treatment of pain is a human right, the pain in children remains an underestimated problem, persisting the conviction that pain is well tolerated in children due to the immaturity of their nervous system. But it is known today that even the new-born feel pain. It is often thought that the pain is a consequence of advancing age. The pain in adults and in the elderly is seen as a complex phenomenon for its subjectivity and multidimensionality, being influenced by various factors (age, gender, type of education, previous experience of pain and culture), so it is basically a personal experience. Hence the use of the gate control theory of pain, as this addresses the phenomenon of pain in a multiple perspective, considering that there are factors that can enhance or decrease the pain.
1. Introdução
Ao longo dos anos o homem tem procurado melhores formas de vida em sociedade, contrariando muitas vezes, dificuldades que se lhe apresentam no dia a dia. A vaga de transformações ocorridas evidência a existência de uma estrutura em plena adaptação. A revolução científica e tecnológica introduziu grandes mudanças estruturais que influenciaram de forma significativa os modos de vida, as noções de tempo e espaço, a produção e o consumo, as tecnologias usadas, os hábitos do quotidiano e as próprias expectativas das pessoas (Serrano, 1996). A dor é, antes de mais nada, parte integrante do ciclo da vida: na gestação, no nascimento e na morte. Porém, sabe-se hoje que o feto começa a sentir dor a partir da 28° semana. Ela é responsável por desencadear eventos para a defesa da vida do indivíduo, exercendo função protectora, e perpetuando a espécie humana. Ao mesmo tempo, pode ser causa de sofrimento extremo a um, ou mesmo a um grupo de indivíduos, que interagem de forma directa ou indirecta, com o indivíduo sofredor. “A dor é um facto, mais do que uma realidade, que existe apenas enquanto está a ser sentida, mas cuja observação pode não ser real em termos objectivos. Mais ninguém, a não ser a própria pessoa experimenta esse facto, e saberá se ele existe ou não, mesmo que o resto do mundo não dê por isso e não encontre razão que justifique” (Fiel J.A., 2000). O que é para nós um facto real e indiscutível, para os outros é apenas uma manifestação originada por esse eventual acontecimento. A IASP (Associação Internacional de Estudos da Dor) define a dor como uma "experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano presente ou potencial, ou descrita em termos de tal dano", demonstrando que a dor apresenta um componente subjectivo. Todos nós sabemos o que é a dor, mas ao tentar defini-la, muitos de nós percebemos que interiorizamos o seu significado de uma forma intuitiva. Isto deve-se, em grande parte, à subjectividade que está patente na experiência de dor. É indiscutível a importância da dor no desenvolvimento do ser humano, sendo a sua função inicial informar sobre a instabilidade do organismo. “A inter-relação entre as diferentes dimensões da dor (fisiológica, emocional, cognitiva) pode ser explicada por uma rede de relações causais entre os elementos que constituem estas dimensões. Alternativamente pode-se supor que elas são apenas facetas diferentes de um fenómeno único que chamamos de dor” (Van-denberghe et al., 2005). A dor é uma resposta resultante da integração central de impulsos dos nervos periféricos, activados por estímulos locais. Há basicamente três tipos de estímulos que podem levar à geração dos potenciais de acção nos axónios desses nervos.
1.Variações mecânicas ou térmicas que activam directamente as terminações nervosas ou receptores.
2.Factores químicos libertados na área da terminação nervosa. Estes incluem compostos presentes apenas em células íntegras, e são libertados para o meio extra-celular na sequência de lesões.
3.Factores libertados pelas células inflamatórias como a bradicinina, a serotonina, a histamina e as enzimas proteóliticas.
Se por exemplo um individuo sofrer um golpe, a sensação de dor imediata é a rápida, devido às forças mecânicas que estiram o tecido conjuntivo onde se localizam receptores de dor. Esta dor dura apenas um tempo muito limitado. Mas à medida que o tecido morre e extravasa o conteúdo celular com diversas substâncias, e chegam à região danificada as células inflamatórias, a dor que permanece é a dor lenta. A inibição do sinal da dor dá-se principalmente a nível do segmento da medula espinhal correspondente à origem da dor, mas também a outros níveis como nos próprios núcleos reticulares e do hipotálamo. Julga-se que este sistema permite uma regulação em feedback do nível da dor. A excitação excessiva da via da dor induz um aumento dos sinais analgésicos a nível do hipotálamo reduzindo a intensidade percebida da dor. Outras áreas do cérebro, como as do sistema límbico, que faz o controlo emocional, também estão envolvidas em estimular ou inibir as vias analgésicas naturais. Os núcleos paraventriculares do hipotálamo estimulam as áreas periaqueductais através da libertação de β-endorfinas (opióides naturais). Assim uma mesma lesão de tecidos orgânicos pode causar muito mais dor se for de causa desconhecida ou considerada pelo individuo como significativa, do que se for de causa conhecida ou tida por pouco perigosa. Além desta via especifica para determinados seg-mentos espinhais, a hipófise produz também beta-endorfinas, que são libertadas para o sangue e para todo o cérebro, e podem ter importância na diminuição das sensações dolorosas em indivíduos com síndromes sistémicos. A dor é sempre subjectiva. Cada indivíduo apreende a aplicação da palavra através de experiências relacionadas com lesões nos primeiros anos de vida. Os biologistas sabem que os estímulos causadores de dor são capazes de lesão de tecidos orgânicos. Assim, a dor é aquela experiência que associamos com lesão de tecidos orgânicos real ou potencial. Sem dúvida é uma sensação em uma ou mais partes do organismo mas sempre é desagradável, e portanto representa uma experiência emocional. Experiências que se assemelham com a dor, por exemplo: picadas de insectos, mas que não são desagradáveis, não devem ser rotuladas de dor. Experiências anormais desagradáveis (diestesias) também podem ser dolorosas, porém não o são necessariamente porque subjectivamente podem não apresentar as qualidades sensitivas usuais da dor. Muitas pessoas relatam dor na ausência de lesão de tecidos orgânicos ou de qualquer outra causa fisiopatológica provável: geralmente isto acontece por motivos psicológicos. É impossível distinguir a sua experiência da que é devido à lesão de tecidos orgânicos se aceitarmos o relato subjectivo. Caso encarem sua experiência como dor e a relatem da mesma forma que a dor causada por lesão de tecidos orgânicos, ela deve ser aceite como dor. Esta definição evita ligar a dor ao estímulo. A actividade provocada no receptor e nas vias receptivas por um estímulo não é dor. Esta sempre representa um estado psicológico, muito embora saibamos que a dor na maioria das vezes apresenta uma causa física imediata. A abordagem que se faz da dor, actualmente, é que ela é um fenómeno ‘biopsicossocial’ que resulta de uma combinação de factores biológicos, psicológicos, comportamentais, sociais e culturais e não uma entidade dicotó-mica. Apesar do tratamento da dor ser um direito humano, a dor na criança continua a ser um problema subestimado persistindo a convicção de que as crianças toleram bem a dor devido à sua imaturidade do sistema nervoso.
2. Conceito de dor
A dor convencional faz parte dum sistema de alarme do corpo. Ela alerta-nos para o facto de que algo nos está a magoar. Ela obriga-nos a solicitar ajuda quando precisamos. A dor imobiliza – nos quando estamos feridos, de modo que possa ocorrer a cura. Na verdade, nunca se define "dor" de forma satisfatória. Foram feitas três tentativas recentes de definição. A primeira declara que "a dor é a experiência sensitiva provocada pelo estímulo que lesa os tecidos ou ameaça destruí-los, experiência definida introspectivamente por cada um, como o que magoa", Mountcastle (1980). Essa definição é insatisfatória pois, a relação entre a dor e a lesão de tecidos orgânicos é tão variável que não se poderia definir a dor exclusivamente em termos de lesão de tecidos orgânicos, ignorando a maior parte dos factos clínicos e psicológicos conhecidos e não considerando a dimensão afectiva, a motivação e a cognição, como partes integrantes da experiência. A segunda definição apresenta a dor como uma abstracção que designa "1°- uma sensação pessoal íntima do mal; 2°- um estímulo nocivo que assinala uma lesão de tecidos orgânicos actual ou eminente; 3°- um esquema de reacção destinado a preservar o organismo do mal", Sternbach (1968). Essa definição é errada nos seus três aspectos. Definir dor como "sensação de um mal" ou "estímulos nocivos" confundem a causa e a experiência, o fato físico e o processo psicológico complexo. Uma terceira definição é melhor, sem ser totalmente aceitável. Merskey et al. (1979) vêem na dor "uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão de tecidos orgânicos real ou virtual, ou descrita em termos duma tal lesão." O grande mérito dessa definição baseia-se no reconhecimento explícito do carácter antes flutuante da relação entre dor e lesão, e na integração da dimensão afectiva da experiência dolorosa, que se junta à dimensão sensorial. O problema está na palavra "desagradável". A dor é muito mais do que desagradável, este qualificativo não implica a miséria, a angústia, o desespero e o sentimento de urgência que fazem parte de certas experiências dolorosas. Pelo facto de ser a dor uma sensação íntima e pessoal, impossível conhecer com exactidão a dor do outro. Assim pela diversidade das experiências dolorosas, explica-se porque tem sido impossível, até hoje, encontrar uma definição definitiva e satisfatória da dor. A palavra dor representa uma categoria de fenómenos compreendendo uma multidão de experiências diferentes e únicas, tendo causas diversas e caracterizadas por qualidades distintas, variando segundo um certo número de critérios: somatosensoriais, viscerais, afectivos, culturais e cognitivos. A dor possui várias intensidades, denominadas pelo próprio indivíduo. Ela pode ser ligeira, desconfortante, desolante, horrível e atroz. Esses adjectivos servem de "marcas" para determinar a intensidade geral da dor.
A dor pode ser classificada também, em termos temporais como:
• Transitória: dor de curta duração na qual o dano real é quase inexistente ou reparável raramente se acompanha de intensidade.
• Aguda: caracteriza-se pela combinação de lesão de tecidos orgânicos, dor e ansiedade. Por um período de tempo muito curto entre a ansiedade com a causa do ferimento e a preparação para o restabelecimento.
• Crónica: subsiste depois que cessou de cumprir uma função necessária, não é mais um simples sintoma de ferimento, é doença. Conduz à debilidade e gera, muitas vezes, uma depressão profunda. É um problema médico grave, em si, que exige uma atenção insistente.
Na tentativa de entender um pouco melhor a "dor", procuramos descrevê-la em alguns dos seus mais variados aspectos.
3. Dor na criança
Falar sobre dor na criança é um desafio. Embora a valorização da dor na criança esteja na sua fase inicial, muito já foi feito nos últimos anos. (Pimentel, 2001)
Na área da pediatria, só após 1987, é que o mito da imaturidade nociceptiva do recém-nascido e tudo o que ela acarreta, começou a ruir e isto deveu-se à experiência de Anand, que demonstrou a existência de receptores sensoriais no córtex-cerebral. Antes disto acontecer a maioria dos profissionais de saúde, não valorizavam a dor na criança, pensa-vam que não era um problema significativo. A dor era vista como um sintoma que acompanhava a doença, sem que lhe fosse concedido espaço para a sua descrição, discussão, avaliação e tratamento. (Pimentel, 1992)
“ A dor é uma experiência comum e perturbadora na criança. Os últimos progressos reali-zados nos últimos anos para o alívio da dor nos adultos não têm sido aplicados às crianças coma mesma dimensão. A dor nas crianças não tem sido devidamente investigada, e a prevenção, diagnóstico e alívio estão rodeados de mitos e incertezas”. (Pimentel, 2001)
Existem alguns mitos e ideias incorrectas acerca da dor na criança. O primeiro grande mito está relacionado com a imaturidade do sistema nervoso, como já foi referido. Isto levava a pensar que a dor não é sentida pela criança da mesma forma que pelos adultos. Estudos vieram revelar que esta ideia está errada, que o sistema neurológico, relacionado com a transmissão da dor, na altura do nascimento está completo e funcional. O segundo mito está relacionado com a noção de que a criança metaboliza os analgésicos de uma forma diferente dos adultos, devido à imaturidade do fígado. Esta noção levava a que os profissionais pensassem que os analgésicos, principalmente os narcóticos levariam a intoxicações e graves depressões respiratórias. Estudos em 1988 demonstraram que as crianças com 1mês de idade, têm a mesma capacidade de eliminação dos narcóticos que os adultos. O terceiro mito está relacionado com ideia de que as crianças não têm memória da dor, pois a dor provoca desconforto e pensa-se que quando a dor termina, o desconforto também termina. Estudos recentes demonstraram que existem alterações comportamentais aquando da dor, como a irritabilidade, alterações na alimentação e no sono, no controlo dos esfíncteres, entre outros. O último mito está relacionado com a preocupação de se pensar que tanto as crianças como os adultos, ao serem tratados com narcóticos, habituam-se tornando-se toxicodependentes. Com os conhecimentos da farmacologia dessas drogas e o surgimento de novas medicações, a sua utilização mostrou-se altamente segura e eficaz, não se verificando tais efeitos quando utilizadas criteriosamente. (Pimentel, 2001)
A Associação Portuguesa para o Estudo da Dor (APED) em 2006 realizou um concurso de desenhos infantis realizados por crianças hospitalizadas, intitulado “ Vou desenhar a minha dor ”. A principal conclusão deste é que a dor tem uma enorme importância para as crianças e continua a ser muito menosprezada pelos adultos que delas cuidam e que as crianças têm noção de que a dor tem uma componente física, mas também uma componente psíquica e emocional, demonstrada em alguns desenhos, e que é possível combatê-la com sucesso desde que estejamos alertados para ela. (Lopes, 2006)
Já não é aceitável que a dor na criança seja menosprezada. A pesquisa permitiu o desen-volvimento de vários instrumentos que podem ser utilizados para medir a intensidade da dor experimentada por crianças. (Price, 1995). Contudo não podemos esquecer-nos que as crianças são diferentes umas das outras; umas negam a dor para se mostrarem valentes, outras exageram-na para chamar atenção. (Pimentel, 2001)
4. Dor no adulto e no idoso
“Estou aqui! Cuido de ti! Acredito na tua dor!”
É frequente pensar que a dor é consequência do avançar da idade. (Vasconcelos, 2006).
De todos os sinais e sintomas da doença, a dor é a mais frequente e importante na pessoa (Santos, 2003).
A dor é pois uma entidade sensorial múltipla que envolve aspectos emocionais, sensoriais, culturais, ambientais e cognitivos. Varia de pessoa para pessoa, relacionando-se com o ambiente cultural, o significado atribuído a situações anteriores e capacidade de compreender causas e consequências da mesma. (Santos, 2003).
A dor no adulto e no idoso é pois compreendido como um fenómeno complexo conotado pela sua subjectividade e multidimensionalidade, sendo influenciada por factores como a idade, género, tipo de educação, experiências de dor ao longo da vida, emocionais, culturais (Marques, 2006).
A dor não é entidade mensurável e definida, mas sim uma experiência desagradável e pes-soal. É pois, exactamente aquilo que a pessoa refere que é. (Diamond, 1999).
Emoções e fantasias são muitas vezes marcadas pela dor, que podem incapacitar, traduzindo sofrimento, incertezas, medo da incapacidade, desfiguração e morte. De cultura para cultura a dor é percebida de maneira diferente. Dor e cultura estão interligadas, especialmente quando respostas comportamentais estão relacionadas com regras e tradições.
Ansiedade, atenção e dor, relacionam-se mutuamente. Se uma pessoa concentra a sua atenção na dor, sentirá com maior intensidade, do que uma pessoa que encara a dor com normalidade. Quando se pensa antecipadamente na dor, vai criar-se uma ansiedade crescente e consequentemente a intensidade com que a dor vai ser percebida será maior. (Santos, 2003)
A dor constante é assustadora e deprimente. Perdia-se assim o bem-estar e o prazer das actividades da vida diária, retirando-se assim grande parte do prazer, surgindo a depressão, interferindo no sono, surgindo infelicidade, consequentemente a pessoa fica ansiosa, aumentando a dor dando origem a uma espiral progressiva de deterioração. (Diamond, 1997).
A dor perturba uma grande quantidade de pessoas, afectando o desempenho de todas as actividades humanas básicas, que são inerentes à nossa sobrevivência. (Santos, 2003).
5. Teoria do Portão/ Percepção da dor
A teoria do portão do controlo da dor é antiga, mas parece-nos importante na medida em que aborda o fenómeno da dor numa perspectiva múltipla, considerando que existem factores fisiológicos, emocionais e comportamentais que podem potenciar ou diminuir a dor.
Melzack e Wall (1982), desenvolveram a teoria do portão do controlo da dor, sugerindo que a dor devia ser compreendia em termos de uma via estímulo - resposta, sendo esta complexa e mediada por uma rede de processos interactivos (Odgen, 2004).
Os autores anteriormente citados sugerem que existe um portão ao nível da medula espinal que recebe informação das fibras nervosas periféricas, que enviam a informação sobre a dor para o portão, proveniente do local da lesão. Posteriormente o cérebro envia para o portão, por influência das fibras centrais descendentes, informação relacionada com o estado psicológico do indivíduo, que reflecte o seu estado comportamental, emocional e as suas experiências anteriores.
O portão integra as informações destas diferentes fontes e produz uma saída de informa-ção. Esta, sai do portão e é enviada para um sistema de acção de que resulta a percepção da dor.
Quanto mais o portão está aberto, maior é a percepção da dor. Melzack e Wall, consideram que factores físicos (lesões), emocionais (ansiedade), e comportamentais (pensamento fixo na dor), influenciam a abrir o portão. Por consequente, fechar o portão reduz a percepção da dor, através da medicação, optimismo, relaxamento, distracção ou envolvimento noutras actividades. (Odgen, 2004).
6. Consideraçoes finais.
6.1. Vias Nervosas Periféricas da Dor
Há duas vias neuronais ascendentes para a dor: a lenta e a rápida.
A via rápida ou do trato neoespinotalâmico é a mais recente evolutivamente. É iniciada por estímulos mecânicos ou térmicos principalmente. Ela utiliza neurónios de axónios rápidos (isto é de grande diâmetro), as fibras A-delta (12-30 metros por segundo). Esta é a via que produz a sensação da dor aguda e bem localizada. O seu neurónio ocupa a lâmina I da Medula Espinhal e cruza imediatamente para o lado contrário. Aí ascende na substância branca na região antero-lateral até fazer sinapse principalmente no Tálamo (núcleos postero-lateral-ventrais), mas também na formação reticular.
A via lenta ou do tracto paleoespinotalâmico é a mais primitiva em termos evolutivos. É iniciada pelos fatores químicos. Ela utiliza axónios lentos de diâmetro reduzido e velocidades de condução de apenas 0,5 a 2 m/s. Esta via produz dor mal localizada pelo individuo e contínua. O seu neurónio ocupa a lâmina V da Medula Espinhal e ascende depois de cruzar para o lado oposto no tracto antero-lateral, as vezes não cruzando. Fazem sinapse na formação reticular, no coliculo superior e na substância cinzenta peria-queductal
6.2. Sistemas Analgésicos
A intensidade com que pessoas diferentes sentem e reagem a situações semelhantes causadoras de dor é bastante variada. Esta variação deve-se não tanto a uma activação diferente das vias da dor mas a uma facilidade diferente nos indivíduos na activação das vias analgésicas naturais. A via analgésica principal tem 4 componentes principais de modulação para a percepção da dor, no ser humano:
1. As áreas cinzentas periaquedutais e periventriculares do Mesencefalo e Ponte superior, em volta do aqueducto de Sylvius enviam axónios que segregam encefalinas, que são opioides naturais (actuam no receptor dos opioides).
2. Núcleos Magno da Rafe e Reticular Gigantocelular, localizados na ponte inferior e medula superior, recebem os axónios das áreas periaqueductais, e enviam os seus para as colunas dorsolaterais da medula espinhal, onde libertam serotonina.
3. Núcleos de interneurónios na Espinhal Medula dorsal, localizados na substância gelatinosa, inibem a criação de potenciais de acção ao libertar encefalinas e endorfinas na sinapse local com os neurónios aferentes da dor.
6.3. Sistema de Gate Control
Ou Teoria das Comportas. É outro mecanismo analgésico, proposto por Melzack & Wall (1965), de importância local. A estimulação de grande numero de fibras aferentes Aβ após estímulos tácteis no mesmo segmento activa interneurónios produtores de encefalinas, que inibem as fibras C da dor. Virtualmente todas as pessoas conhecem e fazem uso do "Gate Control", mesmo que de maneira inconsiente. Quem nunca instintivamente massageou um local onde, em virtude de uma pancada, estava sentindo dor? A massagem estimula as fibras aferentes Aβ, que por sua vez levam a uma analgesia no local dolorido.
6.4. Tipos de Dor
A respeito da terminologia referente à dor, pode-se esclarecer os seguintes aspectos: O limiar de dor fisiológico, estável de um indivíduo para o outro, pode ser definido como o ponto ou momento em que um dado estímulo é reconhecido como doloroso. Quando se usa calor como factor de estimulação, o limiar doloroso situa-se em torno dos 44°, não só para o homem como também para diferentes mamíferos (símios, ratos). Limiar de tolerância é o ponto em que o estímulo alcança tal intensidade que não mais pode ser aceitavelmente tolerado e, na mesma experiência, alcança os 48°. Difere do fisiológico porque varia conforme o indivíduo, em diferentes ocasiões, e é influenciado por factores culturais e psicológicos. Resistência à dor seria a diferença entre os dois liminares. Expressa a amplitude de uma estimulação dolorosa à qual o indivíduo pode aceitavelmente resistir. É também modificada por traços culturais e emocionais, e ao sistema límbico cabe a modulação da resposta comportamental à dor. Para efeito de classi-ficação médica a dor é dividida em duas categorias: as agudas, que têm duração limitadas e causas geralmente conhecidas, e as crónicas, que duram mais de três meses e têm causa desconhecida ou mal definida. Esta última categoria de dor aparece quando o mecanismo de dor não funciona adequadamente ou doenças associadas a ele tornam-se crónicas.
6.5. Significado Evolutivo
A dor é uma qualidade sensorial fundamental que alerta os indivíduos para a ocorrência de lesões de tecidos orgânicos, permitindo que mecanismos de defesa ou fuga sejam adoptados. Embora possa parecer estranho, a dor é um efeito extremamente necessário. É o sinal de alarme do surgimento de algum dano ou lesão. Por exemplo em certas doenças como a hanseníase podem ocorrer lesões nas terminações nervosas, tais, que a dor deixa de ser percebida. Isto faz com que com o passar do tempo ocorram lesões que podem vir a desfigurar o portador. Como o doente não sente dor, acontece por exemplo de cortar um dedo com a faca sem o perceber. Ou, em lugares onde as condições de vida são muito precárias (como nos tempos antigos eram os lugares onde os doentes eram confinados) ter-se uma parte do corpo comida por ratos. É no fundo um estado de consciência com um tom afectivo de desagrado, às vezes muito elevado, acompanhado de reacções que tendem a remover ou evadir as causas que a provocam. Ela é produzida por alterações na normalidade estrutural e funcional de alguma parte do organismo.
6.6. Avaliação da Dor
A dor deve ser quantificada para um melhor tratamento, para tal existem vários instru-mentos de avaliação sendo que os mais usuais são:
1. Escala Visual Analógica (EVA) varia de 1 a 10
2. Escala Numérica
3. Escala Qualitativa
4. Escala de Faces
Estes instrumentos de avaliação são unidimensionais, permitindo quantificar apenas a intensidade da dor. Os mecanismos ideais de avaliação são multidimensionais, levando em conta a intensidade, localização e o sofrimento ocasionado pela experiência dolorosa. Um exemplo de método multidimensional para avaliação da dor é o questionário McGill, proposto por Melzack. Hoje em dia e cada vez mais nos locais onde se prestam cuidados de saúde se pretende quantificar a dor de modo a sua eliminação tornando assim maior a qualidade de vida dos utentes.
7. Bibliografia.
• Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. Consultado pela última vez a 1 de Abril 2008. Disponível em http://www.apeddor.org/scid/apedWeb/defaultCategoryViewne.asp?categoryId=42.
• Fial J. (2000). Uma Visão Biopsico-social. Consultado pela última vez a 4 de Abril 2008. Disponível em http://www.forumdor.org/documentos/visao_biopsico.pdf
• Http//www.icb.ufmg.br, consultado pela ultima vez em 6 de Abril de 2008.
• Lopes, C. (2006). A dor na criança. Mundo Médico, Nº. 48, pág.12-13.
• Odgen, J. (2004). Psicologia da saúde. – 2ª Edição revisada e ampliada. Lisboa: Climepsi, ISBN 972–976–092–8.
• Pimentel, J. (1992). A dor na criança. Divulgação, Nº. 24, pág.10-15.
• Pimentel, M. (2001). Mitos e ideias incorrectas acerca da dor na criança. Nursing, Nº. 154, pág. 27-31.
• Price, S. (1995). Avaliando a dor na criança. Nursing, Nº. 95, pág. 32-33.
• Vandenberghe L. & Ferro C. (2005). Terapia de grupo embasado em psicoterapia analítica funcional como abordagem terapêutica para a dor crónica: possibilidades e perspectivas. Volume 7, p.137-151. Consultado pela última vez a 3 de Abril 2008. Disponível em http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ptp/v7n1/v7n1a11.pdf.
Ana Duarte **
Ana Teresa**
Catarina Gomes**
Joana Mendes**
Mariana Silva**
Marisa Seixas**
Marta Batista**
Patrícia Gouveia**
Sara Oliveira**