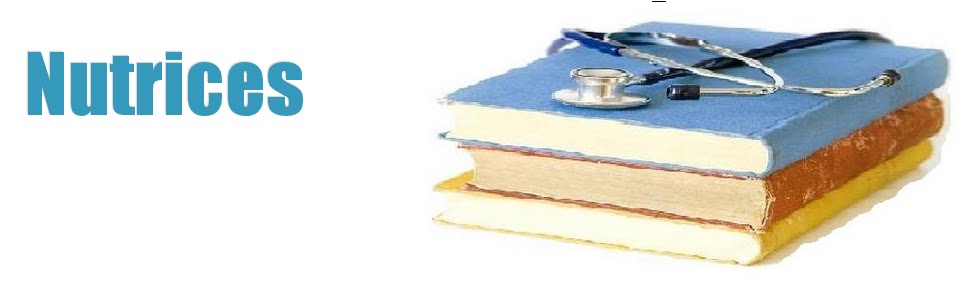A leucemia é uma doença causada por alterações que ocorrem durante o processo de formação do sangue dando origem a células (glóbulos brancos) que não completam o seu amadurecimento e têm alta taxa de proliferação ou acumulação desregulada. Estas células têm aspecto diferente do habitual, não funcionam adequadamente, acabando por substituir os elementos normais da medula.
A causa é desconhecida, mas existe alguma evidência da participação da influência genética e de patogénica viral, e por exposição a irradiação ou a substâncias químicas (benzeno).
Com frequência, as leucemias são classificadas, de acordo com a linhagem celular afectada, as linfocíticas (vasos linfáticos) e as mielocíticas (medula óssea), e segundo a maturidade das células malígnas, em agudas (células imaturas) ou crónicas (células diferenciadas).
O que são as leucemias crónicas?
Existem vários tipos de leucemias crónicas consoante as células alteradas. Por um lado, temos os síndromes linfoproliferativos crónicos e, por outro, os síndromes mieloproliferativos crónicos.
Os síndromes linfoproliferativos crónicos são uma série de perturbações produzidas pelo aumento descontrolado (de carácter neoplástico) de linfócitos de aspecto maduro e que colaboram numa infecção periférica. A maioria destes síndromes são produzidos pelo crescimento e multiplicação anormal dos linfócitos B. A leucemia linfática crónica é, dentro destes síndromes, a mais frequente na população ocidental.
Os síndromes mieloproliferativos devem-se a alterações das células mãe formadoras de sangue, que provocam o aumento do número de células precursoras e das células maduras que derivam delas.
História da Leucemia
Desde o primeiro relato dessa doença como uma entidade clínica, em 1845, até aos dias actuais, é notável a evolução ocorrida no entendimento da biologia das leucemias.
Durante este periodo, as doenças hematológicas serviram como modelo para o desenvolvimento dos conceitos actuais da imunologia, principalmente nas áreas da diferenciação linfocitária e da genética molecular. De maneira complementar, o desenvolvimento dessas áreas, juntamente com os avanços técnicos no campo da imunologia, permitiram um maior entendimento das leucemias.
As leucemias representam um grupo heterogéneo de doenças clonais de percursores hematopioéticos, caracterizadas por anomalias quantitativas e qualitativas. Devido à extrema heterogeneidade das entidades englobadas sobre a mesma denominação, tanto no aspecto clínico como no comportamento biológico, é fundamental a utilização de critérios diagnósticos precisos para a sua classificação.
Recentemente, métodos diagnósticos mais sofisticados (imunológicos e moleculares) redefiniram a classificação das leucemias de acordo com a origem celular, linfoide (B ou T e maturidade celular) e mielóide, além do tipo de anormalidade genética envolvida.
A classificação das leucemias segundo esse critério tem grande importância na terapêutica e, por tanto, na resposta obtida.
A terminação da origem celular irá influenciar directamente a conduta clinica, já que a partir dela se saberá se a leucemia é linfóide ou mielóide, levando a dois caminhos clínicos totalmente diferenciados. Além disso, o reconhecimento da origem celular nas leucemias linfoides (B ou T) também fornece informação importante para a estratificação inicial da conduta clinica a ser adoptada.
A metodologia padrão para classificação das leucemias inclui morfologia, citoquimica, estudo de marcadores celulares (citometria de fluxo), citogenética e análise molecular. Já a sua avaliação preliminar inclui o hemograma, que fornece dados essenciais como a contagem global, diferencial, o comprometimento da hematopoiese e a morfologia dos leucócitos.
Uma vez sugerido o diagnóstico de leucemia, é necessária a avaliação morfológica do aspirado de medula óssea para a sua confirmação.
Citometria de fluxo
Marcadores de superfície celular são proteínas de membranas detectadas por meio de anticorpos monoclonais marcados com substâncias fluorescentes. Estas diferentes proteínas são expressas em diversas fases de maturação, o que permite que sejam utilizadas com marcadores de tipo e estágio.
Alem da caracterização dos antigenios expressos pelas células envolvidas, a citometria de fluxo fornece informação quanto ao tamanho e à granulosidade celular. O gráfico obtido permite uma analise preliminar da população investigada, na qual se delineiam as áreas correspondentes a linfócitos, monocitos, granulócitos, células plasmáticas e regiões de blatos linfoides ou mielóides, quanto presentes.
Medula Óssea – Constituição do Sangue
Composição do Sangue
A medula óssea, que está no interior dos ossos, é composta por células hematopoiéticas, por células gordas e tecidos de sustentação. As células mãe hematopoiéticas reproduzem-se continuamente para formar novas células. Algumas destas, serão por sua vez novas células mãe e outras, ao amadurecerem, transformar-se-ão em glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas.
Os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias têm como função, através de um componente chamado hemoglobina (proteína), transportar o oxigénio dos pulmões para os tecidos e o monóxido de carbono em sentido contrário. As hemácias são produzidas à razão de um a dois milhões por segundo. Se estes valores diminuem, produz-se uma anemia e a quantidade de oxigénio que chega aos tecidos não é suficiente.
As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea, cuja função principal está relacionada com o mecanismo de coagulação. Se não há quantidade suficiente de plaquetas, quando ocorre um traumatismo que atinge os vasos sanguíneos, dá-se uma hemorragia devido à falta do elemento “tampão”.
Os glóbulos brancos ou leucócitos participam na defesa do organismo frente a qualquer microorganismo patológico, também actuando destruindo células cancerígenas. Os glóbulos brancos podem ser de três tipos de células: linfócitos, monócitos e granulócitos.
A célula imatura dos granulócitos denomina-se mieloblasto (de onde deriva o nome leucemia mielóide). Uma vez maduros, diferenciam-se em três tipos de células chamadas neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que se distinguem pelo tamanho e pela cor dos seus grânulos. Estes grânulos contêm enzimas e outras substâncias que combatem a acção dos elementos químicos que produzem os microorganismos invasores.
Os monócitos protegem o organismo das bactérias. Da mesma maneira, os granulócitos sofrem um processo de maturação, denominando-se no início monoblastos. Circulam pelo sangue durante 24 horas, passando depois para os tecidos onde se convertem em macrófagos, destruindo assim os germes.
O tecido linfático encontra-se em zonas do corpo distintas como os gânglios linfáticos, o baço, o timo, as amígdalas, as adenóides e a medula óssea. Este tecido é formado por diferentes tipos de células, a principal denomina-se linfócito e, entre outras funções, encarregam-se da defesa do organismo. Há dois tipos de linfócitos: linfócitos B e linfócitos T.
Os linfócitos B reconhecem as bactérias e unem-se a elas. Os granulócitos e os monócitos só podem reconhecer e destruir as bactérias quando os linfócitos estão unidos a elas.
Os linfócitos T reconhecem as células infectadas por vírus e destroem-nas com a ajuda de macrófagos.
Leucemia Linfática Crónica (LLC)
A leucemia linfóide crónica associa um normal desenvolvimento linfóide a uma inflamação da medula óssea por um aumento descontrolado de linfócitos.
Esta doença e uma neoplasia de linfócitos B activados, em que as células de LLC, que se assemelham a sua morfologia aos pequenos linfócitos maduros no sangue periférico, acumulam-se em grande numero na medula óssea, no sangue, nos linfonodos e no baço.
Em geral, a doença é observada em doentes com mais de 50 anos de idade, e nunca se observam nas crianças, sendo mais frequente no sexo masculino (60 a 80% dos casos).
Na maior parte dos casos não se encontra hereditariedade homóloga salvo algumas referencias da literatura.
Quanto a distribuição racial e nítida a preferencia pelos Judeus e a raridade entre os Chineses e Japoneses.
Etiologia e factores de risco
A leucemia linfóide crónica é adquirida, de etiologia ainda não determinada, porém, alguns factores estão a elas associados.
Factores genéticos: não há relato de gémeos idênticos de LLC, porém, familiares de pessoas com LLC tem chance duas a sete vezes maiores de desenvolver essa doença, além de outras neoplasias de células B e de doenças auto-imunes.
Factores ambientais: há associações entre a LLC e exposição a alguns produtos químicos usados na agricultura. Não há nenhuma relação entre radiação ou produtos químicos e LLC.
Existem algumas evidencias de que alguns vírus podem estar ligados à LLC, entre eles o HTLV- I e o HTLV-II, e o vírus Epstein-Barr, causador da mononucleose infecciosa, mas nada ainda comprovado.
O inicio da doença costuma ser insidioso não sendo fácil de situar, exactamente, no tempo a primeira sintomatologia.
Nalguns casos, sobretudo em indivíduos de avançada idade a doença é um achado fortuito de observação e falta toda a anamnese. Encontra-se, então, massas ganglionares superficiais de tamanhos variáveis que não provocam quaisquer compressões ou incómodos, pelo que escapam a atenção aos doentes. É mais frequentes que estas tumefacções ganglionares sejam dos grupos cervicais ou axilares e não é raro que sejam de localização de um só destes grupos.
Outros dos sinais evidentes neste tipo de doentes são a fatigabilidade face, mal estar geral, perda progressiva de peso, síndromes febris resultantes de infecções várias (em geral das vias respiratórias), sintomas de anemia (provoca palidez, cansaço, insuficiência respiratória e taquicardia), dores abdominais, sensação de peso no hipocôndrio esquerdo provocada pela esplenomegalia, sintomas cutâneos (infiltrações, bem como prurido). São raridades os quadros iniciados por hemorragias ou processos necróticos.
Alguns doentes queixam-se de sensações de calor que os obriga a procurar o frio e que se explica pelo o aumento do metabolismo basal.
Ao longo da doença denota-se uma diminuição do número de células existentes no sangue, como são as hemacias e plaquetas sanguíneas.
Figura 2 – micose fungóide
Exames complementares
Em geral, o diagnóstico de LLC pode ser estabelecido baseando-se no exame físico e na análise do esfregaço do sangue periférico. É comum a presença de linfocitose, e as células malignas tipicamente aparecem na forma de linfócitos pequenos de morfologia normal. A expressão dupla de antígenios de células B com um antígenio de células T sobres as células é geralmente diagnóstico de LLC. Na maior parte dos casos, é possível demostrar uma imunoglobulina monoclonal sobre a superfície celular, apesar de a coloração imonofluorescente ser relativamente fraca.
O maior problema de diagnostico põe-se nas situações muito raras, em que não há gânglios palpáveis nem demostráveis com os raios X e o exame de sangue não fornece dados conclusivos. Situações deste tipo encontram-se nas chamadas formas subleucémicas ou aleucémicas que, por vezes, são indistiguíveis, durante muito tempo, do linfossarcoma.
O exame histológicos, que mostra a constituição da estrutura ganglionar normal por uma infiltração difusa de linfócitos maduros, não pode, por si só, resolver o problema, tanto mais que, em certos casos, se encontram atipias (polimorfismo celular, aumento do número de mitoses, crescimento invasor da cápsula, entre outros) que estabelecem todas as transições para o linfossarcoma.
No que respeita às de sede intratorácica, a explicação assenta no facto de que não só não crescem até atingirem grandes dimensões como não são habituais os fenómenos compressivos tão correntes noutras adenopatias sistematizadas. Por isso, a sua revelação só se faz, em regra, pelo exame radiológico pois não há sinais broncoscópicos evidentes (falta de compressão, mobilidade traqueobrônquica conservada por não haver invasão das estruturas periganglionares). As localizações abdominais podem produzir queixas vagas ou quadros de ascite por compressão do sistema porta.
Contudo, massas palpáveis só é frequente observar-se nas fases avançadas do processo, pelo que nesta altura já não fornecem grandes elementos para o diagnóstico diferencial.
Estão descritos casos sem esplenomegalia e sem adenopatias demonstráveis que põe problemas de diagnóstico diferencial muito difíceis, sobretudo porque podem não ser muito patentes as alterações hemáticas. Outro aspecto difícil de caracterizar é o da esplenomegalia sem adenopatias notáveis e sem grandes alterações no sangue periférico. Tais situações estabelecem a transição para a lifossarcomatose.
Como na leucemia linfática crónica a esplenomegalia resulta da infiltração maciça do órgão por linfócitos com substituição do parênquima normal, o diagnostico da doença pode-se fazer por punção esplénica que revelará mais de 90% de linfócitos.
Os sintomas referidos anteriormente constituem os elementos mais constantes da sindrome e são, por tanto os pilares do diagnóstico clinico. No entanto, o quadro leucémico pode ser enriquecido pela a participação de outros sectores.
A contagem globular pois em evidencia uma anemia habitual, mas moderada, um número normal de plaquetas, um número elevado de leucocitos, à volta de 100000. esta hiperleucocitose é constituída por leucocitocitos que parecem absolutamente normais observados ao microscópio; polinucleares e monócitos são igualmente normais.
A punção de medula óssea mostra que esta é rica em linfócitos (é preciso recordar que no estado normal há poucos linfócitos na medula, que não os produz.
A punção e a biopsia dos gânglios mostram o seu anormal desenvolvimento: contêm inúmeros linfócitos.
O estudo das proteínas do sangue pela electroforese, e até a imunoelectroforese mostra, na grande maioria dos casos, que as gamaglobulinas (ou anticorpos) estão diminuídas.
Observações ao microscópio
 |
| Figura 3 – Sangue periférico, coloração de Leishmans |
 |
Figura 4 – Sangue periférico, coloração de Hotchkiss |
 |
Figura 5 – Enriquecimento de leucócitos |
Evolução da doença / Estádios
Existem dois tipos de sistema de estágios que integram dados sobre a massa tumular pelo que noutros preside a progressão da doença. Estes sistemas são de Binet, que se utiliza mais na Europa, e de Rai, que se implantou nos Estados Unidos.
As etapas de Rai divide-se em categorias de baixo risco, intermédio e alto. A etapa 0 é considerada de baixo risco, as etapas 1 e 2 de risco intermédio, e as etapas 3 e 4 como de alto risco.
O sistema de classificação de Binet é baseado no número de área ganglionar afectada (gânglios cervicais, axilares, fígado e baço) e a presença ou a ausência de anemia ou trombocitopenia.
Segundo Rai
Estádio 0 – Linfocitose (>15.000/mm3)
Estádio I – Linfodenopatia
Estádio II – Esplenomegalia/Hepatomegalia
Estádio III – Anemia, Hb<11g/ mm3
Estádio IV - Trombocitopenia; plaquetas< 100.000/ mm3
Segundo Binet
Estádio A – menos de três áreas glanglionares aumentam de tamanho. Não há anemia nem trambocitopenia
Estádio B – mais três áreas glanglionares afectadas.
Estádio C – Anemia e Trombocitopenia
Tratamento
Quando um paciente portador de leucemia linfocitica crónica necessita de tratamento cabe ao seu médico, baseado nas suas condições clinicas e na análise da literatura escolher o tratamento inicial e as abordagens subsequentes.
Devido à natureza indolente da LLC, tem havido pouco empenho na busca de uma terapia curativa. Tipicamente, os agentes são administrados visando ao controlo da doença, embora diversos centros estejam explorando estratégias com objectivos de cura. Os esquemas experimentais ainda não prolongaram significativamente a vida dos pacientes.
O valor destes grupos de prognóstico está a mudar com o uso crescente de terapias mais adequadas.
Podem considerar-se, fundamentalmente as seguintes armas terapêuticas:
Quimioterapia – de uma maneira geral, há uma tendência para não ser imediato na indicação terapêutica de LLC enquanto não há sintomas de doença ou sinais de grande invasão medular ou ganglionar. Nestas condições costuma preferir-se o Clorambucil que se administra nas doses de 0,15 – 0,20 mg/Kg/dia com rigoroso controlo hematológico de maneira a prevenir as leucopenias e trombocitopenias que este medicamento pode produzir. A duração do tratamento costuma ser de cerca de 1-2 meses com estas doses, passando então, se necessário, para um tratamento de manutenção com doses de cerca de 0,1 mg/Kg/dia. Nos casos com trombocitopeneia acentuada (abaixo de 50000/mm3 ) é preciso ter muito cuidado ou, de preferencia, usar a Ciclofosfamida, que se prescreve nas doses de 100-200 mg diários, isto é, cerca de 2-3 mg/Kg/dia.
Com menos frequência se usa a mostarda azotada e a trietilenamelamina que, no entanto, são bastante mais tóxicos que o Clorambucil ou a Ciclofosfabida.
Em presença de discrasia hemorrágica portrombocitopeneia ou anemia hemolitica pode recorrer-se aos corticosteróides. Por outro lado, tem-se verificado que a administração de prednisona em doses medianas (40-60 mg/dia) pode determinar remissão do quadro clinico e laboratorial, pelo que mais uma arma a considerar como coadjuvante ou alternante com outras quimioterapias.
Especialmente antes e durante o tratamento citostático, pode ser muito utiol a prednisona para impedir a tendência discrásica.
Radioterapia – usa-se para o tratamento sintomático das adenopatias, da esplenomegalia e da anemia hemolítica. Contudo, os benefícios da terapêutica não costumam ser tão potentes como na leucemia mielóide crónica.
A irradiação total do corpo tem, como a irradiação extracorporal do sangue, sido aconselhada com resultados discutíveis. O fósforo radiactivo não parece oferecer vantagem sobre as radiações já referidas.
Terapêutica sintomática – incluem as transfusões, os corticosteróides já referidos, o uso da testosterona como estimulante medular, o controlo das infecções com antibióticos e gama-globulina, e a administração de alopurinol como preventivo da nefropatia úrica.
Medicamentos
A fludarabina é aprovada pela terapia da LLC é tão eficaz quanto a terapia com agente alquilante em pacientes tratados e não tratados, com índices de resposta de 50% a 80%. De forma semelhante, a 2-clorodesoxiadenosina é bastante eficaz na doença resistente à fludarabina.
Os glicocorticóides possuem efeitos colaterais significativos, incluindo a predisposição a infecções oportunistas, de modo que eles não devem ser utilizados rotineiramente na LLC.
Os esquemas que incluem um agente alquilante, vincristina, doxorubicina e prednisona são utilizados com frequência.
Leucemia Mielóide Crónica (LMC)
A leucemia mielóide crónica é um distúrbio clonal adquirido (não hereditário) de células primordiais caracterizado por um acentuado aumento da mielopoiese e presença do cromossoma Philadelphia (Ph). Esse cromossoma representa uma translocação do proto-oncogene Abelson (abl) do cromossoma 9 para a região de pontos de ruptura (bcr) do cromossoma 22, com formação de um gene de fusão denominado bcr-abl.
O cromossoma Ph resulta de uma troca de ADN dos braços longos dos cromossomas 9 e 22 que formam a tanslocação (9;22) (q34;q11). Essa reorganização cria um gene de fusão bcr-abl, que é responsável pela expressão de um novo produto proteico bcr-abl. As translocações comuns resultam em proteínas bcr-abl de 210 (p210) e 190 (p190) kDa, que diferem na quantidade de resíduos de aminoácidos bcr incluídos. A proteína p190 está principalmente associada à leucemia aguda pH-positiva, enquanto a p210 é encontrada tanto na LLA pH-positiva quanto na LMC. Construtos retrovirais incorporando os genes bcr-abl da p210 e da p190 foram introduzidos em células medulares de camundongos e transplantados em outros submetidos a irradiação letal. Verificou-se o desenvolvimento de uma variedade de neoplasias hematopoiéticas, incluindo um distúrbio semelhante à LMC, leucemia linfoblástica, histiocitose e eritroleucemia. Foram criados camundongos trangénicos, nos quais cada célula transportava um gene bcr-abl da p190, as leucemias que surgiram foram principalmente de linfoblastos-B.
A transcrição do gene de fusão bcr-abl produz um ARN mensageiro híbrido, que é consequentemente traduzido em proteína de 210 ou 190-kDa, que, por sua vez, é maior do que o produto génico normal c-abl de 145-kDa. É possível que a proteína bcr-abl favoreça o crescimento das células LMC, em virtude do aumento da actividade da proteinoquinase, que pode amplificar os sinais proliferativos normais. Por conseguinte, na LMC, ocorre expansão de componentes condicionados dos precursores mielóides associados à superprodução de elementos mielóides maduros. A instabilidade genética no clone da LMC resulta, aparentemente, em transformação subsequente numa fase leucémica aguda, com anormalidades cromossómicas adicionais, incluindo um duplo cromossoma Ph.
Ao utilizar a reacção da cadeia de polimerase (RCP), é possível detectar a existência de sangue residual mínima na LMC ao amplificar o ARN e a fusão bcr-abl. O uso dessa técnica também pode confirmar o diagnóstico em pacientes que carecem de cromossoma Ph visível. São raros os pacientes com síndrome da LMC, em que não há nenhum cromossoma Ph, nem nenhuma evidência de rearranjo bcr-abl. Embora possam predominar células contendo o cromossoma Ph na medula óssea de pacientes com LMC, as células primordiais normais permanecem, porém, suprimidas pelo clone Ph-positivo. Essas células diplóides normais podem ser observadas após cultura em longo prazo de medula óssea in vitro e após tratamento com interferão ou quimioterapia em altas doses.
A leucemia mielóide crónica representa entre 15% e 20% de todas as leucemias.
A incidência máxima dá-se entre os 30 e os 50 anos, apesar de poder aparecer em qualquer idade e afecta ligeiramente mais os homens. A sobrevivência média é de 30 meses, que se alargam a 4 anos com o tratamento convencional.
Sintomas e sinais clínicos
• Tromboses arteriais e venosas
• Priapismo
• Perda de peso e de apetite
• Suor nocturno
• Fadiga
• Saciedade precoce
• Febre baixa constante (38ºC)
• Aumento do volume abdominal (esplenomegalia)
• Hipersensibilidade no externo
• Infecções frequentes
• Sangramentos
• Dores ósseas e articulares
• Rápida elevação de blastos no sangue
• Baço maior que 10cm no rebordo costal
• Manchas na pele
• Elevação dos níveis de ácido úrico
• Hematomegalia
• Trombocitose (fase avançada)
Estádios
Este tipo de leucemia divide-se em três fases:
Fase crónica: nesta fase há menos de 5% de blastos e de promielocitos (células imaturas) no sangue periférico e na medula óssea. Estes pacientes apresentam sintomas leves e respondem muito bem aos tratamentos habituais. Esta fase pode durar meses ou anos.
Fase acelerada: as amostras de sangue periférico e de medula óssea contêm entre 5% a 30% de blastos. Os sintomas que apresentam são febre, diminuição de apetite e perda de peso. Nesta fase os pacientes respondem pior ao tratamento, não desaparecendo todos os sintomas nem as células cancerígenas. Além disso as células leucémicas desenvolvem novas trocas cromossómicas, além do cromossoma Philadelphia.
Fase blástica: as amostras de sangue e medula apresentam mais de 30% de blastos. As células blásticas propagam-se a outros tecidos. A isto chama-se leucemia aguda muito agressiva.
Tratamento
A leucemia mielóide crónica é uma doença incurável na maioria dos casos. O tratamento tem por objectivo controlar os sintomas, prevenir a transformação blástica da doença e eliminar o problema clonal.
Dependendo da fase em que está a doença, assim se administra um tratamento ou outro.
Fase crónica
O tratamento tem esta sequência:
1. Transplante de medula óssea
2. Imunoterapia
3. Quimioterapia para reduzir o número de blastos
4. Cirurgia para extrair o baço (esplenectomia)
O tratamento consiste em quimioterapia em altas doses e radiação a todo o corpo seguido de um transplante alogénico de medula óssea.
Este tratamento não se recomenda a pacientes de idade avançada pois suportam pior os efeitos secundários do tratamento e têm maior probabilidade de morrer por alguma complicação relacionada com o tratamento.
O transporte alogénico de medula óssea é considerado o tratamento de eleição para os pacientes com menos de 50 anos.
Quando se transplanta células, de medula óssea ou sangue periférico, tendo o doador, familiar ou não, um tipo de sangue quase idêntico ao do paciente, fala-se de transplante alogénico.
Neste tipo de leucemia o transplante tem de ser alogénico, o ideal seria uma doação de algum familiar que partilhasse o mesmo tipo de sangue do paciente. Se não há, procura-se um doador compatível.
Até há muito pouco tempo era o único tratamento que curava a doença. A taxa de sobrevivência, desde há 5 anos, para os pacientes que receberam transplantes de familiares compatíveis está entre 50% e 66%. A taxa para os que receberam transplantes de doadores não familiares é de 33%. O valor das taxas aumenta em pacientes jovens e baixa nos que apresentam outras complicações clínicas.
Aqueles que não podem receber um transplante de medula por falta de doadores, recebem um tratamento de interferão-alfa ou imunoterapia. Ás vezes este tratamento é combinado com quimioterapia.
Os quimioterápicos mais habituais para esta doença são a hidroxiurea ou citarabina (ARA-C).
A taxa de sobrevivência para os pacientes tratados com interferão há 5 anos é de 66%.
Se a leucemia não responde ao interferão, este tratamento suspende-se mas mantém-se a quimioterapia visto que os efeitos secundários são muito fortes. Os medicamentos que se utilizam com mais frequência são hidroxiurea ou busulfan.
O busulfan actua sobre os precursores do sangue inibindo o seu aumento de forma prolongada. Administra-se por via oral, e num prazo de 2 a 3 semanas controla o número de leucócitos, provocando um alívio dos sintomas. Algumas complicações podem vir a acontecer devido ao tratamento, como as fibroses pulmonar, supra-renal e infertilidade.
A hidroxiurea é o fármaco preferido para o tratamento da leucemia mielóide crónica em fase crónica. O fármaco actua sobre o ADN e induz à diminuição dos leucócitos. Também controla os sintomas da doença. É necessária a administração permanente do medicamento e controlo periódico para ajustar as doses. Administra-se por via oral e produz poucos efeitos secundários.
O interferão é uma substância que tem propriedades, antivíricas e antiproliferativas, que moldam o sistema imunitário. Na leucemia mielóide crónica produz a diminuição das alterações hematológicas em mais de 70% dos casos e também leva a uma diminuição das alterações genéticas num terço dos doentes. A sobrevivência e o tempo de evolução da doença são ligeiramente superiores. A administração é por via intravenosa e o tratamento acaba por ser mais caro que os anteriores. Os efeitos secundários são febre, dor muscular, dor articular, cansaço e depressão.
A taxa de sobrevivência de doentes tratados com quimioterapia é de 50% no início. Este prognóstico diminui se a quimioterapia for administrada depois de um tratamento de interferão fracassado.
Se a leucemia reaparece depois do transplante de células mãe, as opções de tratamento são administração de interferão, e quimioterapia ou infusão de leucócitos do mesmo doador do transplante de células mãe.
A esplenectomia consiste na extracção do baço quando este está já grande demais e provoca dor.
Fase acelerada
Realiza-se com os seguintes tratamentos:
1. Transplante de medula óssea
2. Quimioterapia para reduzir o número de glóbulos brancos
3. Transfusões de sangue ou apenas de alguns elementos sanguíneos para aliviar os sintomas
Nesta fase o tratamento é semelhante ao da fase crónica. Mas os pacientes estão menos sujeitos a uma recuperação prolongada depois do tratamento.
Cerca de 15% dos pacientes com fase acelerada da leucemia vivem vários anos depois do transplante de células mãe. Aqui o interferão é menos eficaz. Geralmente a recuperação dura menos de 6 meses.
Se surgirem sintomas pela diminuição de algum elemento sanguíneo podem-se fazer transfusões.
Fase blástica
Realiza-se com os seguintes tratamentos:
1. Quimioterapia
2. Transplante de medula óssea
3. Radioterapia para aliviar os sintomas causados por tumores formados nos ossos
Os pacientes que se encontram nesta fase da doença são resistentes à quimioterapia. Só uma minoria possui células blásticas parecidas às células da leucemia linfoblástica aguda. Estas células são mais sensíveis aos medicamentos da quimioterapia, tais como vincristina, prednisona e doxorrubicina.
O transplante alogénico, se não se dispõe de doador, deve realizar-se apenas em pacientes com menos de 40 anos.
Infecção meníngea
Trata-se da seguinte maneira:
1. Quimioterapia intratecal
2. Radioterapia ao cérebro
Aplica-se estes tratamentos quando os sintomas se estendem ao sistema nervoso. Para os aliviar realiza-se quimioterapia ao líquido encéfalo-raquidiano ou realiza-se radioterapia ao cérebro.
Observações ao microscópio
Conclusão
O prognóstico da leucemia mielóide crónica é sempre fatal, variando o tempo de sobrevivência a partir do estabelecimento do diagnóstico entre 1 e 20 anos. Contudo, a grande maioria dos casos termina antes de 10 anos, quase sempre pela quantidade de células imaturas no sangue periférico ou por trombocitopenia.
O quadro da doença constuma-se estabelecer-se lentamente, somando-se os vários sintomas através do tempo, embora sejam intervalados por remissões de duração variável. A regra é o quadro ir-se agravando aos poucos com a esplenomegalia progressiva, diminuição de capacidade de esforço, emagrecimento paulatino, até surgir o acidente terminal.
No caso da leucemia linfóide crónica termina sempre na morte. Quanto ao tempo de evolução é difícil estabelecer dados rigorosos por a doença se instalar insidiosamente e o doente recorrer ao médico, às vezes, por queixas que nada têm a ver com a leucemia. Contudo, pode dizer-se que o tempo de vida após o diagnóstico regula entre 2 e 6 anos.
Durante a doença dão-se alterações importantes nas três séries mielóides (anemia, granulocitopenia e trombocitopenia), infiltração difusa da medula óssea, patentes adenopatias e esplenomegalias.
As causas de morte mais frequentes são: anemia grave, diátese hemorrágica, infecções intercorrentes.
Aparecem poucos medicamentos para a leucemia e os que existem não evitam a morte, pois a leucemia provoca grandes alterações a nível sanguíneo (aumento de células, destruição de outras) e são de custos muito elevados. É de notar de nesta área deveriam surgir mais investigações e experiências, para ajudar os doentes com leucemia.
Bibliografia
Soares, A. Ducla, e Parreira, Francisco, Propedêutica Médica, vol.1, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973.
Smeltzer, Suzanne, e Bare, Brenda, Enfermagem Médica-Cirúrgica, vol.3, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1994.
Isselbacher, Kurt; Braunwald, Eugene; Wilson, Jean; Martin, Joseph; Fauci, Anthony, e Kasper, Dennis, Principles of Internal Medicine – Harrison’s, vol.2, 13ªedição, 1995
Grande Enciclopédia Médica, vol.3, Lisboa, Verbo,1978