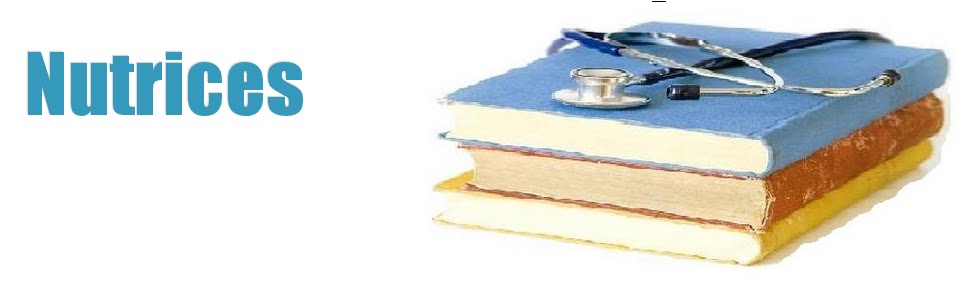A pele constitui uma barreira mecânica de protecção ao corpo, além de participar da termorregulação, da excreção de água e electrólitos e das percepções tácteis de pressão, dor e temperatura. Ela apresenta três camadas: epiderme, derme e tecido conjuntivo subcutâneo.
 Qualquer interrupção na continuidade da pele representa uma ferida. As feridas podem variar em espessura, pois algumas lesam a pele apenas superficialmente e outras podem até atingir tecidos profundos. A cicatrização da ferida consiste na restauração da continuidade.
Qualquer interrupção na continuidade da pele representa uma ferida. As feridas podem variar em espessura, pois algumas lesam a pele apenas superficialmente e outras podem até atingir tecidos profundos. A cicatrização da ferida consiste na restauração da continuidade. O tratamento de uma ferida e a assépsia cuidadosa têm como objectivo evitar ou diminuir os riscos de complicações decorrentes, bem como facilitar o processo de cicatrização.
A preocupação com o tratamento das feridas é antiga e vários agentes podem ser utilizados, no entanto é fundamental uma análise detalhada da ferida para a escolha do curativo adequado.
Este manual é dividido em duas partes: normas e critérios dos procedimentos de enfermagem efectuados na sala de tratamentos e nomenclatura e classificação dos produtos utilizados nos tratamentos das feridas.
Com a elaboração deste trabalho pretende-se:
· Dar a conhecer a dinâmica estrutural e organizacional das medidas terapêuticas;
· Permitir um acesso rápido às normas de actuação e critérios de desempenho na área da prestação de cuidados;
· Possibilitar uma consulta acessível a informações / indicações relativas aos produtos utilizados no tratamento de feridas;
· Proporcionar um suporte teórico dos procedimentos de enfermagem para a sala de tratamentos.
2. DEFINIÇÕES
Padrão de qualidade de cuidados:
Corresponde às metas/objectivos a atingir em termos de prestação de cuidados de enfermagem a nível de uma instituição ou estabelecimento de cuidados de saúde.
Norma:
É a descrição do que deve ser. Aplicada à competência profissional, reporta-se aos conhecimentos, habilidades requeridas e à capacidade de os aplicar no exercício da profissão.
Critério:
É um facto observável que permite avaliar se a norma foi ou não cumprida.
Comunidade:
É um conjunto de indivíduos com uma característica comum. As comunidades definem-se, em geral, segundo três características: seja porque se situem num mesmo território geográfico (bairro, escola), porque tenham um interesse partilhado (crenças religiosas, ideais) ou ainda um problema em comum (poluição de um curso de água). A maioria dos indivíduos da comunidade pode não se conhecer pessoalmente e pode não ter contacto directo.
Grupo:
Um grupo é formado por dois ou vários indivíduos que entrem em comunicação directa, que se identificam uns aos outros e que são interdependentes no sentido de se ajudarem num ponto comum e conhecido de cada indivíduo.
Família:
Um grupo de indivíduos relacionados pelo casamento ou pelo sangue, incluindo em geral o pai, a mãe e os filhos. Um grupo de pessoas vivendo num único domicílio.
Indivíduo:
É uma pessoa única, em contínua evolução que entra em constante relação com os outros (comunidade, grupo ou família) e age segundo as suas próprias escolhas na medida dos seus meios. Vive num ambiente social e físico com o que tende a harmonizar-se.
Relação de ajuda:
Processo terapêutico e educativo que visa facilitar ao utente a integração óptima da sua experiência como indivíduo ou família atravessando uma etapa, uma mudança importante na sua maneira de ser a nível biológico, psicológico ou social. Trata-se de um processo terapêutico no sentido de que ajuda o utente a recuperar a saúde mas também educativo no sentido de facilitar a aprendizagem de novas maneiras de resolver os problemas da saúde, afim de se encontrarem soluções para outros problemas similares.
Saúde:
É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, senão apenas a ausência de doença ou mal-estar físico. (OMS)
Doença:
Ausência de bem-estar físico, psíquico, social e ético.
Enfermagem:
Actividade humana complexa, para prestação de assistência ao indivíduo, família e comunidade, promovendo e divulgando as actividades que contribuem para a saúde e bem-estar, particularmente as necessidades humanas básicas, como sejam as fisiológicas, as psicológicas e as necessidades sociais.
Homem:
O Ser Humano é um sistema aberto em permanente interacção com o meio ambiente. O seu principal objectivo é atingir a auto-satisfação e o máximo de independência em cada actividade de vida dentro dos limites impostos pelas circunstâncias em que se encontra.
3. NORMAS DE ACTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPENHO NA ÁREA DE ACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
Todos os enfermeiros, que integram esta área de actuação, ao cumprirem as normas de actuação devem ter sempre presente:
§ A importância de criar um clima de confiança que suscite a implicação do utente, família ou grupos nos cuidados de enfermagem;
§ A identificação, das necessidades em cuidados de enfermagem dos indivíduos, famílias, grupos e comunidades através de:
- Entrevistas;
- Observação sistemática;
- Consulta de documentos;
- Registos;
§ Definição de prioridades em cuidados de enfermagem de acordo com os problemas identificados e dos recursos disponíveis;
§ Elaboração do plano de cuidados de enfermagem, com base nos problemas identificados e nas prioridades estabelecidas, determinando objectivos e intervenções de enfermagem;
§ Execução do plano de cuidados, observando os princípios de ensino e aprendizagem que facilitem a aquisição e/ou desenvolvimento de atitudes de auto-responsabilidade perante a saúde;
§ Avaliação dos cuidados de enfermagem prestados;
§ Registo sistemático de todos os dados relativos ao utente, família ou grupos de forma a assegurar a continuidade dos cuidados.
3.1. Norma 1:
O enfermeiro acolhe e procede ao atendimento do utente conforme as regras explicitadas.
Critérios:
1. O atendimento dos utentes que necessitem de pensos, injectáveis ou outro tratamento será feito nas salas de tratamento 1 e 2 do 5º andar;
2. O horário de funcionamento das 8h às 19h30m;
3. No período da manhã (8h – 15h), funcionam em simultâneo as 2 salas de tratamento, pelo que as situações mais complexas (ex.: ligaduras, tratamentos prolongados) deverão ser marcados neste período;
4. No período da tarde (15h – 19h30m) o serviço é assegurado por um elemento de enfermagem que assegura também a consulta aberta, pelo que o intervalo de marcações é de 30 minutos;
5. O atendimento de enfermagem é feito por hora sendo esta registada em agenda própria e no cartão do utente;
6. Os utentes de 1ª vez, deverão retirar um número de ordem, dirigir-se à secretaria para fazer inscrições e imprimir ficha de vacinação;
7. O atendimento de 1ª vez será feito no seguinte horário das 9h às 11h30m e à tarde das 14h às 15h;
8. O utente deverá cumprir e respeitar o horário de marcação e o enfermeiro deverá comprometer-se dentro do possível ao cumprimento rigoroso do mesmo;
9. As próximas visitas, serão negociadas entre o utente e a disponibilidade da agenda.
3.2. Norma 2:
O enfermeiro conhece e aplica princípios e técnicas e desenvolve medidas de natureza preventiva, de tratamento e de reabilitação aos utilizadores da sala de tratamentos.
Critérios:
1. O enfermeiro organiza as condições do meio/unidade de trabalho, relativamente a:
§ Material adequado;
§ Temperatura;
§ Iluminação.
2. Define prioridades de intervenção ao conjunto de utentes a que presta cuidados;
3. Aplica medidas de assépsia:
§ Lavagem correcta das mãos;
§ Protecção e esterilização de material;
§ Eliminação de material contaminado.
4. Aplica medidas de protecção individual sempre que a situação o requeira:
§ Usa luvas;
§ Usa máscara;
§ Usa avental protector;
§ Outras.
5. Acolhe e dialoga com o utente estabelecendo relação de ajuda;
6. Promove a articulação e continuidade dos cuidados:
§ Utiliza material adequado;
§ Prepara psicologicamente o utente para receber os cuidados;
§ Assegura o conforto e privacidade do utente;
§ Está atento às reacções;
§ Sempre que considere necessário pede a intervenção do médico de família ou de serviço;
§ Verifica os resultados;
§ Regista os cuidados prestados;
§ Marca novo tratamento, se for o caso.
8. Cumpre com rigor as prescrições;
9. Realiza educação para a saúde de acordo com os problemas identificados, tendo em conta os princípios de ensino e de aprendizagem;
10. Identifica necessidades de prestação de consulta de enfermagem no domicílio;
11. Comunica ao médico de família e/ou enfermeira da área / família as informações relevantes;
12. Assegura-se de que o utente recebe os cuidados planificados.
3.3. Norma 3:
O enfermeiro conhece e aplica os critérios de lavagem simples das mãos.
Indicações:
§ Antes e após contacto com qualquer paciente;
§ Entre diferentes procedimentos num mesmo paciente;
§ Antes e após realização de actos pessoais, como assoar o nariz, ir à casa de banho, etc;
§ Após retirar as luvas;
§ Após manipulação de materiais e equipamentos contaminados.
Critérios:
1. Abrir a torneira, molhar as mãos e colocar o sabão líquido;
2. Ensaboar e friccionar as mãos durante 20 a 60 segundos, em todas as suas faces, espaços interdigitais, articulações, unhas e pontas dos dedos. É importante estabelecer uma sequência a ser sempre seguida para que a lavagem completa das mãos ocorra automaticamente;
3. Enxaguar as mãos, retirando toda a espuma e resíduos de sabão;
4. Enxaguar as mãos com papel toalha;
5. Fechar a torneira com o papel toalha, evitando recontaminar as mãos.
3.4. Norma 4:
Execução de pensos com técnica asséptica, atendendo às características das feridas.
Material:
§ Kit de pensos;
§ Soro fisiológico;
§ Antisséptico;
§ Luvas esterilizadas;
§ Luvas descartáveis;
§ Máscara (em SOS);
§ Compressas esterilizadas;
§ Produtos específicos para cada tipo de ferida.
Orientações gerais:
§ Estabelecer clima de segurança e conforto;
§ Colocar máscara com viseira (quando houver probabilidade de projecção de líquidos orgânicos);
§ Retirar o penso sujo com luvas descartáveis;
§ Não tocar nas feridas com as mãos;
§ Iniciar pelas feridas limpas.
Critérios:
Ferida limpa:
1. Efectuar lavagem das mãos;
2. Limpar a ferida com soro fisiológico;
3. Avaliar se há necessidade de aplicação de antisséptico;
4. Deixar a descoberto se se entender que é correcto.
Ferida limpa contaminada:
1. Efectuar lavagem das mãos;
2. Limpar com soro fisiológico;
3. Aplicar antisséptico, se necessário.
Ferida contaminada e/ou suja:
1. Efectuar lavagem das mãos;
2. Efectuar penso diário;
3. Limpar com soro fisiológico;
4. Aplicar antisséptico;
5. Fazer colheita para exame bacteriológico, se necessário.
Avaliação das feridas:
§ Em caso de sutura, verificar a união dos bordos e tensão da mesma;
§ Vigiar existência de:
o Hemorragia;
o Drenagem;
o Cheiro;
o Sinais inflamatórios.
Nota: em caso de existência de dreno, deve individualizar-se o penso dos drenos sempre que possível.
3.5. Norma 5:
Conhece e aplica técnicas e conhecimentos na realização das medidas preventivas na cateterização vesical e na manipulação do material em doentes com sonda vesical.
Material:
§ Solução antisséptica;
§ Cateter vesical;
§ Lubrificante estéril;
§ Ampola de água destilada;
§ Kit para cateterização;
§ Luvas esterilizadas e descartáveis;
§ Saco colector;
§ Seringa de 10 ml;
§ Compressas esterilizadas;
§ Campo estéril perfurado;
§ Cuvete ou taça.
Critérios:
Procedimento técnico na algaliação feminina:
1. Lavar as mãos;
2. Reunir todo o material levando-o para junto da utente e colocando-o em condições de ser utilizado facilmente;
3. Informar a utente do procedimento que se vai executar e a sua finalidade;
4. Providenciar para que haja privacidade da utente, isolando o local;
5. Colocar a utente em posição correcta (posição ginecológica ou em decúbito dorsal com os joelhos flectidos, abdução coxo-femural, pés apoiados sobre a cama afastados cerca de 60 cm um do outro);
6. Colocar um resguardo de protecção impermeável sob as nádegas da utente ou mesmo uma arrastadeira (para a lavagem);
7. Cobrir ou tapar as pernas da utente com ajuda de um lençol;
8. Dirigir o foco luminoso para visualizar a área genital;
9. Calçar luvas de exame não esterilizadas;
10. Realizar a lavagem perineal com solução detergente de iodopovidona e soro fisiológico;
11. Lavar as mãos e calçar luvas esterilizadas para proceder à desinfecção da região genital;
12. Desinfectar com solução apropriada (betadine dérmico ou outro) em toda a área genital, utilizando técnica asséptica, para tal:
§ Afastar os grandes lábios com o polegar e o indicador de uma mão, de modo a que o meato urinário seja visualizado;
§ Desinfectar primeiro a região do meato, depois os pequenos lábios e por fim os grandes lábios, do centro para a periferia;
§ Esta desinfecção é feita sempre no sentido descendente em direcção ao ânus, idealmente utilizando a compressa embebida em solução desinfectante, apenas uma vez; para cada lado uma compressa diferente;
13. Calçar novas luvas esterilizadas;
14. Colocar campo perfurado sobre a região perineal, ou utilizar compressas;
15. Abrir o invólucro da algália adequada ao meato urinário em causa;
16. Lubrificar adequadamente a algália;
17. Com uma das mãos (mão não dominante) separar os pequenos lábios, de modo a que o meato urinário seja bem visualizado. Esta mão mantém os lábios separados até que o cateterismo esteja terminado;
18. Com a outra mão, introduzir a algália através do meato de forma suave e contínua até surgir urina – deve ter-se presente os princípios de assepsia, de forma a evitar-se a contaminação da superfície da algália mesmo que para tal haja a necessidade de se enrolar a sonda na mão;
19. Introduzir a algália mais de cerca de 2,5 cm, devendo-se, de seguida, encher o balão com a quantidade de água destilada (5 a 10 cc) recomendada pelo fabricante com a ajuda de uma seringa – depois traccionar suavemente de forma a confirmar a sua fixação;
20. Se durante a manobra de introdução da sonda, seja por nós verificada, grande resistência (mesmo depois de se ter utilizado uma algália de menos calibre) ou o aparecimento de hemorragia deve-se parar e contactar o médico;
21. Depois de insuflar o balão deve conectar-se a algália ao sistema de drenagem – saco colector. Este procedimento pode ser feito inicialmente antes da introdução da algália;
22. Retirar as luvas;
23. Fixar externamente a algália na face interna da coxa utilizando adesivo hipoalérgico. Esta fixação de preferência deve ser alternada em ambas as coxas se a algaliação permanecer por muito tempo;
24. Observar a quantidade e características da urina drenada;
25. Colocar a paciente em posição confortável, deixando o “ambiente arrumado”;
26. Reunir e trazer todo o material do local onde se efectuou o cateterismo;
27. Lavar as mãos;
28. Proceder aos registos – hora, complicações surgidas, quantidade e características da urina.
Nota: Durante todo o procedimento, ir conversando com a utente, pedindo a sua colaboração, se possível.
Procedimento técnico na algaliação masculina:
1. Lavar as mãos;
2. Reunir todo o material levando-o para junto do utente e colocando-o em condições de ser utilizado facilmente;
3. Informar o utente do procedimento que se vai executar e a sua finalidade;
4. Providenciar para que haja privacidade do utente, isolando o local;
5. Colocar o utente em decúbito dorsal;
§ Colocar o resguardo sobre as nádegas do utente;
§ Cobrir ou tapar as pernas do utente com ajuda de um lençol;
6. Dirigir o foco luminoso para visualizar a área genital;
7. Calçar luvas de exame não esterilizadas;
8. Realizar a lavagem perineal com solução detergente de iodopovidona e soro fisiológico;
9. Lavar as mãos e calçar luvas esterilizadas para proceder à desinfecção da região genital;
10. Desinfectar com solução apropriada (betadine dérmico ou outro) em toda a área genital, utilizando técnica asséptica, para tal:
§ A primeira desinfecção deverá fazer-se repuxando o prepúcio, de modo a desinfectar-se o meato uretral e depois a glande e o corpo do pénis com movimentos da extremidade distal para a proximal, ou seja, partindo sempre do meato uretral com movimentos no sentido do escroto;
§ Por cada movimento deverá ser utilizada uma compressa embebida em solução desinfectante. Terminada a desinfecção deveremos colocar uma compressa esterilizada sob o pénis.
11. Calçar novas luvas esterilizadas;
12. Colocar campo perfurado sobre a região perineal, ou utilizar compressas;
13. Abrir o invólucro da algália adequada;
14. Lubrificar a algália;
15. Com a mão não dominante (utilizando uma compressa esterilizada) segura o corpo do pénis, repuxando-se e elevando-o até uma posição quase vertical – posição perpendicular ao abdómen;
16. Introduzir suavemente a algália, previamente lubrificada, até ultrapassar a curvatura – aproximadamente 10 cm;
17. Depois de se ultrapassar a primeira curvatura, deverá repuxar-se o pénis na direcção dos pés do utente, afim de “desfazer” a curvatura prostática e assim se prosseguir a introdução da algália;
18. Caso se sinta alguma resistência na introdução da sonda, deverá fazer mais levemente a tracção sobre o pénis e aplicar pressão suave e contínua sobre a algália, da mesma forma que se deve pedir ao utente para fazer um ligeiro esforço (como se estivesse a urinar) para ajudar a relaxar o esfíncter;
Nota: A incapacidade de introduzir a sonda pode significar que existe uma estenose uretral ou outro tipo de patologia uretral, devendo-se neste caso ter a preocupação em mudar para uma algália de calibre inferior. Se depois deste procedimento ainda persistir a incapacidade na introdução da algália, deverá contactar-se o médico.
19. Quando a urina começar a fluir deverá introduzir-se a algália mais cerca de 2,5 cm, de forma a garantir o seu correcto posicionamento na bexiga;
20. Insuflar o balão da algália, introduzindo-se, para tal, água destilada com auxílio de uma seringa. A quantidade a introduzir depende das instruções do fabricante, contudo, compreende-se entre os 5 e os 10 cc;
Nota: Deve ter-se o cuidado de ao insuflar o balão perguntar ao doente se está a ser doloroso, porque nesse caso, o balão pode ainda estar na uretra. No final deverá repuxar-se a algália suavemente para confirmar o seu posicionamento.
21. Depois de insuflar o balão deve conectar-se a algália ao sistema de drenagem – saco colector. Este procedimento pode ser feito inicialmente antes da introdução da algália;
22. Retirar as luvas;
23. Fixar externamente a algália, utilizando adesivo hipoalérgico;
24. Preconiza-se que se opte por uma fixação, utilizando a face anterior das coxas e abdómen de forma a “eliminar” a curvatura penoescrotal, evitando assim a ulceração por fricção prolongada;
25. Alertar o utente para, em casa, colocar correctamente o saco colector em suporte próprio, com a preocupação de se manter o sistema de drenagem funcional;
26. Observar a quantidade e características da urina;
27. Deixar o utente confortável e o “ambiente arrumado”;
28. Reunir e trazer o material do local onde se efectuou o cateterismo;
29. Lavar as mãos;
30. Proceder aos registos: hora, complicações surgidas, quantidade e características da urina.
Nota: Durante todo o procedimento, ir conversando com a utente, pedindo a sua colaboração, se possível.
3.6. Norma 6:
O enfermeiro conhece e aplica os princípios na avaliação do doente e da úlcera de pressão.
Critérios:
A avaliação do doente deve ser feita de acordo com os indicadores abaixo assinalados:
1. Avaliação do doente:
§ Avaliar e controlar o estado nutricional;
§ Avaliar e controlar a dor;
§ Avaliar o estado mental;
§ Avaliar a capacidade de: aprendizagem, motivação e compressão;
§ Avaliar o suporte social (Centro de Saúde, Centro de Dia, Lar, tratamentos domiciliários);
§ Avaliar a capacidade motora.
2. Avaliação da úlcera de pressão:
§ Avaliar a úlcera de pressão utilizando os seguintes parâmetros:
o Classificação / estadiamento;
o Tamanho (comprimento e largura – diâmetro maior (D) e menor (d), área de superfície – nas úlceras elípticas, área – (D x d x 3,14) / 4 e volume.
§ Presença de deslocamentos e trajectos fistulosos;
§ Tipos de tecido no interior da lesão (tecido necrosado, tecido desvitalizado, tecido esfacelado, tecido de granulação, presença ou ausência de epitelização);
§ Estado da pele perilesional (íntegra, lacerada, macerada, eczematoza, celulite);
§ Exsudação da úlcera (escassa, profusa, purulenta, hemorrágica, serosa);
§ Dor;
§ Sinais clínicos de infecção local (exsudado purulento, tipos de odor, bordos inflamados, calor no local, dor, edema);
§ Antiguidade da lesão;
§ História evolutiva da lesão.
3. Reavaliação:
§ Avaliar e registar as características da lesão pelo menos uma vez por semana;
§ Reavaliar a adequação do plano geral de tratamento, assim como a adesão ao plano, fazendo modificações, se necessário, se no período de 2 a 4 semanas não houver progresso.
3.7. Norma 7:
O enfermeiro conhece e aplica conhecimentos científicos no estabelecimento de acções tendentes à prevenção das úlceras de pressão.
Critérios:
1. Medidas preventivas:
§ Identificar os factores de risco de forma estruturada e sistemática;
§ Dar a conhecer à família e ao utente os equipamentos preventivos.
2. Educação e formação:
§ Distribuir o peso de forma equitativa pela superfície corporal de apoio;
§ Manter todas as partes do corpo alinhadas de modo que a relação entre os vários segmentos seja o mais anatómica possível;
§ Utilizar técnicas correctas de transferência e mudança de posição;
§ Hidratar a pele com cremes apropriados;
§ Evitar situações de compromisso de retorno venoso;
§ Permitir uma estimulação motora e sensorial adequada;
§ Estabelecer plano de posicionamento conforme a tolerância do utente à pressão e às suas expectativas;
§ Evitar fricções e forças tangenciais;
§ Utilizar apósitos de protecção (hidrocolóides);
§ Reduzir exposição da pele à humidade;
§ Corrigir défices nutricionais;
§ Evitar o uso de almofadas tipo argolas ou com buracos no meio que são mais prováveis de causar úlceras de pressão do que evitá-las;
§ Ensinar o utente / família a efectuar posicionamentos.
3.8. Norma 8:
O enfermeiro atende às estratégias específicas de cuidados de acordo com as recomendações indicadas.
Critérios:
1. Desbridamento:
§ Remover os tecidos desvitalizados da ferida;
§ Seleccionar o método de desbridamento mais apropriado para as condições e metas de tratamento do paciente.
Observações:
o Usar penso seco por 8 a 24 horas após o desbridamento cirúrgico quando houver sangramento associado, depois retorne ao uso do penso húmido;
o O desbridamento autolítico não deve ser utilizado se a ferida estiver infectada. Permite a auto-destruição do tecido desvitalizado com o auxílio das enzimas que normalmente estão presentes nos fluidos das feridas;
o O desbridamento cirúrgico é apropriado em situações de celulite avançada ou septicemia;
o Prevenir ou tratar a dor associada ao desbridamento.
NOTA: Úlceras estáveis do calcâneo com escaras ou crostas secas não precisam ser desbridadas se não apresentaram edema, eritema, flutuação ou drenagem.
2. Limpeza da ferida:
§ Limpar as feridas inicialmente e a cada troca de penso;
§ Utilizar uma técnica não traumática usando uma força mecânica mínima quando estiver a limpar a úlcera;
§ Evitar o uso de antissépticos em limpeza e desinfecção de úlceras;
§ Usar solução salina ou soro fisiológico a 0,9% para limpar;
§ Usar uma pressão de irrigação suficiente para melhorar a limpeza de ferida sem causar trauma no leito da ferida.
Observações:
o A limpeza de rotina deve ser feita com o mínimo de soluções químicas e trauma mecânico;
o As soluções de antissépticos próprias para a pele íntegra não devem ser utilizadas nas úlceras porque são substâncias tóxicas;
o Em tecido necrosado pode utilizar-se solução com hidrogel sob-pressão.
3. Material de penso:
§ A úlcera de pressão requer pensos para manter a sua integridade fisiológica;
§ O penso ideal deve proteger a ferida, ser biocompatível e fornecer uma hidratação ideal;
§ Deve manter-se o tecido da úlcera húmido e a pele ao seu redor integra e seca;
§ O material de penso deverá manter o leito da ferida húmido, controlar o exsudado e o odor e proteger a pele ao redor da ferida.
3.9. Norma 9:
Conhece e aplica os princípios e técnicas de triagem selectiva dos resíduos hospitalares, com vista à diminuição dos custos de tratamento (valorizando as componentes recicláveis, contribuindo para um a protecção do ambiente hospitalar, ambiente em geral e saúde pública).
Grupo I – Resíduos equiparados a urbanos: não apresentam exigências especiais no seu tratamento (saco preto):
§ Provenientes de serviços gerais (gabinetes, salas de reuniões, salas de convívio, instalações sanitárias, vestuários, etc.);
§ Provenientes de serviços de apoio (oficinas, jardins, armazéns, outros);
§ Embalagens e invólucros comuns (papel, cartão, mangas mistas e outros de idêntica natureza);
§ Provenientes da hotelaria, resultantes da confecção e restos de alimentos servidos a doentes, não incluídos no grupo III.
Grupo II – Resíduos hospitalares não perigosos: não estão sujeitos a tratamentos específico, podendo ser equiparados a urbanos (saco preto):
§ Material ortopédico (talas, gessos e ligaduras gessadas não contaminadas e sem vestígios de sangue);
§ Material de protecção individual utilizado nos serviços gerais de apoio, com excepção do utilizado na recolha de resíduos;
§ Embalagens vazias de medicamentos ou de produtos de uso clínico ou comum, com excepção dos do grupo IV;
§ Fraldas e resguardos descartáveis não contaminados e sem vestígios de sangue.
Grupo III – Resíduos hospitalares de risco biológico: resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação susceptíveis de incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo urbano (saco branco):
§ Todos os provenientes de quartos ou enfermarias de doentes infecciosos ou suspeitos de unidades de hemodiálise, de blocos operatórios, salas de tratamento, de salas de autopsia e de anatomia patológica, de patologia clínica e de laboratórios de investigação, com excepção dos do grupo IV;
§ Todo o material utilizado em diálise;
§ Peças anatómicas não identificáveis;
§ Resultantes da administração de sangue e derivados;
§ Sistemas utilizados na administração de soros e medicamentos, com excepção dos do grupo IV;
§ Sacos colectores de fluidos orgânicos e respectivos sistemas;
§ Material ortopédico: talas, gessos e ligaduras gessadas contaminadas ou com vestígios de sangue, material de prótese retirado a doentes;
§ Fraldas e resguardos descartáveis contaminados ou com vestígios de sangue;
§ Material de protecção individual utilizado em cuidados de saúde e serviços de saúde em gerais em que haja contacto de produtos contaminados (luvas, máscaras, aventais e outros).
Grupo IV – Resíduos hospitalares específicos: resíduos de vários tipos de incineração obrigatória (saco vermelho / recipiente):
§ Peças anatómicas identificáveis, fetos e placentas;
§ Materiais potentes e perfurantes: agulhas, cateteres e todo o material invasivo;
§ Produtos químicos e fármacos rejeitados;
§ Citostáticos e todo o material utilizado na sua manipulação e administração.
3.10. Norma 10:
Conhece as providências hospitalares na zona destinada à sua recolha.
Critérios:
§ Contentores de tampa verde:
o Grupo I e II (saco preto).
§ Contentores de tampa branca:
o Grupo III (saco branco).
§ Contentores de tampa vermelha:
o Grupo IV (saco vermelho).
§ Ecopontos:
o Cor verde – vidro;
o Cor azul – papel;
o Cor amarela – outras embalagens;
1. Os sacos contendo fluidos orgânicos devem ser despejados no esgoto, excepto:
§ Secreções – grupo III;
§ Colostomias – grupos I e II;
§ Drenagem torácica – grupo IV;
§ Flebotomias – grupo IV;
§ Drenos abdominais – grupo IV;
§ Hemodrenos – grupo IV;
§ Instilações vesicais com mitomicina – grupo IV;
§ Instilações vesicais com BCG – grupo IV;
§ Hemorragias gástricas – grupo IV.
2. Não exceder o limite de 80% de enchimento das Biobox (grupo IV)
3.11. Norma 11:
O enfermeiro conhece e aplica os conhecimentos na elaboração de registos.
Critérios:
1. Comunicar a informação manuscrita, com letra legível, ou de forma impressa. Promover uma comunicação eficaz;
2. Utilizar tinta preta para escrever os registos no processo do utente a menos que existam indicações em contrário. O preto é utilizado nos documentos legais, é melhor para a realização de fotocópias e essenciais para a microfilmagem;
3. Identificar a fonte de informação para documentar os aspectos que o enfermeiro não presenciou nem participou, como seja “o utente refere que…”. Maior credibilidade;
4. Registar apenas aquilo pelo que é directamente responsável. Assegura a precisão, clareza e veracidade da informação;
5. Registar os procedimentos ou tratamentos, apenas após a sua conclusão. Não antecipar registos. Fomenta a distorção da informação;
6. Corrigir os erros de registo logo que possível. Se houver engano fazer um círculo à volta ou traçar, indicar que foi erro, assinar, datar (ex: um / sem efeito, 02/09/2005, nome do enfermeiro) e depois escrever os dados correctos. Promover a clareza e veracidade dos registos e evitar erros devido a más leituras;
7. Não apagar nem utilizar tinta correctora para corrigir o registo. Promover legibilidade;
8. Não deixar espaços em branco nas notas; trancar, com uma linha horizontal, os espaços não utilizados. Evitar a introdução de alterações na informação assumida e circunscrita num dado espaço de tempo;
9. Se forem registados dados relativos aos cuidados prestados que estejam claramente fora de ordem cronológica, assinalámos como “registo extemporâneo”, apondo a data e a hora. Maior clareza e objectividade;
10. Fazer uma descrição concisa e não utilizar frases genéricas vazias de conteúdo, como “o utente não referiu queixas”. Precisão da linguagem;
11. Registar por ordem cronológica. Permite avaliar a evolução dos acontecimentos;
12. O início do registo deve ser precedido da data e hora de realização, e o seu términus com a assinatura e cargo de quem o realizou. Localizar o acontecimento no tempo e identificar o autor;
13. Se os registos ocuparem mais do que uma página, as seguintes devem ser assinaladas como continuação da primeira, devendo conter sempre o nome do utente, para evitar confusão;
14. Não escrever frases com críticas ou juízos de valor acerca do utente, família ou equipa terapêutica, mas sim todos os acontecimentos ocorridos. Evitar distorção do acontecimento;
15. Só devem ser utilizados os símbolos e as abreviaturas padronizadas. Diminuir a confusão e dúvidas;
16. Só devem ser utilizados os termos técnicos cujo significado é conhecido. As mensagens usadas devem ser entendidas por todos para facilitar a comunicação;
17. Registar cada medicamento, tratamento e procedimento, referindo a hora, o efeito e os resultados obtidos para facilitar a identificação da intervenção e avaliar a acção executada;
18. Registar se o utente rejeitou o medicamento ou tratamento, referindo a razão pela qual o fez. Registar as acções desenvolvidas, bem como a quem é que este facto foi comunicado para salvaguardar aspectos legais;
19. Relatar as diferentes manifestações do utente, medidas adoptadas no sentido de as controlar, justificação e reacções dos indivíduos às mesmas para facilitar a identificação dos problemas e o efeito das medidas adoptadas;
20. Anotar a hora a que foi feito o registo para promover o rigor e a veracidade.
3.12. Norma 12:
Conhece e aplica as técnicas e princípios na preparação de injecções a partir de ampolas e frascos.
Critérios:
1. Lavar as mãos;
2. Preparar material e os acessórios necessários;
3. Ampola:
a. Bater com o dedo na parte de cima da ampola leve e rapidamente até que o liquido se afaste do gargalo;
b. Colocar um pedaço de gaze ou bola seca ao redor do gargalo da ampola;
c. Quebrar o gargalo da ampola de modo firme e rápido;
d. Retirar o medicamento rapidamente;
e. Segura a ampola de cabeça para baixo ou colocá-la numa superfície plana. Inserir a agulha dentro do centro da abertura da ampola. Não permitir que a ponta ou a haste da agulha toque a borda da ampola;
f. Aspirar a medicação para o interior da seringa, puxando delicadamente para trás o êmbolo;
g. Manter a ponta da agulha abaixo da superfície do liquido. Inclinar a ampola para deixar todo a liquido ao alcance da agulha;
h. Se forem aspiradas bolhas de ar não ejectá-la para o interior da ampola;
i. Para expelir o excesso de bolhas de ar, remover a agulha da ampola. Segurar a seringa com a agulha apontada para cima. Recuar levemente o êmbolo e então empurrá-lo para cima para injectar o ar. Não ejectar o líquido;
j. Se a seringa contiver excesso de liquido, usar uma pia para desprezá-lo. Segurar a seringa verticalmente com a ponta da agulha para cima e incliná-la levemente na direcção da pia. Ejectar lentamente o excesso de líquido dentro da pia. Verificar novamente o nível do líquido da seringa, recolocando-a na posição vertical;
k. Cobrir a agulha com o seu invólucro ou capa. Trocar a agulha da seringa;
l. Desprezar o material usado. Colocar a ampola quebrada em contentores especiais para vidros. Limpar a área de trabalho.
4. Frasco:
a. Remover a tampa metálica que cobre o centro da parte superior de um frasco esterilizado;
b. Limpar a superfície de borracha com uma bola de algodão;
c. Pegar na seringa e remover a capa da agulha. Puxar o êmbolo para trás para expirar quantidade de ar equivalente ao volume de medicação a ser expirado d frasco;
d. Introduzir a ponta da agulha, com o bisel para cima, através do centro do selo de borracha. Durante a introdução, aplicar pressão contra a ponta da agulha;
e. Injectar ar dentro do frasco, mantendo o êmbolo no lugar;
f. Inverter a posição do frasco mantendo seguros a seringa e o êmbolo. Segurar o frasco entre o polegar e o dedo médio da mão dominante. Segurar firmemente a extremidade do cilindro da seringa e o êmbolo com o polegar e o indicador da mão dominante;
g. Manter a ponta da agulha abaixo do nível do líquido;
h. Permitir que a pressão do ar encha gradualmente a seringa com medicação. Puxar o êmbolo para trás levemente se necessário;
i. Bater cuidadosamente ao lado do cilindro da seringa para retirar bolhas de ar. Ejectar todo o ar remanescente na parte superior da seringa para dentro do frasco;
j. Uma vez que o volume correcto foi obtido, remover a agulha do frasco puxando a seringa pelo cilindro;
k. Remover todo o ar remanescente da seringa, segurando-a e direccionando a agulha para cima. Bater de leve no cilindro para retirar todas as bolhas de ar. Puxar levemente o êmbolo e então empurrá-lo para cima para ejectar o ar. Não ejectar o líquido;
l. Trocar a agulha e cobri-la;
m. Para frascos de doses múltiplas, fazer rótulos que incluam data da mistura e concentração do medicamento por ml;
n. Desprezar os materiais usados em lixo apropriado. Limpar a área de trabalho;
o. Verificar o nível de líquido na seringa e comparar com dose desejada.
3.13. Norma 13:
O enfermeiro aplica os critérios de administração de injectáveis.
Critérios:
1. Avaliar as indicações para o tipo de injecções a administrar;
2. Avaliar a história clínica e de alergia do utente;
3. Observar as respostas verbais e não verbais do utente em relação à toma da injecção;
4. Lavar as mãos;
5. Preparar o material e os acessórios necessários;
6. Conferir a prescrição do medicamento;
7. Identificar o utente;
8. Preparar a dose correcta do medicamento da ampola ou frasco. Verificar a dose cuidadosamente;
9. Para injecção intramuscular, preparar o fecho de ar, aspirar 0,2 ml de ar para o interior da seringa, com cuidado para não expelir o medicamento;
10. Explicar o procedimento ao utente e proceder de maneira calma e confiante
11. Respeitar a privacidade;
12. Manter cobertas as partes do corpo que não necessitam de contacto;
13. Escolher um local apropriado para a injecção. Inspeccionar a superfície da pele para o caso de ter escoriações, inflamação ou edema. Para injecções subcutâneas, palpar os locais para constatar a presença de massas ou sensibilidade dolorosa. Para injecções intramusculares, observações lesões ou descolorações dos tecidos;
14. Auxiliar o utente em colocar-se em posição confortável;
15. Delimitação do local de aplicação fazendo uso de limites anatómicos;
16. Limpar o local com antisséptico. Aplicar a bola no centro do local, em movimentos circulares em direcção à periferia do local até cerca 5 cm;
17. Segurar a bola entre o 3º e o 4º dedo da mão não dominante;
18. Remover a capa da agulha puxando-a paralelamente à agulha;
19. Segurar a seringa correctamente, entre o polegar e o indicador da mão dominante:
a. Subcutânea – segurar a seringa como se fosse um dardo com a palma da mão por cima;
b. Intramuscular – segurar a seringa como se fosse um dardo com a palma da mão por baixo;
c. Intradérmica – segurar a seringa com o bisel da agulha para cima.
20. Administrar a injecção:
a. Subcutânea:
i. Para doentes de tamanho médio, repuxar a pele firmemente no local de injecção ou fazer uma prega com a mão não dominante;
ii. Injectar a agulha de maneira rápida e firme, num ângulo de 45º (então soltar a prega da pele);
iii. Para doentes obesos, fazer a prega da pele no local e injectar a agulha abaixo dessa prega.
b. Intramuscular:
i. Posicionar a mão não dominante nos limites anatómicos e repuxar a pele firmemente. Injectar a agulha rapidamente num ângulo de 90º;
ii. Se a massa muscular do doente for pequena, prensar o corpo do músculo entre o polegar e os outros dedos.
c. Intradérmica:
i. Com a mão não dominante, esticar a pele do local com o indicador ou o polegar;
ii. Com a agulha quase contra a pele do utente, introduzi-la lentamente a um ângulo de 1 a 15º até que seja sentida a resistência. Então avançar a agulha através da epiderme até aproximadamente 3 mm da superfície da pele. A ponta da agulha pode ser vista através da pele.
21. Uma vez que a agulha penetra apenas os locais de injecções cutâneas ou intramusculares, segurar o cilindro da seringa com a mão não dominante. Posicionar a mão dominante para a extremidade do êmbolo. Evitar mexer a seringa enquanto estiver a puxar o êmbolo para trás, lentamente, para aspirar o medicamento. Se aparecer sangue na seringa, retirar a agulha e desprezá-la e repetir o procedimento;
22. Injectar o medicamento lentamente;
23. Durante uma injecção intradérmica, observar a formação de uma pequena bolha na superfície da pele;
24. Retirar a agulha enquanto aplica a bola com álcool delicadamente acima ou sobre o local de injecção;
25. Para injecções subcutâneas ou intramusculares, massajar lentamente a pele; para injecções intradérmicas não massajar;
26. Ajudar o utente a adoptar uma posição confortável;
27. Desprezar a agulha e a seringa em recipientes próprios;
28. Lavar as mãos;
29. Retornar para avaliar a resposta do utente ao medicamento num intervalo de 10 a 30 minutos. Pesquisar a existência de dor aguda, sensação de queimadura, dormência ou formigueiro no local da injecção. Observar os sinais de reacção alérgica após a injecção intradérmica;
30. Nas injecções subcutâneas e intramusculares, anotar a dose do medicamento, via, local, hora e data; assinar;
31. Nas intradérmicas anotar a área de injecção, a quantidade e tipo de substância de teste, data e hora, incidentes.
3.14. Norma 14:
Técnica de injecções com selagem de ar.
Critérios:
1. Preparar a seringa com a quantidade de medicamento desejada. Após a verificação da dosagem, colocar 0,2 ml de ar na seringa, para constituir a selagem de ar. Virar a seringa com a agulha para baixo e fazer com que as bolhas de ar se agrupem junto do êmbolo;
2. Posicionar o utente em decúbito ventral (para administrar a injecção na região dorsoglútea) ou em decúbito lateral (para administrar a injecção nas regiões deltoideia ou ventro-glútea);
3. Manter a seringa perpendicular ao solo, para que a bolha de ar fique encostada ao êmbolo, de forma a ser injectada após a dosagem total do medicamento.
3.15. Norma 15:
Administração de medicação pela via subcutânea.
Critérios:
1. Explicar o procedimento ao utente;
2. Promover e respeitar a privacidade;
3. Utilizar a técnica asséptica descrita anteriormente para preparar o medicamento prescrito;
4. Posicionar o utente de acordo com o local seleccionado;
5. Efectuar a desinfecção, friccionando;
6. Injectar o medicamento, de forma segura e com ângulo adequado à área seleccionada:
a. Comprimir e elevar o tecido subcutâneo, a partir do músculo;
b. Inserir a agulha com um ângulo inferior a 90 ou 45º. A determinação do ângulo é feita de acordo com a quantidade de gordura subcutânea do utente e com o comprimento da agulha.
7. Libertar a pele pinçada;
8. Puxar ligeiramente o êmbolo para trás para aspirar. Se aparecer sangue dentro da agulha, ela deve ser removida e introduzida de novo. Se não houver incidência de sangue na agulha, injectar o medicamento lentamente;
9. Retirar a agulha respeitando o trajecto da sua inserção. Exercer pressão com algodão ou compressa esterilizada.
3.16. Norma 16:
Administração de medicação pela via intramuscular.
Critérios:
1. Região do deltóide:
a. Posicionamento – o utente deve colocar o braço em adução com o cotovelo flectido, para relaxar o músculo. O braço deve estar completamente exposto;
b. Determinar o local de injecção – localizar o músculo triangular por baixo do bordo inferior do acrómio. Localizar a massa muscular mais densa, friccionado-a entre os dedos e o polegar e palpando-a com a outra mão;
c. Injecção – nos adultos, esticar o tecido entre o polegar e o indicador. Inserir a agulha no músculo com um ângulo de 90º. Nas crianças e nas pessoas com massa muscular reduzida, traccionar a massa muscular e comprimi-la entre os dedos polegar e indicador, para levar o músculo e arredondá-la.
2. Região dorso glútea (músculo glúteo médio):
a. Posicionamento – posicionar o utente em decúbito ventral com os pés virados para dentro;
b. Determinar o local de injecção – identificar o grande trocanter e a espinha ilíaca postero-superior. Traçar uma linha imaginária entre estes dois pontos ósseos de referência, o local de injecção localiza-se no quadrante superior externo, acima da linha imaginária e abaixo da crista ilíaca. Palpar o local para verificar se o músculo é suficientemente espesso;
c. Injecção – esticar o tecido, entre o polegar e o indicador, para tornar a pele tensa. Inserir a agulha perpendicularmente (com um ângulo de 90º), à superfície em que o doente está deitado.
3. Região do quadricípite crural (músculo vasto externo e recto femural):
a. Posicionamento – posicionar o utente adulto ou criança em decúbito dorsal ou sentado, com os joelhos ligeiramente flectidos;
b. Determinação do local – para o músculo recto femoral, na região médio-anterior da coxa, medir a distância da largura da mão, por baixo de extremidade proximal do grande trocanter e também acima do joelho, na extremidade distal. Para o músculo vasto externo, identifcar a superfície médio-lateral da coxa, no ponto médio entre o grande trocanter e o joelho. Palpar o músculo para identificar a área de maior espessura;
c. Injecção – nos adultos manter o tecido em tensão entre os dedos indicador e polegar. Inserir a agulha com um ângulo de 90º ou ligeiramente virada para a cabeça do utente. Nos lactentes e nas crianças, comprimir o músculo para o elevar e afastar do fémur. Inserir a agulha com um ângulo de 90º e injectar.
4. Região ventro-glútea (músculos glúteo médio e pequeno glúteo):
a. Posicionamento – posicionar a pessoa em decúbito lateral, ventral ou dorsal, com a articulação coxo-femural em flexão;
b. Determinação do local – colocar a palma da mão no grande trocanter formando um “V” com o dedo indicador e os restantes dedos na espinha ilíaca, respectivamente. Trocar a posição dos dedos para o lado esquerdo ou para o direito. Fazer a palpação do local para verificar se o músculo tem a espessura adequada;
c. Injecção – no centro do espaço determinado pelo “V”, esticar o tecido entre o dedo polegar e o indicador. Injectar com a agulha num ângulo de 75 / 80º com a pele, com a agulha na direcção da cabeça do utente.
3.17. Norma 17:
Venopunção percutânea.
Critérios:
1. Explicar o objectivo da venopunção;
2. Se indicado, ensinar ao utente como vigiar o equipamento para a infusão intravenosa, solicitando a intervenção do enfermeiros quando:
a. Ausência de gotejamento da câmara;
b. Frasco ou saco de infusão praticamente vazio;
c. Dor ou desconforto no local de inserção da agulha ou ao longo da veia;
d. Tumefacção tecidular em redor do local de inserção.
3. Colocar o resguardo impermeável sobre o braço do utente;
4. Seleccionar a veia mais adequada;
5. Posicionar o utente;
6. Localizar a veia para venopunção:
a. Inspeccionar a área em redor da veia seleccionada;
b. Aplicar o garrote 5 a 10 cm acima do local de punção seleccionado;
c. No caso de utilizar o braço, peça ao utente para abrir a mão;
d. Palpe a veia;
e. A fixação da agulha numa zona pilosa implica a realização de tricotomia antes da venopunção.
7. Prosseguir com a venopunção:
a. Se a localização da veia está demorada, aliviar o garrote e tornar a aplicá-lo;
b. Desinfectar o local de punção, com uma compressa embebida em antisséptico, utilizando movimentos circulares e fricção do centro para a periferia;
c. Utilizar a mesma técnica para secar a área a puncionar com compressa esterilizada ou deixar secar ao ar;
d. Calçar luvas;
e. Retirar a cápsula protectora da agulha esterilizada, segurando-a com a mão dominante. Repuxe a pele desde a porção distal do braço até ao local de entrada da agulha com a mão não dominante, colocando o polegar cerca de 2,5 cm abaixo do local esperado para a punção. Fixe a pele com a mão;
f. Coloque a agulha de forma a fazer um ângulo de 45º com a veia;
g. Introduza a agulha com o bisel voltado para cima. Atravesse a pele tão rapidamente quanto possível enquanto mantém o controlo. Logo que a agulha penetre na veia, diminuir o ângulo relativamente à pele, introduzindo-a cerca de 2 cm.
3.18. Norma 18:
Venopunção para infusão endovenosa.
Critérios:
1. Se a venopunção foi executada com uma agulha metálica ou cateter para infusão intravenosa, alivie o garrote logo após a introdução da agulha / cateter;
2. Retire a cápsula de protecção do sistema intravenoso e adapte;
3. Abra a torneira para iniciar a infusão intravenosa.
3.19. Norma 19:
Infusão intravenosa.
Critérios:
1. Fazer progredir a agulha aproximadamente 2,5 cm no interior da veia a fixar a linha venosa;
2. Colocar o penso no local de punção e retirar as luvas;
3. Fixar com adesivo alguns centímetros de sistema de soro à pele;
4. Utilizar uma tala de fixação no braço caso a posição da agulha seja instável;
5. Se necessário, envolver a tala e o braço com uma manga elástica;
6. Ajustar o débito de perfusão de acordo com a prescrição.