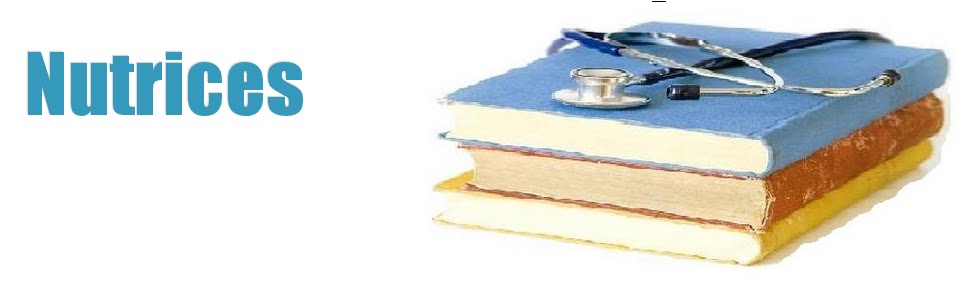A doença coronária é o termo utilizado para descrever os efeitos da redução ou obstrução completa do fluxo de sangue através das artérias coronárias como resultado de estreitamento (arteriosclerose) e/ou coágulo de sangue (trombo) (SANTORO [et al.], 2006 cit in FIGUEIREDO [et al.], 2006)1.
A doença coronária é o termo utilizado para descrever os efeitos da redução ou obstrução completa do fluxo de sangue através das artérias coronárias como resultado de estreitamento (arteriosclerose) e/ou coágulo de sangue (trombo) (SANTORO [et al.], 2006 cit in FIGUEIREDO [et al.], 2006)1. Os dados epidemiológicos, mostram que as doenças cardiovasculares constituem uma importante causa de morbilidade e mortalidade em vários países, no que diz respeito à população adulta com mais de 30 anos, sendo o factor etiológico por metade das mortes entre homens e mulheres. As doenças que lideram as estatísticas de mortalidade são as doenças isquémicas
do coração e as doenças vasculares cerebrais (SANTORO [et al.], 2006 cit in FIGUEIREDO [et al.], 2006)1.
do coração e as doenças vasculares cerebrais (SANTORO [et al.], 2006 cit in FIGUEIREDO [et al.], 2006)1.
O tema deste trabalho é «Coronariopatia Isquémica e adesão terapêutica». Pensamos ser pertinente realizar um estudo dentro desta temática, dado que no ano de 2005 em Portugal, de um total de 105.582 mortes cerca de 41.000 ocorreram por doenças cardiovasculares, das quais 21.000 por acidente vascular cerebral (AVC) e mais de 9.000 por enfarte agudo do miocárdio. As mulheres são um grupo vulnerável, dado que morrem mais 4000 mulheres do que homens por ano com doença cardiovascular, constituindo a principal causa de morte das mulheres portuguesas. No seu conjunto, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase metade da mortalidade total da população portuguesa (CARRAGETA, 2006, p.10)2 .
Apesar de muitas doenças cardiovasculares poderem ser tratadas ou evitadas estima-se que 17 milhões de pessoas morrem desta patologia por ano. Dados estes valores a missão da Organização Mundial de Saúde (OMS), através do Programa de Doenças Cardiovasculares, é proporcionar uma liderança global na prevenção e controlo destas patologias e ajudar os estados membros a reduzir a morbilidade, invalidez e mortalidade causadas pelas doenças cardiovasculares (WHO, 2008, p.1)3.
Nas sociedades modernas as doenças vasculares são uma importante causa de morte. Em Portugal, tal como em outros países, as doenças infecciosas eram a
principal causa de morte no inicio dos século XX. Estas diminuíram drasticamente para valores quase insignificantes. Por outro lado, as doenças degenerativas como as doenças cerebrovasculares aumentaram de forma significativa, associando-se positivamente a sua prevalência com o envelhecimento (ALVARES-PEREIRA, ALMEIDA e DOMINGOS, 2008, p.57)4.
Em Portugal as doenças cardiovasculares acarretam sofrimento e custos na saúde, de tal forma que são consideradas como verdadeiras doenças sociais: doenças com génese e repercussão social. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p.2)5
«As doenças cardiovasculares, nomeadamente os AVC e a DC ou doença isquémica do coração (DIC), são a principal causa de mortalidade em Portugal, tal como se verifica em muitos países ocidentais, sendo considerada, no entanto, das mais elevadas da Europa e do Mundo. Estas doenças são responsáveis por perto de 50% das mortes ocorridas em 1999 (42 998 num total de 100 252 mortes), contando-se, também, entre as principais causas de morbilidade, invalidez e anos potenciais de vida perdidos na população portuguesa.» (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p.2)5.
As doenças isquémicas coronárias, apesar da baixa taxa de mortalidade observada no nosso país comparativamente a outros países europeus, devem continuar a ser uma preocupação para o nosso sistema de saúde, dado existir uma perspectiva de crescimento da sua incidência, apontada internacionalmente, até ao ano de 2025. Como forma de superar este problema e sensibilizar a população, em 2003 foi criado em Portugal, o Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares, com o objectivo principal de reduzir de forma global os riscos cardiovasculares. O grande investimento deste programa assenta numa base preventiva, quer seja primária, secundária, terciária ou de reabilitação. Pretende-se através de uma abordagem integrada, enfatizar a educação para a saúde e a educação terapêutica, e que estas contribuam para que os portugueses sejam capazes de gerir a sua própria saúde de modo mais informado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, p.5-7)5.
Perante esta problemática, sentimos a necessidade de abordar o tema, tendo como principais objectivos:
· Identificar os vários tipos de coronariopatias isquémicas;
· Investigar o impacto da doença crónica no indivíduo e na família;
· Conhecer a adesão terapêutica dos doentes;
· Referir estudos e estatísticas acerca da temática.
2 – CORONÁRIOPATIA ISQUÉMICA
A doença cardiovascular é um problema mundial de saúde. No mundo cerca de um terço das pessoas morrem de doença cardiovascular, na sua maioria de doença coronária e AVC. Nos países em desenvolvimento 80% das mortes são causadas por doença cardiovascular (THYGESEN, ALPERT e WHITE, 2007, p.2185)6.
A doença coronária é uma designação genérica, que abrange muitas situações diferentes envolvendo a obstrução do fluxo sanguíneo através das artérias coronárias. As duas etiologias, mais prevalecentes, da doença das artérias coronárias são a aterosclerose e o vasospasmo coronário, sendo a aterosclerose a causa mais comum (HAUGH e KEELING, 2003, p. 719)7.
Quando o fornecimento coronário de sangue é insuficiente relativamente ao oxigénio necessário para manter a pressão deste no tecido do miocárdio surge a isquémia miocárdica. A respiração anaeróbica emerge como resultado de um desequilíbrio entre o fornecimento do oxigénio e a sua necessidade.
Esta patologia é caracterizada pela acumulação de depósitos de gordura (ateromas ou placas) nas células que revestem a parede de uma artéria coronária e consequentemente obstruem a passagem do sangue (Manual Merck, 2007, p. 122)8.
Estudos realizados em 2002 referem que, em Portugal morreram entre 10.000 a 99.999 pessoas, vítimas de coronariopatia. Comparativamente com outras causas de morte (tuberculose, acidentes de viação) na faixa etária entre os 15 e os 59 anos morreram cerca de 1332 mil pessoas vítimas de coronariopatias e cerca de 5825 mil pessoas na faixa etária superior a 60 anos com a mesma patologia (MACKAY e MENSAH, 2004)9. Também no mesmo ano foram desenvolvidos estudos evidenciando que, 6,8% das pessoas do sexo masculino e 5,3% das pessoas do sexo feminino eram portadores de coronariopatias, o que demonstra uma maior incidência da doença no sexo masculino (MACKAY e MENSAH, 2004)9.
O estudo, no ano de 2005, entre os hispânicos e os latinos com idade superior a 18 anos, 8,3% possuíam doenças do coração, 5,9% tinham coronariopatia e 2,2% tiveram AVC (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008)10.
Nos países desenvolvidos as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as pessoas de ambos os sexos, sendo a doença das artérias coronárias a causa principal das doenças cardiovasculares (Manual Merck, 2007, p. 123)8. Nesse sentido iremos abordar as doenças das artérias coronárias isquémicas.
2.1 – ANGINA PECTORIS
A angina pectoris é “resposta sensorial a uma falta transitória de oxigénio no miocárdio” (THELAN [et al.], 1996, p. 297 cit in ANDRÉ, 2005, p. 22)11, traduzindo-se por sensação de angústia de opressão torácica, devida ao fornecimento insuficiente de oxigénio ao coração.
O termo angina é utilizado para descrever o desconforto ou dor no tórax que acontece quando o sangue pobre em oxigénio chega às células do músculo miocárdico. Trata-se de um sintoma e não de uma doença (QUINN, WEBSTER e HATCHETT, 2006, p. 165)12.
A British Heart Foundation (2001) referiu no ano de 2001 que no Reino Unido dois milhões e cem mil pessoas sofrem ou já sofreram, de angina, surgindo por ano 330.000 novos casos (BHF, 2001 cit. in QUINN, WEBSTER e HATCHETT, 2006, p. 165)12.
Com a idade a prevalência aumenta em ambos os sexos, sendo que nos homens varia de 2% a 5% com idades compreendidas entre 45 e 54 anos, e 11 % a 20% com idades entre os 64 e 74 anos, sendo que nas mulheres, 0,5% a 1% e 10% a 14% respectivamente. Com idade superior a 75 a prevalência é idêntica em ambos os sexos (BHF, 2001 cit. In QUINN, WEBSTER e HATCHETT, 2006, p. 165)12.
2.1.1 – Angina estável
A angina estável é a primeira manifestação de cardiopatia isquémica em cerca de 50% dos doentes que apresenta esta patologia. Envolve uma lesão permanente da artéria coronária que limita o fornecimento de oxigénio nos momentos de aumento de necessidade (NAIDU [et al], 2006, p. 221)13.
Os sintomas são tipicamente provocados por uma actividade que aumenta a exigência miocárdica de oxigénio (exercício ou sobrecarga emocional).
É um síndrome clínico que consiste em dificuldade respiratória, suores, náuseas, vómitos, palpitações e fraqueza, com carácter recorrente e associada a isquémia miocárdica, mas sem necrose miocárdica. O desconforto alivia normalmente nos dois a dez primeiros minutos de descanso. As pessoas com angina estável, encontram-se em risco crescente de enfarte agudo do miocárdio e morte repentina (QUINN, WEBSTER e HATCHETT, 2006, p. 166)12.
2.1.2 – Angina instável
A angina instável é um estado clínico intermediário entre a angina crónica estável e o enfarte do miocárdio, correspondendo a uma emergência médica. É comummente associada à rotura da placa ateroesclerótica, acompanhada pela libertação de substâncias vasoconstritoras que podem induzir coagulação. Isto conduz à formação de trombos e obstrução intermitente ou prolongada do lúmen da artéria coronária.
Apresenta-se caracteristicamente como aparecimento recente de sintomas de angina (nas 2 a 4 semanas anteriores); alteração dos sintomas (desconforto mais frequente, é despoletado com maior facilidade, mais grave ou prolongado, ou responde menos à terapêutica); ocorrência de desconforto/dor e sintomas associados na ausência de stress físico ou emocional com duração superior a 20 minutos. Esta apresentação pode ser a primeira manifestação de coronariopatia isquémica ou pode ocorrer como alteração abrupta na angina crónica estável (QUINN, WEBSTER e HATCHETT, 2006, p. 166)12.
2.2 - Enfarte agudo do miocárdio
O enfarte agudo do miocárdio (EAM) é considerado como a maior causa de morte e morbilidade no mundo. Esta patologia pode ser a primeira manifestação da existência de uma doença das artérias coronárias, que acarreta uma problemática a nível psicológico e social no indivíduo (THYGESEN, ALPERT e WHITE, 2007, p.2175)6 .
EAM define-se como “morte das células do miocárdio devido a uma prolongada isquémia” (THYGESEN;ALPERT;WHITE, 2007, p.2176)6, ou seja, é uma oclusão súbita de uma artéria coronária que promove a irrigação ou oxigenação de determinada porção do miocárdio (SANTOS, 2007, p.1)14.
O EAM é causado principalmente por um bloqueio sanguíneo, que irriga o coração. Este acontecimento deve-se principalmente à acumulação de depósitos de gordura no interior das paredes dos vasos sanguíneos (WHO, 2008, p.1)15. Estima-se que em uma amostra de 80.700.000 americanos que tinham uma ou mais patologia cardiovascular, que cerca de 16.000.000, sofria de coronáriopatia, concluindo que destes, 8.100.000 eram EAM. (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008)10.
A sintomatologia presente nesta patologia é semelhante à sintomatologia da angina de peito, contudo é mais intensa, dura mais tempo e não alivia com o descanso ou com a administração de nitroglicerina. Poucos dias antes, duas em cada três pessoas que tiveram EAM, referem ter sentido dor torácica intermitente, fadiga ou dispneia (MANUAL MERCK, 2008)8. Esta dor surge especialmente no peito, sobre o esterno ou sobre o lado esquerdo do tórax, podendo irradiar para o braço esquerdo para o epigastro ou para o pescoço. Muitas vezes esta dor é acompanhada de suores intensos, desconforto geral, náuseas ou vómitos (SANTOS, 2007, p.1)14. O desconforto relacionado com o EAM, dura geralmente, 20 minutos, sendo difuso e sem localização especifica. Estes sintomas não são exclusivos do EAM, podendo surgir como sintomas de outras patologias como gastrointestinais, neurológicas, pulmonares (THYGESEN, ALPERT e WHITE, 2007, p.2176)6. Podem surgir outros sintomas como uma sensação de desfalecimento e de um forte martelar do coração. Se surgirem arritmias, estas podem interferir com o bombeamento do coração ou até provocarem uma paragem cardíaca, levando à perda de consciência ou até mesmo à morte. Uma em cada cinco pessoas que já sofreu um EAM, podem ter sintomas ligeiros ou não apresentarem qualquer tipo de sintoma, (MANUAL MERCK, 2008)8, sendo detectada apenas por electrocardiograma (ECG), elevação dos biomarcadores (THYGESEN, ALPERT e WHITE, 2007, p.2176)6.
Os factores que contribuem para a gravidade da doença são: a extensão da área do miocárdio em risco (da localização da artéria ocluída), existência de doenças prévias ao EAM, da função cardíaca, outras doenças e do tempo de evolução das queixas, ate à assistência médica (SANTOS, 2007, p.1)14.
A ruptura de uma placa ateroesclerótica localizada no interior de uma artéria coronária, é a causa mais frequente do EAM. Esta ruptura é seguida de espasmo arterial e posteriormente dá-se a formação de um trombo. Os factores de risco para a formação da placa ateroesclerótica são: a idade, o sexo masculino, tabagismo, hipercolesterolémia, diabetes mellitus, hipertensão mal controlada, personalidade do tipo A, história familiar e sedentarismo. Existem outras causas que incluem:
«vasospasmo da artéria coronária; hipertrofia ventricular; hipoxia devido a intoxicação por monóxido de carbono e perturbações pulmonares; êmbolos na artéria coronária secundária ao colesterol, ar ou produtos de sépsis; cocaína, anfetaminas; artrite; anomalias coronárias, incluindo aneurismas nas artérias coronárias; aumento do afterload ou efeitos inotrópicos, que aumenta a exigência do miocárdio; dissecação da aorta, com envolvimento das artérias coronárias;» (FENTON, 2007, p.3)16.
O colesterol, sendo o principal constituinte da placa aterosclerótica é um factor de risco da doença coronária epidemiologicamente bem estabelecido, sendo fundamental detectar e tratar precocemente as dislipidémias antes que a doença se agrave e ocorra um EAM. A terapia antidislipidémica, apenas é instituída num ¼ das pessoas que necessitam desta terapêutica e apenas uma pequena percentagem das pessoas tratadas estão bem controladas. A má adesão dos doentes à terapêutica é um factor importante para a falta de sucesso no controlo da dislipidémia (NORTON, 2006)17.
O tratamento da hipertensão arterial está cada vez mais difícil, devido à não adesão da terapêutica por parte dos doentes, pois os medicamentos são caros, as pessoas esquecem-se de os tomar e não gostam dos efeitos colaterais que eles provocam (RAMALHÃO, 2008)18. É importante então actuar em duas vertentes. A primeira através da sensibilização e educação dos doentes para a importância de um controlo eficaz e da manutenção de valores de tensão arterial controlada, para prevenir AVC´s e doenças coronárias isquémicas. A segunda diz respeito à selecção de um tratamento que tenha uma eficácia ao longo do tempo, apresente uma posologia cómoda que seja bem tolerada, evitando assim que o doente abandone o tratamento (GALA, 2007)19.
A reabilitação cardíaca é um programa cujo objectivo é ajudar na recuperação das pessoas que sofreram um EAM. Este programa visa fornecer educação e aconselhamento aos doentes para aumentar a aptidão física, reduzir sintomas cardíacos, melhorar a saúde e reduzir o risco de posteriores problemas cardíacos, incluindo EAM (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2008, p.1)10.
A reabilitação cardíaca reduz a mortalidade e morbilidade nos doentes que sofreram um EAM. O exercício físico deve ser adequado ao indivíduo de acordo com a idade, no desempenho anterior ao EAM e no resultado da prova de esforço. É necessário alterar os factores de risco para que a reabilitação cardíaca tenha benefícios (FERREIRA [et al], 2001, p.166)20.
As medidas preventivas, os novos métodos de diagnósticos e terapêuticos aumentam consideravelmente a sobrevida dos doentes com coronariopatia, especialmente dos doentes pós EAM. A sua participação activa no programa de reabilitação permite um retorno rápido as actividades de vida diárias (STIPP, 2006, p. 295)1.
2.3 – MORTE SÚBITA
A insuficiência cardíaca é uma das principais entidades clínicas da sociedade moderna, com uma prevalência na população europeia de 0,4% a 2%. Trata-se de uma situação de mau prognóstico, com mortalidade anual que oscila entre 5% e 20%, dependendo da sua gravidade, mesmo quando sob terapêutica adequada.
Define-se morte súbita (MS) cardíaca como morte natural não esperada, após um curto período de tempo, geralmente menor ou igual a uma hora, desde o início dos sintomas; ou morte não testemunhada detectada em 24 horas, num indivíduo sem sintomas prévios com ou sem doença cardíaca conhecida (KWOK [et al], 2003, cit in MACHADO, FALCÃO e RAVARA, 2006, p.728)21.
REYNOLDS, PINTO e JOSEPHSON descrevem morte súbita como uma morte natural inesperada, por causa cardíaca, que ocorre pouco tempo depois do início de sintomas, num doente sem qualquer situação prévia potencialmente fatal. Esta definição deve incluir o intervalo de tempo desde o início dos sintomas até ao colapso e à morte, a natureza inesperada do evento, e a causa específica de morte. (REYNOLDS, PINTO e JOSEPHSON, cit in O`Rourke [et al], 2006, p.153)22.
A epidemiologia é caprichosa, porque se a maioria dos doentes não tem patologia cardíaca orgânica de base, em termos relativos, a proporção de mortes de causa súbita é muito maior em doentes com patologia cardíaca, nomeadamente doença coronária e insuficiência cardíaca.
A MS pode ser causada por várias situações, incluindo fenómenos vasculares major como AVC, EAM e tromboembolismo pulmonar (TEP) e ruptura de órgão (ventrículo, aorta, válvulas). De facto, a cardiopatia isquémica tem um grande peso etiológico (CLELAND [et al], 2002, cit in MACHADO, FALCÃO e RAVARA, 2006, p.729)21. O estudo ATLAS demonstrou, com base em dados de autópsia, que o EAM era o principal mecanismo de morte na insuficiência cardíaca (IC), sendo responsável por 40% das MS (URETSKY [et al], 1998, cit in MACHADO, FALCÃO e RAVARA, 2006, p.729)21.
No Mundo Ocidental, a morte por aterosclerose coronária corresponde a aproximadamente 50% de todas as mortes cardíacas e 50% das fatalidades por aterosclerose coronária súbita e inesperada.
Actualmente é reconhecido que a trombose coronária exerce um papel dominante na precipitação do EAM e da Angina instável. Os substratos morfológicos majores que precipitam a morte súbita coronária são a placa instável na trombose coronária (com o sem enfarte do miocárdio), o estreitamento coronário severo com enfarte do miocárdio cicatrizado e o estreitamento coronário na ausência de alterações isquémicas agudas demonstráveis. Define-se estreitamento coronário como um aumento de 75% da área transversa luminal, devido a uma placa aterosclerótica (VIRMIANI, BURKE e FARB, cit in CRUZ F e MAIA, 2003, p. 39)23.
A mortalidade por IC reveste frequentemente a forma de MS, o que aconselha a adopção de estratégias preventivas. Dado o carácter muito oneroso dos meios profilácticos, impõe-se uma correcta estratificação de risco, de forma a identificar quais os doentes em que a prevenção pode trazer maior benefício em prolongamento de vida e melhoria da sua qualidade, devendo-se tratar, em primeiro lugar, todas as patologias e precipitantes reversíveis e optimizar-se a terapêutica da IC (MACHADO, FALCÃO e RAVARA, 2006, p.759)21.
3 - IMPACTO PSICOSSOCIAL DA DOENÇA CRÓNICA
A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que as doenças crónicas de declaração não obrigatória, como as doenças cardiovasculares, a diabetes, a obesidade, o cancro e as doenças respiratórias, representam cerca de 59% do total de 57 milhões de mortes por ano e 46% do total de doenças. Afectando mundialmente países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento (WHO, 2008, p.1)15.
«Viver com uma doença crónica implica necessariamente uma tentativa de reconstrução da vida própria, envolvendo estratégias específicas para lidar com os sintomas, com as consequências percebidas da doença e com o ajustamento à doença no âmbito das relações sociais.» (PAÚL e FONSECA (2001 p. 102) cit in SOUSA (2003)25.
As doenças cardíacas, entendidas como doenças crónicas, pela frequência mais do que pelos seus danos, devem ser abordadas com especial cuidado, nomeadamente pelas suas consequências psicossociais complexas. Pois, para além de um forte impacto a nível da qualidade de vida do indivíduo afectado e da respectiva família, representa uma grande sobrecarga financeira para os serviços de saúde (OMS, 2002 cit in SOUSA, 2003)25.
Em suma, o impacto psicossocial das doenças crónicas revela-se de extrema importância no indivíduo e na família.
3.1 - IMPACTO DA DOENÇA CRÓNICA NO INDIVIDUO
A vivência individual da saúde é um fenómeno cultural, que se inicia com a detecção de sintomas. Na fase seguinte à tomada de consciência de um sinal há que interpreta-lo. Assim, a cultura indica-nos teorias para interpretação dos sinais e respectiva valorização. (PAÚL, 2001, p. 75)24.
A doença é assim entendida como “a incapacidade de responder adaptativamente a desafios ambientais resultando disto a perturbação do equilíbrio do sistema” (BRODY & SOBEL, 1979 cit in PAIS RIBEIRO; 2007, p. 175)26.
É necessário diferenciar então o termo doença, enquanto patologia definida pela medicina (disease), experiência do doente ou de quem a sofre (illness) e como estatuto social da pessoa atingida (sickness).
O comportamento de doença é uma resposta aprendida socialmente e as pessoas respondem aos sintomas de acordo com as suas próprias definições da situação. Essas definições são influenciadas pelas dos outros, adequadas pela aprendizagem, socialização e experiências passadas, sendo ainda mediadas pelo nível cultural e crenças da pessoa (OGDEN, 1999 cit in SOUSA, 2OO3, p.32)25.
«Ao longo do processo de estar doente, o individuo passa por cinco estádios: 1) experimentar os sintomas; 2) assumir o papel de doente; 3) contactar o medico; 4) assumir o papel de paciente – dependente e 4) recuperar e reabilitar-se» (SUCHMAN, 1965 cit in PAÚL, 2001, p. 77).24
Simultaneamente assiste-se a uma mudança das políticas de saúde, onde é realçado o papel activo do indivíduo na manutenção da sua saúde.
Neste âmbito, SCHOEBER e LACROIX (1991), referem que toda a informação vinda do exterior é interpretada de acordo com um sistema de crença individuais conferindo um carácter pessoal à forma como a pessoa vê o seu estado de saúde ou de doença (SOUSA 2003, p.33). 25
A compreensão de como as pessoas se posicionam sobre a sua doença, avaliam as possíveis ameaças, constroem uma percepção da doença e lidam com ela, poderá construir uma base mais sólida para intervenções bem sucedidas.
A adopção de determinados comportamentos também é influenciada por diversos factores de natureza sócio – demográfica (género, nível sócio – cultural e educacional, numero de elemento de agregado familiar, acesso a cuidados de saúde), factores de natureza situacional (influencia interpessoal dos pares e família), factores de natureza psicológica (emocionais e cognitivos) e factores relacionados com as percepções dos sintomas (PETRIE & WEINMAN, 1997 cit in SOUSA, 2003, p.34)25.
Um outro factor relevante é o medo só por si só, que muitas vezes condiciona a adesão ao tratamento, adoptando-se estratégias de promoção de adesão terapêutica.
Um dos modelos que descrevem as cognições de doença é o de LEVENTHEL (1985) – modelo de auto – regulação. Este baseia-se de resolução de doenças/sintomas da mesma forma que fazem a resolução de outros problemas. (ODGEN, 2004, p.69)27.
Neste modelo, o individuo que, perante um dado problema ou uma mudança no estado do individuo, este ficará motivado para resolver o problema em três fases:
«1) interpretação (tornar o problema compreensível); 2) cooping (lidar com o problema de modo a voltar ao estado de equilíbrio); e 3) avaliação (estimar quanto à fase e cooping foi bem sucedida). De acordo com o modelo de resolução de problemas, estas três fases continuarão até que a estratégias de cooping sejam bem – sucedidas e o estado de equilíbrio seja atingido. Em termos de saúde e doença, se o ser saudável é o estado normal do indivíduo, então qualquer início de uma doença será interpretada como um problema e o indivíduo estará motivado para restabelecer o seu estado de saúde (o estar doente não é o seu estado normal)» (ODGEN, 2004, p.69)27.
O EAM implica uma série de modificações psicossociais e comportamentais traduzidas num processo complexo de adaptação às exigências da doença (BEM-SIRA & ELIEZER, 1990 cit in GOUVEIA, 2004, p.61)28.
Esta patologia acarreta características de mortalidade e morbilidade reconhecidas pelos indivíduos, o que vai revelar consequências a nível psicossocial que vão interferir na qualidade de vida destes doentes.
Estudos associados ao EAM realçam uma elevada prevalência de perturbações emocionais e de problemas de reintegração nas diversas dimensões de vida do indivíduo.
A representação que os indivíduos fazem da doença envolvem um conjunto de factores que incluem as cognições que estes fazem da doença, tipo de personalidade, a experiência passada de EAM, a capacidade funcional, os efeitos secundários ao tratamento e a resposta emocional à doença, o grau de informação fornecida pelos profissionais de saúde acerca da sua doença, as expectativas sócio – culturais, e o suporte social. A interpretação que cada indivíduo faz da sua doença é um processo individual e social, que se relaciona com as varáveis atrás mencionadas (ODGEN, 1999; PETRIE & WEINMAN, 1997 cit in GOUVEIA, 2004, p.62)28.
3.2 - IMPACTO DA DOENÇA CRONICA NA FAMILIA
A doença crónica na integração psicossocial dos indivíduos apresenta repercussões nas diversas áreas da sua vida. As limitações impostas pela doença à realização das tarefas diárias fazem com que a família seja envolvida em diferentes tarefas até então realizadas pelo próprio. Isto muitas vezes implica, a interrupção de carreiras profissionais ou de uma grande sobrecarga dos familiares destes doentes, ao tentarem acumular a prestação de cuidados com o trabalho fora de casa. Assim, há que mobilizar recursos formais e informais de apoio à família. (PAÚL, 2001 p. 106)24.
Na sociedade portuguesa as transformações demográficas, sociais e familiares determinam a crescente necessidade de prestação de cuidados de saúde em indivíduos com patologia crónica, quer na alteração dos equilíbrios sociais, nomeadamente na estrutura familiar e de fenómenos de desertificação (MENDES, 2004 p.57)29.
As variáveis familiares, uma vez geradoras de impacto não especifico contribuem para a potencialidade e/ou vulnerabilidade do individuo e familiar, pois a intervenção familiar é actualmente importante para promoção e melhoramento da funcionalidade do doente. Quem cuida está consciente da situação de contínuo agravamento e degeneração do familiar que recebe os cuidados, levando muitas vezes a situações de conflito e inversão de papeis doente/prestadores de cuidados (PAÚL [et al.], 2001 cit in MENDES, 2004 p. 58)29.
Sendo, o processo de prestação de cuidados um contínuo, complexo e dinâmico é caracterizado por constantes variações das necessidades e sentimentos de quem recebe e de quem trata um doente crónico, em função da própria evolução da doença e da situação de incapacidade ou dependência, do contexto familiar e da fase do ciclo vital familiar, das redes de apoio social, dos sistemas de crenças e de como a família percepciona todos esses factores.
As famílias não são todas iguais e apresentam necessidades diferentes, e para que se possa intervir é necessário identificar qual o estádio do ciclo em que esta se encontra não esquecendo as condições de vida, da história, das características do doente crónico que necessita de cuidados.
As representações sociais que a família tem da doença crónica vão influenciar a forma como a família vai desenvolver as suas relações com o meio envolvente e o doente. Estas representações orientam as condutas das famílias nas relações com os outros, principalmente com o doente, enquanto beneficiário de cuidados por parte da família. A família é a pedra angular dos sistemas de suporte crónico (GRANGEIA [et al.] 1996 cit in MENDES, 2004 p. 60)29.
A atitude da família pode ser favorável ou não na adequação às situações de saúde/doença. A ansiedade familiar tem um efeito negativo na atitude do doente crónico à hospitalização, à dor e às diferentes formas terapêuticas, aumentando ou diminuindo a adesão ao tratamento, pois esta representa o suporte para ultrapassar todas as situações mais complicadas durante a doença (MENDES, 2004 p. 62)29.
Sendo uma doença crónica, para toda a vida, a família vai reagir de forma diferente de acordo com o diagnóstico, percurso e grau de incapacidade, demonstrando muitas vezes pânico e receio de não sobrevier sozinha no futuro. A família apresenta uma flexibilidade através da reorganização dos recursos internos e externos face a situação da doença (MENDES, 2004 p.65)29. Dependendo da fase em que o doente se encontra (crise, crónica ou terminal) as famílias apresentam características diferentes levando muitas vezes a um desafio que requer diferentes forças, atitudes e mudanças no seio familiar (MAOS cit in MENDES, 2004 p. 66)29.
A fase crónica ou terminal caracteriza-se por mudanças constantes, progressivas e episódicas na família assim como no sistema social mais alargado e instituições de saúde.
Assim sendo, o grau de sucesso com que a família negoceia as mudanças e integra a doença na vida familiar implica um reforço ou enfraquecimento do impacto dos factores psicossociais na família e ao mesmo tempo um ajustamento individual.
Ao estudar “Suporte social e relacionamento intimo como moderador do mal-estar vida emocional e qualidade de vida após doença cardíaca isquémica” (2006) constata ser importante que durante o processo de reabilitação cardíaca o paciente e a família recebam noções sobre como actuar perante um possível reenfarte de forma a melhorar a eficácia na intervenção holística do doente coronário (GONÇALVES [et al.], 2004 p. 470) 30.
4 – FACTORES DE RISCO PSICOSSOCIAIS DA DOENÇA CORONÁRIA
A ideia de que os factores psicossocial aumenta o risco de DC não é recente. Os doentes coronários têm tendência para possuir determinadas características de personalidade e para apresentar acontecimentos de vida indutores do stress (BOMAN, 1988; KANNEL e EAKER, 1986; RAHE, 1988; TSOI e TAN, 1988 cit in MATOS, 1995, p.29)31.
MATOS afirma que, a diferença entre doentes do foro psicológico e doentes coronários é que, estes últimos, não revelam tanta propensão para assumir o papel de doentes. Mostram-se psicologicamente fortes e surpreendidos pela doença, queixando-se menos.
Os factores psicológico, incluindo acontecimentos de vida, conferem risco coronário através do comportamento e da emoção. O auto-conceito e coping pobres, os acontecimentos de vida negativos e os neuroticismo e a introversão frequentemente acompanhando-se de um desconforto emocional e podem aumentar a probabilidade de o indivíduo emitir comportamentos prejudiciais à saúde (MATOS,1995, p.32)31.
A resposta de stress induzida pelos acontecimentos de vida e influenciada pelas variáveis pessoais, poderá contribuir para a DC, através de determinados mecanismos psicofisiológicos (PATERSON e NEUFELD, 1989 cit in MATOS, 1995, p. 41)31.
«Outra importante via de ligação entre o stress psicológico e a DC são as estratégias de coping, pois estas, contribuem para expor os indivíduos aos efeitos nocivos das emoções negativas e a comportamentos de risco que se relacionam com o estilo de vida. Ou, pelo contrário, podem proteger as pessoas destes mecanismos patogénicos. Se o indivíduo naõ utilizar estratégias de coping para lidar com as emoções negativas, poderá ser vítima de uma activação fisiológica intensa e prolongada» (MATOS, 1995, p.41)31.
5 - ADESÃO TERAPÊUTICA
A adesão terapêutica tem vindo a merecer uma grande atenção por parte da inúmera comunidade científica, nomeadamente a equipa multidisciplinar em saúde, que sente de perto a problemática inerente à não adesão ao tratamento.
Apesar de todo o desenvolvimento, técnico-científico, cultural e ainda alterações de estilos de vida, considera-se que parte da população não tem acesso a informação e aos serviços de saúde. Este facto implica uma fraca orientação em educação para a saúde e na adopção de hábitos de vida saudáveis (JONES, 2003 cit in BUGALHO e CARNEIRO, 2004)32.
A saúde pública, bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos melhorará através da eliminação de comportamentos se risco, a difusão de meios de prevenção, a promoção e a adopção de comportamentos de saúde mais generalizados das populações a par dos avanços no tratamento (PEREIRA, ALMEIDA e DOMINGOS, 2008, p.71)4.
A WORLD HEATH ORGANIZATION (WHO, 2003, p.3)33 destaca que, quando existe informação, apoio e monitorização constante, a adesão melhora consideravelmente, o que implica uma redução dos efeitos negativos provocados pela doença com melhoria da qualidade de vida dos doentes e diminuição da carga das condições crónicas.
A adesão começou por ser definida como “compliance” para se referir aos doentes que são obedientes e seguem fielmente os conselhos dos profissionais de saúde, instruções e prescrições (TURK & MEICHENBAUM, 1991 cit in PAIS RIBEIRO, 2007, p.240) 26. Embora os termos “compliance” e adesão sejam vulgarmente associados, no termo “compliance”, o médico decide o que é ou não apropriado, dá instruções ao doente, que apenas tem que seguir as suas indicações médicas. Caso contrário denota-se um comportamento incompetente e desviante. «A adesão surge como um termo alternativo, em que o indivíduo tem a liberdade de decidir se adere ou não, caso não o faça, não será necessariamente culpado.» (TURK & MEICHEIBAUM, 1991 cit in SOUSA, 2003, p.52)25.
«O melhor termo adoptado é adesão, e define como o grau em que o comportamento de uma pessoa é representado não só pela ingestão de medicamento, mas também pelo seguimento da dieta, das mudanças no estilo de vida e ainda, se corresponde e concorda com as recomendações do médico ou de outro profissional de saúde» (WHO, 2003, p.4)33.
A adesão em saúde pode ser vista sobre duas perspectivas: a adesão comportamental (deixar de fumar) e a adesão médica que se relaciona especificamente com a medicação (SOUSA, 2003, p.53)25.
Nesta perspectiva, a adesão implica um papel activo e colaborativo do indivíduo no planeamento e implementação do seu regime de tratamento.
KRISTELLER E RODIN (1984) cit in PAIS RIBEIRO (2007)26 denotam a importância do papel do indivíduo no tratamento, surgindo um “Modelo do Desenvolvimento de Adesão” que contempla três estádios no processo de participação dos indivíduos nos seus cuidados.
Estádio 1 - Concordância (“compliance”), refere-se à extensão em que o doente na fase inicial concorda e segue as prescrições médicas.
Estádio 2 - Adesão (“adherence”), refere-se à medida em que o doente continua o tratamento com que concordou, com uma vigilância limitada, mesmo quando se defronta com situações conflituais que limitam o seguimento do tratamento.
Estádio 3 - Manutenção (“maintenance”), refere-se à medida em que o doente continua a implementar o comportamento de melhoria da saúde, sem vigilância, incorporando-o no seu estilo de vida (KRISTELLER E RODIN, 1984 cit in PAIS RIBEIRO, 2007, p.240) 26.
5.1 – MODELOS E TERIOAS DE ADESÃO
Se consideramos o problema da não adesão como um problema de mudança de comportamentos, as teorias de mudança de comportamentos podem ser consideradas teorias de adesão.
LEVENTHAL e CAMERON (1987), referem que a adesão apoia-se em cinco orientações teóricas principais: a) Modelo Biomédico, no qual o doente é visto como um recipiente e executor de indicações médicas que devem ser aceites e obedecidas (PAIS RIBEIRO, 2007, p.239)26. Esta abordagem pressupõe que o doente tenha um papel passivo no tratamento da sua doença e na adesão (“compliance”), tendo sido aspectos amplamente ignorados (LANCET, 1996 e TULSKY JP [et al], 2000, cit in WHO 2003, p.139)33; b) Modelo Comportamental Operante (aprendizagem social), dá ênfase a estímulos que desencadeiam um comportamento, às recompensas que reforçam o comportamento, à formação gradual e por fim a automatização após repetição suficiente (PAIS RIBEIRO, 2007, p.239) 26; c) Modelo Comunicacional, interpreta o doente como um principiante que promove o conselho do especialista e o tratamento clínico. A persuasão eficaz (adesão) depende de seis factores: 1- Produção da mensagem (informação sobre objectivos e forma de os alcançar); 2 – Recepção da mensagem; 3 – Compreensão da mensagem; 4 – Retenção da mensagem; 5 – Aceitação do conteúdo da mensagem; 6 – Acção de adesão (PAIS RIBEIRO, 2007, p.240)26. A perspectiva comunicacional incentivou os profissionais de saúde a melhorar as suas habilidades comunicacionais, e a desenvolver igualdade na relação que estabelecem com os doentes. Esta abordagem demonstra que a comunicação influencia a satisfação dos doentes relativamente aos cuidados “médicos”, contudo a adesão à terapêutica é escassa. A relação de empatia e interacção estabelecida é necessária, mas não constitui por si só, a base da mudança dos comportamentos de adesão à terapêutica (MORISKY DE [et al], 1990, cit in WHO 2003, p.140)33; d) Modelo de Acção Racional, este modelo interpreta todo o comportamento humano determinando-o como um pensamento lógico e objectivo. A informação é apropriada aos riscos, benefícios e consequências dos vários comportamentos, por consequente os indivíduos modificam as suas acções de modo a preservar a sua saúde (PAIS RIBEIRO, 2007, p.240)67; e) Modelo dos Sistemas, o doente é visto como um agente activo na resolução dos seus problemas, adoptando comportamentos de saúde que lhe permitam “diminuir” a distância percebida entre o seu estado de saúde actual e o estado por ele desejado (PAIS RIBEIRO, 2007, p.240)26.
O modelo de Hipótese Cognitiva de Ley (1988), defende que a adesão é previsível, combina o factor de satisfação do doente em relação a consulta, com os factores de compreensão da informação dada na consulta e memorização dessa informação (LEY, 1988, cit in ODGEN, 2004, p.94)27.
A satisfação do doente foi referenciada em estudos efectuados por HAYNES [et al.], (1979) e LEY (1988), que indicaram que os níveis de satisfação dos doentes estavam relacionados com vários componentes da consulta, nomeadamente com os aspectos afectivos (apoio emocional, compreensão), aspectos comportamentais (prescrições e explicações adequadas) e aspectos ligados à competência do próprio técnico.
Um outro factor que também foi referido como importante para a satisfação do doente, relaciona-se com a não omissão de informação. A falta de compreensão do doente acerca do conteúdo da consulta poderá afectar a adesão às indicações médicas. LEY (1988) também alertou para a associação entre a capacidade de recordar informações sobre o aconselhado na consulta e a adesão. Ainda de acordo com LEY (1988), a capacidade de recordação não era influenciada pela idade, o que contradiz alguns modelos sobre os efeitos de envelhecimento na capacidade de memorização (LEY, 1988, cit in ODGEN, 2004, p.94)27.
5.2 – DIMENSÕES QUE AFECTAM A ADESÃO
Os problemas da adesão verifica-se em todas as situações em que existe auto-administração do tratamento, muitas vezes independentemente do tipo de doença, qualidade e/ou acessibilidade aos recursos da saúde. A crença que os doentes são os únicos responsáveis pela adesão ao seu tratamento é enganosa e representa um equívoco, dado existirem diversos factores que afectam o seu comportamento e a capacidade de adesão à terapêutica (WHO, 2003, p.27) 33.
A adesão é um fenómeno multidimensional, determinado pela interacção de cinco factores, denominados por “ dimensões”.
· Factores Económicos, Sociais e Culturais
A adesão ao aconselhamento médico pode ser influenciada por factores económicos e sociais. De facto, para que uma pessoa adira ao tratamento tem que o compreender, recordar e essencialmente ter condições para o efectuar. Embora o estatuto socioeconómico não tenha sido encontrado de forma consistente como preditor independente da adesão, nos países em desenvolvimento verifica-se que o indivíduo portador de um baixo estatuto socioeconómico, confronta-se com a problemática de optar por prioridades, que incluem os limitados recursos disponíveis para satisfazer as necessidades do seu núcleo familiar (ALBAZ RS, 1997, MORGAN M., 1988 e BELGRAVE, 1997 cit in WHO, 2003, p.28)33.
Muitos outros factores, são significativos no âmbito socioeconómico tais como: o analfabetismo, o baixo nível de escolaridade, o desemprego, a falta de redes de apoio social, os custos elevados dos medicamentos e de transporte (longa distância de acesso ao tratamento) e ainda a disfunção familiar e as diversas culturas sobre doenças e tratamentos (WHO, 2003, p.28)33.
· Factores Relacionados com os Profissionais e Serviços de Saúde
Os profissionais de saúde tendem a culpabilizar o doente pela não adesão justificando este comportamento com a personalidade não cooperativa que alguns possuem bem como a incapacidade de perceber os conselhos.
«Porém, o tipo de comportamentos que os profissionais têm, poderão influenciar nos comportamentos de auto controle do doente, isto porque se o indivíduo não recebe instruções específicas, terá menos probabilidade de aderir» (AMARAL, 1997 cit. in SOUSA, 2004, p.59)25.
Diversas vertentes podem influenciar a má prática dos profissionais de saúde: falta de conhecimento e informação, gestão das doenças crónicas, sobrecarga de trabalho, falta de incentivos e feedback do seu desempenho (ROSE LE [et al], 2000, WHO, 2003, p.29)33.
“A satisfação dos doentes é uma construção multidimensional e resulta da avaliação que este faz dos cuidados recebidos. Investigações em Portugal confirmam que embora esta satisfação possa incluir varias componentes dos cuidados, estas sugerem que os doentes privilegiam a empatia e a comunicação na relação interpessoal, valorizando-as mais do que as perícias técnicas” (MCLNTRYE & SILVA, 1999 cit in SOUSA, 2004, p. 60)25.
· Factores Relacionados com a Percepção da Doença
A capacidade que o indivíduo tem de percepcionar a condição da sua doença é determinante para a adesão ao tratamento. Esta, está relacionada com a gravidade dos sintomas, o nível de deficiência (física, psicológica, social e profissional), a taxa de progressão e gravidade da doença, bem como a disponibilidade efectiva para o tratamento. O impacto da doença influência o indivíduo, na percepção de risco, na importância de seguir o tratamento, bem como a prioridade colocada na adesão (CIECHANOWSKI [et al], 2000, cit in WHO, 2003, p.30) 33.
· Factores Relacionados com a Terapêutica Prescrita
Algumas características da doença estão interligadas à adesão, sendo as mais frequentes a gravidade da doença e a visibilidade dos sintomas. Uma variedade de estudos concluiu que os doentes crónicos assintomáticos, frequentemente não aderem ao tratamento (MARKS [et al.], 2000 cit in SOUSA, 2004, p. 57) 25, justificando assim a elevada taxa de adesão nas doenças agudas em relação as doenças crónicas. Outros aspectos como a duração e complexidade do tratamento devem também ser considerados. Quanto mais complicado é o tratamento prescrito, menor é a probabilidade do doente aderir completamente. «De facto, estes parecem aderir mais facilmente a tratamentos curtos e simples, que impliquem poucas mudanças nos seus hábitos diários.» (BENNETT, 2002 cit in SOUSA, 2004 p.58) 25. Conclui-se que vários estudos demonstraram que o doente tende a aderir ao tratamento quando este se demonstra eficaz no controlo dos sintomas, tem um custo relativamente baixo e os seus efeitos colaterais são reduzidos.
· Factores Individuais Relativos ao Doente
As pessoas estão mais dispostas a aderir a regimes de tratamento quando acreditam que têm responsabilidade na sua saúde, e quando os seus comportamentos lhe trazem benefícios (BRANNON & FEIST, 1997, cit in SOUSA, 2004, p.55)25.
O grau de adesão depende da gravidade, como o indivíduo entende a doença, da susceptibilidade à doença, benefícios para o tratamento recomendado e às barreiras no desenrolar do tratamento.
Como factores que afectam o nível de adesão do indivíduo ao tratamento, WHO (2003, p.30)33, salienta: esquecimento, stress psicossocial, conhecimento insuficiente, crenças negativas em relação a eficácia do tratamento, inquietação acerca de possíveis efeitos adversos, baixa motivação, falta de auto-percepção, medo de dependência de “drogas” e estigmatização da doença.
5.3 - ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO PARA A ADESÃO
A adesão é considerada essencial para o bem – estar do doente, por isso fazem-se várias recomendações para melhorar a comunicação e, logo, a adesão. Estas recomendações devem ser expressas através de informação oral e informação escrita (OGDEN, 2004, p.100)27.
Um dos meios para melhorar a informação oral, foi proposto por Ley (1989) cit in ODGEN (2004)27, salientando os seguintes aspectos:
«o efeito da primazia – os doentes têm tendência para recordar aquilo que lhes é dito em primeiro lugar; explicitar a importância da adesão; simplificaras informações; usar a repetição; e seguir a consulta com entrevistas adicionais.» (ODGEN, 2004, p.100)27.
Os profissionais de saúde representam um veículo importante, para melhorar a adesão ao tratamento. Neste âmbito, Turk e Meichenbaum (1991) cit in PAIS RIBEIRO (2007)26, listaram como acções para progressão dos doentes na adesão do seu tratamento as seguintes:
«1) escutar o doente; 2) pedir ao doente para repetir o que tem que se fazer; 3) fazer prescrições tão simples quanto possível; 4) dar instruções claras acerca do regime de tratamento, de preferência por escrito; 5) recorrer a formas de contar os comprimidos tomados; 6) telefonar se falhar uma consulta; 7) prescrever m regime de tratamento que tome em consideração os horários do indivíduo; 8) salientar a importância da adesão em cada visita; 9) adaptar a frequência das visitas ás necessidades de adesão do doente; 10) realçar os esforços do utente para aderir em cada visita; 11) envolver o cônjuge ou outro próximo do doente» (PAIS RIBEIRO, 2007, p. 242)26.
Dentro dos profissionais de saúde, destaca-se o papel do enfermeiro, pois este é o que se encontra mais próximo do doente. Embora a adesão esteja intimamente ligada à confiabilidade, competência e empatia de toda a equipa multidisciplinar.
A amabilidade, acessibilidade, compreensão, preocupação pela doença, pelo doente e pela família, alerta para sinais de baixa adesão e adoptar uma atitude de apoio ao doente em todos os contactos são exemplos de comportamentos que promovem a adesão aos cuidados de saúde.
O enfermeiro pode criar também uma relação de aliado com doente. Pelo tipo de cuidado que este presta, o doente tende a estar mais relaxado e estabelecer um relacionamento mais natural com o enfermeiro, o qual deve explorar esta situação privilegiada para identificar, investigar e reforçar a adesão ao tratamento.
- Tipo de intervenções
Para melhorar a adesão dos doentes ao tratamento, ou promover a capacidade dos profissionais de saúde e aumentar a adesão terapêutica encontram-se dois tipos de intervenções: educacionais, promotoras de conhecimento acerca de medicação e/ou doença; e as comportamentais, cujo objectivo consiste em incorporar na rotina diária mecanismos de adaptação e facilitação para o cumprimento dos tratamentos propostos.
As intervenções educacionais incluem a administração de informação oral e escrita, de material áudio visual e/ou informático, em programas educacionais individuais ou de grupo.
As intervenções comportamentais abordam componentes importantes do esquema terapêutico como o aumento da comunicação e aconselhamento; adequação e simplificação do tratamento; participação activa dos doentes no seu tratamento através da auto monitorização da doença e auto administração da terapêutica; utilização de sistemas de alerta ou memorandos de índole variável; mecanismos de reforço positivo ou recompensa pelo cumprimento dos esquemas propostos, assim como pelo controlo da doença e obtenção de metas em termos de ganhos em saúde (BUGALHO e CARNEIRO, 2004, p.20)32.
6 – ADESÃO À TERAPÊUTICA NO PÓS CORIONOPATIAS ISQUÉMICAS
A adesão terapêutica assume um papel de particular importância nos doentes portadores de doenças crónicas, constituindo a ausência da mesma, um grave problema de saúde pública com enormes repercussões na incidência e prevalência de inúmeras patologias. Este problema é um indicador central de avaliação da qualidade em qualquer sistema de saúde que se queira moderno e eficaz. Prevê-se que o impacto económico e mundial das doenças crónicas continua a crescer até 2020, altura em que corresponderá a 65% das despesas para a saúde em todo o mundo. Nos países desenvolvidos, estima-se que o grau de adesão às terapêuticas crónicas seja de 50% e, nos países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento, ainda menor (RASHID, 1982 cit in BUGALHO e CARNEIRO, 2004)32. Alguns trabalhos demonstram que 6 a 20% dos doentes não aviam as prescrições médicas e que 30% a 50% não cumprem o esquema proposto, atrasando ou omitindo doses (BEGG, 1984 cit in BUGALHO e CARNEIRO, 2004) 32. Nos Estados Unidos, calcula-se que a não adesão conduza a 125.000 mortes por ano e 5 a 15% das admissões hospitalares anuais (GRYFE, 1984 cit in BUGALHO [et al], 2004)32. Estes indicadores, apesar de preocupantes, podem não abranger a totalidade do problema, existindo uma grande incerteza em relação à dimensão real do mesmo (BUGALHO e CARNEIRO 2004, p.9)32.
Actualmente, em Portugal, deparamo-nos com diversos estudos que avaliam a adesão do doente ao tratamento, sendo que a maioria é direccionada para doenças crónicas, como a síndrome da imunodeficiência adquirida e hipertensão, entre outros, e não tão frequentemente dados específicos de adesão e síndrome coronário isquémico. A complexidade desta temática e dificuldades na recolha de informação inerente ao tema de investigação, implicou a escolha dos estudos relativos a outras patologias crónicas, para que de modo comparativo seja possível posteriormente, retirar elações.
SILVA, desenvolveu um estudo a nível Nacional que tinha como principal objectivo avaliar as razões que influenciam adesão à terapêutica instituída e calcular a taxa de adesão a essas terapêuticas. Tendo como amostra 1000 doentes
hipertensos, conclui que 85,4% são aderentes ou aderentes parciais, tendo apenas 50 % dos indivíduos a tensão controlada. Após análise dos resultados conclui que «os homens e os indivíduos casados são mais aderentes, talvez porque têm algum familiar ou cônjuge que lhes lembra da necessidade das tomas…» (SILVA, 2007, p.8)34.
Estudos sobre a adesão terapêutica Anti-retroviral, citando o do Hospital Distrital de Portimão, com a população alvo de 206 prisioneiros de Silves e Portimão, revelaram que em 19% dos casos, ocorreu abandono da medicação e do acompanhamento regular por iniciativa própria do doente (MARÍN [et al], 2002)36.
A adesão terapêutica em contexto de cuidados de saúde primários, mais propriamente, no centro de saúde I de Braga (2005) revelou que numa amostra de 273 utentes, apenas 33,2 % (n=89) nunca se esquecem de tomar os medicamentos (KLEIN [et al], 2005)35.
Numa revisão de vários estudos, SHERIDAN e RADMACHER (1992) concluíram que, no geral, cerca de 50% dos doentes não tomam os fármacos de acordo com as prescrições estipuladas, 20% a 40% não são vacinados segundo a recomendação e 20% a 50% faltam a consultas previamente marcadas. Verificaram ainda, nos casos em que a adesão implica alterar hábitos bem estabelecidos (por ex. deixar de fumar, diminuir ingestão de alimentos), que os índices são ainda mais elevados (KLEIN e GONÇALVES, 2005)35.
Um estudo realizado no Brasil sobre a adesão à terapêutica e de como os custos do tratamento a influenciam. Detectaram que a cardiopatia isquémia é a doença que possui o maior número de óbitos e internamento no país. Sendo fundamental conhecer o impacto económico desta doença (STEIN [et al], 2005)3