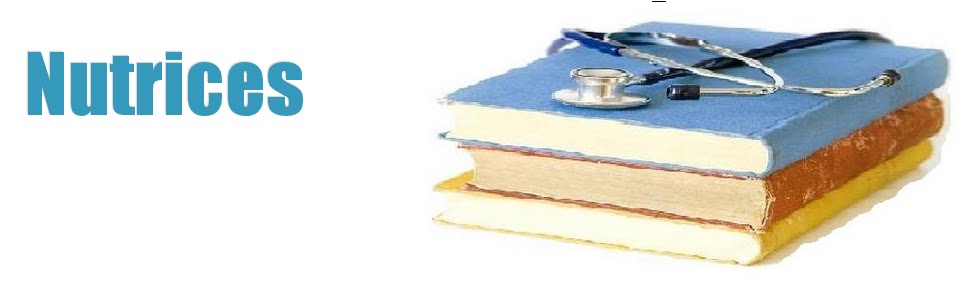Este trabalho pretende investigar a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes, nomeadamente nas dimensões relacionamento, comunicação e educação para a saúde.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal e analítico.
Para a concretização desta pesquisa foi seleccionada uma amostra do tipo não probabilístico, intencional, constituída por 37 utentes diabéticos tipo2, pertencentes à área de influência do Centro de Saúde de Oliveira de Frades que frequentam a consulta de enfermagem da diabetes.
O instrumento de colheita de dados utilizado foi um formulário, composto por duas partes: a primeira parte para caracterizar a amostra com 4 questões e a segunda parte constituída por 23 questões tipo escala de Likert. Foi aplicado no período de 21 a 28 de Janeiro de 2005.
O trabalho esta dividido em três partes. Na primeira parte fez-se o enquadramento teórico do tema em questão, fazendo referência à Diabetes, Consulta de Enfermagem, Instrumentos básicos de Enfermagem nomeadamente observação, comunicação e registos.
Na segunda parte abordámos as estratégias e metodologia utilizadas na investigação. E por último, numa terceira parte, apresentamos os resultados obtidos e análise dos mesmos.
A satisfação foi avaliada em três dimensões: relacionamento, comunicação e educação para a saúde.
No que diz respeito à dimensão do relacionamento, quanto mais novo é o utente, maior é o nível de satisfação. E são os utentes do sexo masculino, com diabetes diagnosticada há menos de dez anos e residentes em Ribeiradio que se encontram mais satisfeitos nesta dimensão.
Em relação à comunicação, são os utentes da faixa etária dos 65 aos 71 anos, do sexo masculino, com diabetes há mais de dez anos e residentes em São Vicente de Lafões os mais satisfeitos.
Por último, na dimensão da educação para a saúde, são os homens com idades compreendidas entre 60 e 64 anos, com diabetes há menos de dez anos a residir em São Vicente de Lafões os mais satisfeitos.
Para obter estes resultados e verificar se existiam diferenças estatísticas, aplicamos testes (Teste Qui-Quadrado ao nível de significância de 5%; teste T-student para comparação e diferença de médias; Matrizes de Correlação de Pearson para avaliar eventuais relações entre variáveis e One -Way ANOVA).
Concluímos através dos testes realizados que:
· As diferenças não são estatisticamente significativas na relação entre idade e qualquer uma das dimensões da satisfação (p>0,05).
· No que diz respeito ao sexo, as variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis. Relativamente à educação para a saúde, isto não se verifica, pode-se dizer que existem diferenças estatisticamente significativas.
· Relativamente à idade, não há relação entre as dimensões da satisfação e a idade.
· Verifica-se que apesar dos utentes que têm a doença diagnosticada há menos de dez anos estarem mais satisfeitos nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde, esta diferença não é estatisticamente significativa, pois p>0,05, o mesmo acontece relativamente aos utentes que possuem a doença há mais de dez anos estarem mais satisfeitos na dimensão da comunicação. Esta diferença também não é estatisticamente significativa porque p>0,05.
As conclusões principais são que o nível de satisfação em relação a todas as dimensões, é muito bom, apenas é sugerido que haja uma maior quantidade de informação escrita disponível para o utente.
INTRODUÇÃO

Na qualidade de discentes do 4º ano, do 5º Curso de Licenciatura em Enfermagem, a frequentar o Ensino Clínico XIX, foi-nos proposta a elaboração de um estudo de investigação de forma a abordar a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
De forma a permitir uma leitura clara por parte do leitor passamos a dividir esta nota introdutória em cinco pontos:
· Neste primeiro ponto será referenciado o tema e o contexto de estudo, em que está inserida a investigação.
A Diabetes, segundo a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (2004) é uma doença crónica caracterizada pelo aumento dos níveis de glucose no sangue. Trata-se de uma situação muito frequente na nossa sociedade, que aumenta com a idade e que atinge homens e mulheres. Segundo a mesma Associação, em Portugal calcula-se que existam cerca de 500 mil diabéticos.
A diabetes mellitus é caracterizada pela hiperglicémia crónica, devida à ausência de produção de insulina e/ou à sua não acção (insulinoresistência). É caracterizada também pelo possível aparecimento de alterações patológicas nos tecidos de certos órgãos, aparelhos e sistemas, constituindo as complicações tardias da diabetes, causadas, na maior parte, pelas alterações bioquímicas que a hiperglicémia desencadeia. RUAS (2000) cit. in COUTO e CAMARNEIRO (2002).
A educação do diabético é um acto terapêutico. Quem tem de ser o verdadeiro educador do diabético é o enfermeiro em interacção com os outros elementos da equipa. Educar é: informar/ensinar sem barreiras, consciencializar, responsabilizar. É produzir mudança nos comportamentos e sentimentos do “outro”.
· No segundo ponto pretendemos enumerar os objectivos que, estiveram na base da construção de todo o estudo.
Segundo ACKOFF (1975) cit. in MARCONI e LAKATOS (1996) “o objectivo da ciência não é somente aumentar o conhecimento, mas o de aumentar as nossas possibilidades de continuar aumentando o conhecimento”.
Para FORTIN (1999) “o objectivo de um estudo indica o porquê da investigação. É um enunciado declarativo que precisa a orientação da investigação segundo o nível dos conhecimentos estabelecidos no domínio em questão. Especifica as variáveis chave, as populações alvo e o contexto do estudo”.
Desta forma o objectivo geral do estudo em questão consiste em verificar se existe relação entre as variáveis sociodemográficas e clínica com a satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da Diabetes.
Como objectivos específicos citamos:
- Analisar a influência dos aspectos sociodemográficos na satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes;
- Avaliar a influência do tempo de diagnóstico da doença com a presença ou ausência de satisfação;
- Qual ou quais os indicadores em que se nota menor satisfação;
- Identificar aspectos menos positivos da consulta de enfermagem da diabetes;
- Melhorar esses mesmos aspectos, para que a consulta de enfermagem vá de encontro às necessidades dos utentes.
Só com a formulação destes objectivos foi possível orientar e conduzir de forma objectiva e coerente, toda a idealização e concretização deste estudo.
· Neste terceiro ponto pretendemos uma exposição e especificação clara e precisa do argumento que se pretende abordar.
Como é óbvio não se pode iniciar um estudo enquanto não se tiver seleccionado o problema de investigação, uma vez que a formulação de um problema de investigação é uma das etapas chave do processo de investigação.
Mas afinal o que é um problema de investigação? Pode ser considerado uma situação problemática, que nos afecta de um ou outra forma e que exige uma explicação ou uma compreensão do fenómeno.
segundo FORTIN (1999) o problema de investigação,
«(...) tem por ponto de partida uma situação considerada como problemática, isso é, que causa um mal-estar, uma inquietação, e que, por consequência, exige uma explicação ou pelo menos uma melhor compreensão de um fenómeno observado”. Ainda segundo este autor “ a questão de investigação expressa-se sob a forma de uma interrogação explícita relativa ao problema a examinar e a analisar com o objectivo de colher novas informações».
ADEBO (1974) cit. in FORTIN (1999) refere que “um problema de investigação é uma situação que necessita de uma solução, de um melhoramento ou de uma modificação”.
Para os autores: LAKATOS e MARCONI (1996) “problema é uma dificuldade, teoria ou prática do conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução.”
CAMPANA et al (2001) referente à definição de problema salienta que “esta se baseia em dizer qual a dificuldade que se procura resolver, limitando o seu campo de abrangência e representando as suas características, de uma forma clara e compreensível”.
É com base na pertinência do tema e também como forma de contribuir para o avanço no conhecimento que surgiu o nosso problema de estudo:
Ø As variáveis sociodemográficas e clínica influenciam a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes?
· No ponto quatro pretendemos definir a nossa questão de investigação.
“As questões de investigação são as premissas sobre as quais se apoiam os resultados de investigação. São enunciados interrogativos precisos, escritos no presente, e que incluem habitualmente uma ou duas variáveis, assim como a população estudada.” (FORTIN, 1999).
Formular uma questão de investigação não é mais do que criar uma interrogação onde deverá estar explicitamente o problema que se pretende analisar com o objectivo de obtermos o máximo de novas, actuais, claras, coerentes e precisas informações.
Para FORTIN (1999) “é muito importante como se coloca a questão, uma vez que, já que vai ser ela que vai determinar (seleccionar) o método a utilizar para a obtenção de resultados, ou seja de uma resposta, sugerindo o rumo (o caminho) que a investigação deve tomar”.
A questão de investigação tem dois componentes, sendo eles o domínio e a questão pivô. O primeiro diz respeito ao aspecto do problema que se pretende estudar, enquanto que a questão pivô é uma interrogação que antecede o domínio, e que dá a este (e à investigação) uma direcção. A partícula de interrogação usada neste projecto é “Existe” (questão pivô de tipo II), sendo a questão de investigação deste trabalho a seguinte:
Ø Existe relação entre os aspectos sociodemográficos e clínicos dos utentes diabéticos do concelho de Oliveira de Frades e a Satisfação dos mesmos na Consulta de Enfermagem da Diabetes?
· Por último neste ponto pretendemos esclarecer a metodologia que esteve na base do estudo em questão e fazer uma breve descrição da estrutura do mesmo.
O trabalho encontra-se dividido em três pontos fundamentais que se identificam com a fundamentação teórica, metodologia e apresentação e discussão dos resultados.
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, não probabilístico, intencional no qual se pretende analisar a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
Como pretendíamos estudar uma população e avaliar o fenómeno a ela associado, num período de tempo bem definido, optámos por recorrer a uma amostra de 37 utentes e recorremos a um estudo transversal já que temos como objectivo explorar e determinar a existência de relação entre variáveis, com vista a descrever essas mesmas relações, ou seja, pretendemos descobrir os factores que estão ligados a um fenómeno sendo neste estudo – Satisfação dos utentes diabéticos.
O método de colheita de dados por nós utilizado foi o formulário, que se apresenta dividido em duas partes; a primeira refere-se à identificação do utente, sendo a segunda parte constituída por 23 perguntas tipo escala de Likert, que pretende avaliar a Satisfação do utente nas várias dimensões.
I ª Parte – Fundamentação Teórica
2. Diabetes
A Diabetes, segundo a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (2004) é uma doença crónica caracterizada pelo aumento dos níveis de glucose no sangue. Trata-se de uma situação muito frequente na nossa sociedade, que aumenta com a idade e que atinge homens e mulheres. Segundo a mesma Associação, em Portugal calcula-se que existam cerca de 500 mil diabéticos.
2.1 Definição
Segundo CHICOURI (1986), torna-se difícil uma definição correcta se nos prendermos à etimologia do termo. Os antigos designavam por diabético o indivíduo no qual a água ingerida “atravessava” o organismo em grande quantidade sem nele se deter: urinava, portanto, abundantemente um líquido açucarado e dizia-se que tinha “diabetes”.
O mesmo autor, considera actualmente Diabetes como um estado caracterizado por uma concentração excessiva de glicose no sangue, “a diabetes é um sindroma de hiperglicémia crónica com causas múltiplas”.
De acordo com HOYO, Diabetes «mellitus» é uma doença caracterizada por uma dificuldade do organismo para utilizar adequadamente os hidratos de carbono, o que se traduz pela presença excessiva no sangue de um tipo de açúcar chamado glicose e pelo seu aparecimento na urina.
WILLMS diz nos que, “ A Diabetes é uma doença, cujos sinais e sintomas são devidos à deficiência de secreção de insulina ou falência da acção de insulina”
Para a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), a diabetes é uma doença que resulta de uma deficiente incapacidade de utilização pelo organismo da nossa principal fonte de energia, a glucose.
A diabetes mellitus é caracterizada pela hiperglicémia crónica, devida à ausência de produção de insulina e/ou à sua não acção (insulinoresistência). É caracterizada também pelo possível aparecimento de alterações patológicas nos tecidos de certos órgãos, aparelhos e sistemas, constituindo as complicações tardias da diabetes, causadas, na maior parte, pelas alterações bioquímicas que a hiperglicémia desencadeia. RUAS (2000) cit. in COUTO e CAMARNEIRO (2002).
Segundo VIEIRA [et al.] (2001), a diabetes mellitus é uma doença em expansão mundial, estimando-se existirem cerca de 124 milhões de diabéticos em todo o mundo.
2.2 Breve abordagem anatomo-fisiológica dos órgãos endócrinos responsáveis
O pâncreas está situado no espaço retroperitoneal, entre a curvatura do estômago e o duodeno. Segundo SEELY (2001), é uma estrutura alongada, que mede aproximadamente 15 centímetros de comprimento e pesa cerca de 85 a 100 gramas.
Para o mesmo autor, o pâncreas é uma glândula simultaneamente endócrina e exócrina. A porção exócrina é formada por ácinos que produzem o suco pancreático e por um sistema de canais que transporta o suco pancreático até ao intestino delgado. A porção endócrina é constituída pelos ilhéus pancreáticos ou de Langerhans e produz hormonas que entram no sistema circulatório.
"Entre 500000 e 1000000 ilhéus de Langerhans estão dispersos por entre os canais e ácinos do pâncreas" (SEELY, 2001).
De acordo com o mesmo autor, cada ilhéu é composto de células alfa (20%), secretoras de glucagon, de células beta (75%) secretoras de insulina e células de outros tipos (5%). As restantes células são ou células imaturas de função ou células delta que segregam somatostatina.
As hormonas pancreáticas desempenham um papel importante na regulação da concentração dos nutrientes críticos no sistema circulatório, especialmente a glicose e os aminoáciods do sangue. Os tecidos alvo principais para a insulina são o fígado, o tecido adiposo e o centro da saciedade (no hipotálamo).
As moléculas de glicose para SEELY (2001), que não são imediatamente necessárias como fonte de energia para manter o metabolismo celular são armazenadas sob a forma de glicogénio no músculo esquelético, no fígado e noutros tecidos, sendo convertida em gordura no tecido adiposo.
Sem insulina, é mínima a capacidade destes tecidos para aceitar e utilizar a glicose e os aminoácidos. Na presença de demasiada insulina, os tecidos alvo captam rapidamente a glicose do sistema circulatório.
Embora a maior parte do sistema nervoso, salvo o centro da saciedade, não seja tecido alvo para a insulina, esta tem, mesmo assim, um papel importante na regulação da concentração da glicose sanguínea de que depende o sistema nervoso. Visto que o sistema nervoso depende da glicose como nutriente, a hipoglicémia determina um funcionamento inadequado do sistema nervoso central.
Segundo SEELY (2001), o glucagon influencia sobretudo o fígado, embora tenha algum efeito no músculo esquelético e no tecido adiposo. A quantidade de glicose libertada pelo fígado na corrente sanguínea aumenta grandemente depois da secreção de glucagon aumentar.
O sistema nervoso autónomo também controla a secreção de insulina. Como a estimulação parassimpática está associada com a toma de alimentos, ela produz-se com níveis de glicose elevados, actuando para aumentar a secreção de insulina. A enervação simpática inibe a secreção de insulina e ajuda a impedir uma quebra rápida dos níveis de glicémia.
Para o mesmo autor, as hormonas gastrointestinais envolvidas na regulação da digestão, como a gastrina, a secretina, e a colecistoquinina aumentam a secreção de insulina.
2.3 Classificação
Na CIRCULAR NORMATIVA DA DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE (2002) classifica-se a diabetes mellitus em:
Ø Diabetes tipo 1
Ø Diabetes tipo 2
Ø Diabetes gestacional
Ø Outros tipos específicos de diabetes
A diabetes tipo 1 resulta da destruição das células β do pâncreas, havendo a necessidade de existir uma insulinoterapia absoluta, para assegurar a sobrevivência. Na maioria dos casos a destruição das células β dá-se por mecanismo auto-imune, e neste caso denomina-se diabetes tipo 1 autoimune, no entanto, em outros casos não é possível detectar a possível causa, nem a existência de um processo auto-imune e neste caso designa-se diabetes tipo 1 idiopática.
No momento do diagnóstico, os indivíduos apresentam-se normalmente magros e é mais frequente aparecer em pessoas com menos de 30 anos, embora possa aparecer em qualquer idade.
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), este tipo de diabetes é mais raro (não chega a 10% no total) e atinge na maioria das vezes, crianças ou jovens, mas pode também aparecer em adultos e até em idosos.
A diabetes tipo 2 é a forma mais frequente de diabetes, existindo uma insulinopenia relativa, com maior ou menor grau de insulinoresistência. Geralmente surge após os 40 anos, com início progressivo, os indivíduos são geralmente obesos, há na maioria dos casos predisposição genética.
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS PORTUGUESES (2004), também conhecida como diabetes não-insulinodependente, ocorre em indivíduos que herdaram uma tendência para a diabetes (têm frequentemente, um familiar próximo com a doença: pais, tios ou avós) e que, devido a hábitos de vida e de alimentação errados e por vezes stress, vêm a sofrer de diabetes quando adultos.
De acordo com a mesma associação, as pessoas com diabetes tipo 2, geralmente têm peso excessivo e nalguns casos são mesmo obesas. Têm, com frequência a tensão arterial elevada e por vezes ”gorduras” a mais no sangue (hiperlipidemia).
Na diabetes tipo 2 o pâncreas é capaz de produzir insulina. Contudo, uma alimentação incorrecta e a vida sedentária, com pouco ou nenhum exercício físico, tornam o organismo resistente à acção da insulina (insulinorresistência), obrigando o pâncreas a trabalhar mais, até que a insulina que produz deixa de ser suficiente. É nessa altura que surge a diabetes.
Para a mesma associação, a diabetes tipo 2 está a aparecer nos últimos anos em idades mais jovens como resultado de excessos alimentares, sedentarismo e da obesidade que tem invadido as camadas mais novas da população, em particular dos países mais desenvolvidos. Começam a aparecer já entre nós casos de diabetes tipo 2 em idades inferiores aos 20 anos.
No caso da diabetes gestacional, aparece durante a gravidez e é documentada pela primeira vez nesse período.
De acordo com a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS PORTUGUESES (2004), esta forma de diabetes surge em grávidas que não eram diabéticas antes da gravidez e, habitualmente, desaparece quando esta termina.
Contudo, quase metade destas grávidas virão a ser, mais tarde, diabéticas tipo 2 se não forem tomadas medidas de prevenção.
No ponto de vista da mesma associação, a diabetes gestacional ocorre 1 em cada 20 grávidas e, se não for detectada através de análises e a hiperglicémia corrigida com dieta e, por vezes com insulina, a gravidez pode complicar-se.
Nos outros tipos de diabetes considera-se as situações em que a diabetes é consequência de um processo etiopatogénico identificado, como por exemplo resultante de uma doença pancreática.
2.4 Sintomatologia
Os sintomas de apresentação da diabetes estão relacionados com alterações metabólicas. Para BEYERS (1984), estes incluem perda de peso e diminuição geral da energia, bem como a tríade clássica de poliúria, podipsia e polifagia. Segundo o mesmo autor em algumas mulheres, suspeita-se da presença de diabetes quando apresentam episódios repetidos de vulvite.
As infecções cutâneas também podem indicar a presença de diabetes quando há recorrências frequentes. Outros sintomas incluem cefaleia, visão embaçada, sonolência e perda de apetite.
Além dos sintomas acima referidos a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), refere ainda como sintomas típicos da diabetes a xerostomia, fadiga e prurido no corpo.
Segundo esta associação, os sintomas só aparecem quando a glicémia está muito elevada e surgem, habitualmente, de modo mais lento que na criança ou jovem.
O açúcar elevado vai provocando os seus malefícios mesmo sem se dar por isso. É essa a razão pela qual, às vezes, podem já existir complicações quando se descobre a diabetes.
A detecção destes sintomas deve alertar a enfermeira para a necessidade de testes de diagnóstico.
2.5 CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO
Para MILLER (1988), a confirmação do diagnóstico da diabetes é sempre laboratorial, e exames como a pesquisa de glicose na urina e glicémia em jejum podem ser utilizados com essa finalidade.
Para o mesmo autor, na pesquisa de glicose na urina, a existência de glicosúria na presença de sintomas de diabetes é altamente sugestiva e, em muitos locais desprovidos de recursos, isto é suficiente. Na ausência de sintomatologia, é obrigatório a determinação da glicémia em jejum e, se esta for normal a execução de uma prova de tolerância à glicose.
No entanto, a ausência de glicosúria não afasta a possibilidade de diabetes, pois a perda de glicose pela urina depende do limiar renal de excreção.
Segundo WILLMS (…..), no diagnóstico através da determinação da glicosúria, é necessário determinar a glicosúria numa amostra de urina colhida 2-3horas após uma dieta rica em hidratos de carbono. Existem inúmeros testes “com fita” produzidos por vários laboratórios, para determinação da glicosúria.
Na pesquisa de glicémia em jejum, MILLER (1988), é da opinião que após jejum de pelo menos três horas, os valores normais da glicémia oscilam entre 80 e 120mg/100ml quando dosada pelo método de Folin-Wu e entre 60 e 100mg/100ml quando pelos métodos que dosam o açúcar verdadeiro (sangue total). Valores entre 120 e 140 mg/100ml (FOLIN – WU) E 100 e 120 mg/100ml (açúcar verdadeiro) são de interpretação duvidosa, exigindo a execução de uma prova de tolerância à glicose.
Outros testes como, o teste oral de tolerância à glucose (TOTG) podem ser complementares segundo WILLMS (…).
Para este, o teste deve ser executado de manhã e o doente não deverá tomar o pequeno-almoço. Os doentes com glicémia em jejum de 120 mg/ 100ml e mais elevados às duas horas, são considerados como tendo um teste oral de tolerância à glucose anormal; valores às duas horas superiores a 200mg/100ml, apontam para um diagnóstico de diabetes.
Segundo a CIRCULAR NORMATIVA DA DIRECÇÃO GERAL DA SAÚDE (2002), consideram-se os seguintes critérios de diagnóstico:
a) glicémia de jejum 126 mg/dl (7 mmol/l)
b) glicémia ocasional igual ou superior a 200 mg/dl (> 11,1 mmol/l)
c) anomalia da glicemia em jejum, definida pelo valor da glicemia de jejum entre o valor normal (<110 mg ou < 6,1 mmol/l) o valor diagnóstico de diabetes (≥ 126 mg/dl ou ≥ 7 mmol/l)
d) tolerância diminuída à glucose
2.6 Causas
Segundo BEYERS (1984), existem diversas teorias a respeito da etiologia da diabetes, as pesquisas mostram que a doença pode ser causada por vírus ou por factores auto-imunes ou ambientais, podendo a sua incidência ser familiar.
De acordo com o mesmo, embora a etiologia permaneça obscura, existe um sistema de factores de risco para identificar as populações susceptíveis à síndrome. Estes incluem: obesidade, drogas, idade avançada e história familiar de diabetes.
Além disso pessoas que foram submetidas a pancreatectomia com remoção de 80% ou mais do pâncreas têm probabilidade de desenvolver diabetes. A remoção total do pâncreas resulta em diabetes mellitus.
Para a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), a diabetes é uma doença que resulta de uma deficiente capacidade de utilização pelo organismo da nossa principal fonte de energia, a glucose. Para que a glucose possa ser utilizada como fonte de energia é necessária a insulina.
Segundo a mesma associação “a hiperglicémia que existe na diabetes deve-se, nalguns casos, à insuficiente produção da insulina, noutros à sua insuficiente acção e, frequentemente, à combinação destes dois factores”.
Se a glucose não for utilizada acumula-se no sangue (hiperglicémia), sendo depois expelida pela urina.
De acordo com a mesma associação, a insulina é produzida nas células β dos ilhéus de Langerhans do pâncreas. Este órgão, que está junto ao estômago, fabrica muitas substâncias, entre elas a insulina, fundamental para a vida. A sua falta ou a insuficiência da sua acção leva a alterações muito importantes no aproveitamento dos açúcares, das gorduras e das proteínas que são a base de toda a nossa alimentação e constituem as fontes de energia do nosso organismo.
Na opinião de HOYO, as causas da diabetes mellitus são a falta total de insulina, secreção insuficiente da mesma ou dificuldades desta para exercer a sua acção.
Para o mesmo a doença pode aparecer como consequência de alterações pancreáticas, quer sejam produzidas por inflamações, intervenções cirúrgicas ou afecções genéticas que impliquem uma incapacidade para produzir insulina. Também pode ser adquirida por causa de outras doenças ou de certos estados do organismo, como a obesidade ou o stress, e devido à administração de determinados medicamentos.
Existem vários tipos de diabetes mas, de longe, a mais frequente (90% dos casos) é a chamada diabetes tipo 2.
2.7 Complicações
De acordo com a ASSOCIAÇÁO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS PORTUGUESES (2004), com o passar dos anos, as pessoas com diabetes podem vir a desenvolver uma série de complicações em vários órgãos. Aproximadamente 40 % das pessoas com diabetes vêm a ter complicações tardias graves da sua doença.
WILLMS (…), considera que as repercussões clínicas das alterações metabólicas da diabetes dividem-se em complicações de início agudo e em complicações que só se tornam aparentes, após marcada evolução da diabetes.
2.7.1 Complicações agudas
Como complicações agudas WILLMS (….) considera, a sede, poliúria, prurido, susceptibilidade a infecções, alterações da visão, cãibras na região dos gémeos, perda de peso, adinamia, coma diabético.
Relativamente ao coma diabético MILLER (1988), considera que este pode estar ligado a quatro causas: cetoacidose, hipoglicémia, hiperosmolaridade e acidose láctica.
Para o mesmo, a cetoacidose diabética é motivada pelo acumulo no organismo de aceto-acetil-coenzima A e seus derivados, que são chamados corpos cetónicos. O aumento dessas substâncias resulta, através de um mecanismo bioquímico complexo, do distúrbio da metabolização da glicose, próprio da diabetes.
Segundo BEYERS (1984), o desenvolvimento da cetoacidose é um processo gradual, em que o indivíduo constata pela primeira vez a ocorrência de poliúria, polidpsia e polifagia. Mais tarde os sinais e sintomas incluem náuseas, vómitos e dor abdominal.
O diabético pode pensar que o distúrbio é uma gripe ou infecção insignificante, à medida que a cetoacidose progride, verifica-se o desenvolvimento de desidratação, juntamente com ruborização da face e mucosas secas. O pulso torna-se rápido e fraco, e pode ocorrer hipotensão, além disso, observa-se a presença de glicosúria e cetonúria em consequência da hiperglicémia e cetonemia.
De acordo com o mesmo autor, a respiração de Kussmaul e o hálito cetónico característico com odor de frutas são típicos da cetoacidose diabética. Basicamente, o indivíduo com cetoacidose apresenta inanição. Além da falta de insulina verifica-se um aumento nos níveis de glucagon, hormona do crescimento (GH), glicocorticóides e catecolaminas.
Segundo CHICOURI (1986), a queda acentuada e brutal da glicémia pode provocar um mal-estar que, pode conduzir a um estádio mais grave de coma hipoglicémico.
Para o mesmo autor, as causa estão numa absorção insuficiente de alimentos, num esforço físico maior do que o habitual, associados a uma dose medicamentosa de insulina ou sulfamidas demasiado elevada.
O tratamento constituirá de acordo com o autor acima referido, a absorção de açúcares, em injectar glicose e/ou soro glicosado. Na maioria dos casos, este incidente pode ser evitado se existir um equilíbrio na relação medicação, alimentação, exercício físico.
BEYERS (1984), refere que o indivíduo em hipoglicémia pode apresentar tonturas e confusão, podendo exibir movimentos descoordenados.
Relativamente ao coma hiperosmolar, e segundo o mesmo autor acima descrito, este distúrbio resulta de concentrações elevadas de glicémia, que aumentam a osmolaridade do sangue. Costuma ocorrer em doentes diabéticos de mais idade, que apresentam geralmente doença cardiovascular ou renal.
Predominam sinais e sintomas do sistema nervoso central, com ocorrência de convulsões ou coma.
A acidose láctica, que constitui outra complicação da diabetes, segundo BEYERS (1984), refere que esta resulta da interferência do metabolismo na etapa de conversão do piruvato em lactato, assemelhando-se à reacção que ocorre nas células musculares.
As causas incluem factores idiopáticos e secundários, qualquer factor capaz de inferir na fosforilação oxidativa pode provocar acidose láctica. Esta pode ocorrer de repente e encontra-se associada a uma alta taxa de mortalidade.
2.7.2 Complicações Tardias
Segundo COUTO e CAMARNEIRO (2002), as complicações tardias resultam fundamentalmente de um mau controlo metabólico e atingem sobretudo as artérias e o sistema nervoso periférico. Surgem se não existirem determinados cuidados e só se tornam visíveis após a evolução da doença, nomeadamente anos depois de diagnosticada.
Estas complicações são devidas a vários factores, nomeadamente: hiperglicémia, alterações metabólicas e duração da doença, entre outros.
Quando os níveis de glicémia se mantêm elevados durante muito tempo, vão ocorrer lesões nos pequenos vasos sanguíneos, afectando assim a circulação. Se não se fizer a compensação e estabilização desses níveis, a grande circulação também pode vir a ser comprometida, havendo a formação de placas de ateroma.
Os problemas mais comuns são: nefropatia, retinopatia, doença cardiovascular e doença vascular dos membros inferiores.
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), as complicações tardias são causadas principalmente por lesões dos vasos. As lesões desses vasos comprometem a alimentação dos tecidos e órgãos, com graves consequências.
Abordaremos de seguida as complicações tardias micro e macrovasculares; neuro, macro e microangiopatia e outras complicações.
- Complicações microvasculares
Como complicações microvasculares temos:
· retinopatia
· nefropatia
· neuropatia.
Para a associação atrás referida, às lesões da retina do diabético chama-se retinopatia diabética. As lesões resultam, principalmente, de alterações dos pequenos vasos, tornando difícil a passagem do sangue e, consequentemente, o transporte de oxigénio e nutrientes às várias zonas.
CASSMEYER (1995) cit. in COUTO e CAMARNEIRO (2002), refere que as lesões da retina passam por três estádios, no primeiro observam-se pequenas dilatações dos vasos retinianos, no segundo estádio já se observa uma hemorragia e formação de exsudatos e pode evoluir até o terceiro estádio designado retinopatia proliferativa.
As lesões da retina, podem portanto, diminuir muito a visão levando mesmo à cegueira.
Por todas as alterações que podem ocorrer na retina de um indivíduo diabético, é aconselhável que o diabético vá ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano.
De acordo com WILLMS (…), uma fase precoce, com dilatação geral das veias retinianas é seguida por outra fase, caracterizada pela degenerância dos capilares. Shunts capilares de largo calibre aparecem noutras zonas e formam micro-aneurismas e na retina edemaciada, aparecem hemorragias com extensos depósitos lipóides.
A ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), refere que o único tratamento existente é a fotocoagulação (laser), para alguns casos existe um processo cirúrgico complexo (vitrectomia).
Relativamente à nefropatia, WILLMS (….), considera que a maioria dos casos de nefropatia diabética é devida à combinação de microangiopatia e da macroangiopatia diabética, frequentemente associada à pielonefrite.
A mesma associação considera que quando os pequenos vasos dos rins são lesados em grande quantidade aparece a nefropatia. A sua evolução é lenta e silenciosa.
Se a nefropatia continua a evoluir há acumulação de produtos antes eliminados, manifestação de fadiga, cansaço e perda do apetite e caminha-se para a insuficiência renal.
Para a mesma associação o sinal mais precoce é a perda, acima de valores normais, de proteínas na urina. Chama-se microalbuminúria à presença de quantidades mínimas de proteínas (albumina) na urina. Numa pessoa saudável essa quantidade é muito pequena, no diabético em risco de desenvolver nefropatia a quantidade de albumina na urina está aumentada.
As lesões glomerulares, juntamente com a aterosclerose bloqueiam os canais vasculares e os glomérulos, levando à insuficiência renal, em que haverá necessidade em se recorrer à hemodiálise.
Muitas vezes um diabético tem também associada hipertensão arterial, que irá ser uma agravante da nefropatia.
Se houver uma quantificação de albumina na urina, a nefropatia poderá ser detectada precocemente.
A neuropatia diabética é outra das complicações tardias da diabetes e resulta de lesões nos nervos do nosso organismo que afectam um grande número de diabéticos.
O envolvimento dos troncos nervosos deve-se fundamentalmente a duas causas, por um lado a alteração microangiopática que dificulta o aporte adequado de oxigénio aos vasos e por outro lado pensa-se que o sorbitol que se forma a partir da glucose por intermédio da aldolase-redutase, possa exercer um efeito tóxico sobre os nervos. A neuropatia é geralmente simétrica e distal, e incide tanto na função das fibras nervosas sensitivas como nas fibras nervosas motoras e no sistema nervoso autónomo (CASAS).
Os distúrbios manifestam-se pela diminuição ou abolição da sensibilidade térmica, dolorosa e táctil, e neste caso é chamada neuropatia sensitiva, assim como quando afecta a motricidade muscular é designada de neuropatia motora.
Ocorrem também alterações a nível dos nervos do sistema nervoso autónomo, que é responsável pela enervação dos vasos sanguíneos. Manifesta-se por alterações a nível do controlo da bexiga, função sexual, tracto gastro-intestinal, mecanismos de sudação e reflexos cardiovasculares CASSMEYER (1995) cit.in COUTO e CAMARNEIRO (2002).
Ao nível dos pés a neuropatia pode causar anidrose, que se manifesta por xerodermia e incapacidade para a regulação térmica e pode associar-se à hiperidrose de compensação noutras regiões do organismo (CASAS).
A diminuição e perda dos reflexos e da força traduz distúrbios musculares, e no extremo podem culminar na paralisia. As deformações consecutivas às parestesias de grupos musculares, como a subluxação dorsal dos dedos dos pés, a depressão das cabeças dos metatarsos, pé cavo e os dedos em forma de martelo, fazem com que a distribuição do peso corporal em posição ortostática não seja normal, dificultando a adaptação aos sapatos, dando origem a calosidades.
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), a neuropatia pode atingir o aparelho digestivo, provocando perturbações no seu funcionamento, pode também atingir o coração, com alterações no seu ritmo e também a bexiga, com perda do seu tónus e sensibilidade, muitas vezes levando a infecções urinárias repetidas.
- Complicações macrovasculares
A diabetes, mesmo ligeira, é um dos mais importantes factores de risco de doença cardiovascular, a principal causa de morte no nosso país.
De acordo com a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), os diabéticos têm maior risco de doença coronária, manifestada por angina de peito ou enfarte do miocárdio e por acidentes vasculares cerebrais.
As complicações macrovasculares incluem, para além dos citados, a doença vascular periférica, existindo aterosclerose nas artérias das pernas e dos pés.
Segundo a mesma associação, o aparecimento de doença coronária e o risco de ataques cardíacos aumenta muito quando à diabetes se associam outros factores de risco como as gorduras no sangue elevadas, a hipertensão arterial, a obesidade e, em especial, o tabaco.
Um ataque cardíaco surge normalmente quando o sangue que irriga o coração fica “bloqueado”. Quando as artérias coronárias são atingidas pela aterosclerose, a alimentação dos tecidos com oxigénio fica diminuída e pode surgir uma angina de peito.
Para a associação acima referida, se os vasos forem obstruídos por completo por um coágulo dá-se um enfarte do miocárdio e a parte do músculo cardíaco não irrigada “morre”.
A melhor solução para lidar com estas complicações macrovasculares é evitar o mais possível o desenvolvimento da aterosclerose, através de um bom controlo dos actores precipitantes.
A hipertensão arterial é outra complicação macrovascular, extremamente relacionada com a diabetes, que, se não tratada aumenta o risco de doença vascular aterosclerótica.
“A hipertensão agrava ainda a microangiopatia, principalmente a nefropatia diabética, para a qual é um factor de risco maior”. (ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL, 2004)
Nos diabéticos, e segundo a mesma associação a hipertensão sistólica isolada (só elevação da TA máxima) é mais frequente do que nos não diabéticos e constitui também, ao contrário do que se supunha anteriormente, um risco acrescido de complicações cardiovasculares, principalmente de acidente vascular cerebral.
Os níveis desejáveis de pressão arterial no diabético são substancialmente inferiores ao da população em geral, 130/80 mmHg segundo as recomendações internacionais. O controlo deve ser feito em conjugação com o auto controlo da diabetes, já que valores elevados de glicémia ou de TA têm impacto recíproco.
- Complicações neuro, macro e microangiopatia
Segundo CASAS a aterosclerose manifesta-se pelo estreitamento do lúmen vascular das artérias devido à acumulação, nas suas paredes de gorduras ou de outras substâncias como cálcio, o que vai dificultar a livre circulação do fluxo sanguíneo e consequentemente há uma redução do aporte de oxigénio aos tecidos o que favorece a ocorrência de processos trombóticos.
Os diabéticos ressentem estas manifestações mais antecipadamente do que o resto da população, pois pensa-se que o desenvolvimento precoce da aterosclerose é acelerado devido a um conjunto de factores, como sejam, a hiperglicémia, a hiperinsulinemia e dislipidemia e hiperfibrinogenemia, embora não esteja bem estabelecida essa relação.
Quando há um estreitamento das artérias dos membros inferiores a circulação nos pés torna-se mais difícil, havendo um comprometimento do aporte do oxigénio aos músculos e à pele, levando ao aparecimento de claudicação intermitente por anóxia muscular, palidez e sensação de frio na pele, lesões isquémicas e gangrena.
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), a combinação de complicações tardias da diabetes - neuropatia periférica, arteriopatia e susceptibilidade às infecções – predispõem o aparecimento de lesões nos pés dos diabéticos, podendo terminar eventualmente em amputações.
A neuropatia diabética envolve os nervos anatómicos, sensitivos e motores.
Segundo CASTRO e PIMENTA (2002) o pé diabético é, hoje em dia a complicação mais frequente da diabetes mellitus e aquela em que o seu aparecimento se processa mais precocemente.
Pé diabético seria então a infecção, ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados com anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica no membro inferior.
De uma forma prática e simples, considerando a frequência de alguns sinais, poder-se-à dizer que quando se examinar os pés de um doente diabético e se notar alteração da sensibilidade da pele, presença de hiperemia, hipertermia, edema, deformidades, calos, feridas (ulcerações) com ou sem secreção ou gangrena, está-se diante de um pé diabético.
A tríade composta por neuropatia, doença vascular periférica e infecção está relacionada com gangrena e amputação.
Para VIEIRA [et. Al] (2001) a problemática do pé diabético deriva de duas estruturas: as artérias e os nervos.
CASTRO e PIMENTA (2002) referem ainda que, a hiperglicémia é responsável por várias outras alterações que facilitam o aparecimento de possíveis problemas nos pés, nomeadamente:
a) diminuição das defesas imunológicas devido à redução de mecanismos como a fagocitose e a função bactericida;
b) rigidez articular secundária à glicação do colagénio
A maneira de prevenir lesões no pé do diabético é educando o diabético sobre os cuidados a ter com a higiene dos pés, o corte das unhas, o tipo de meias e a escolha de calçado.
Higiene
Segundo AZEVEDO [et al.] (2001), devem lavar-se os pés todos os dias com sabão ou gel de pH ácido (5.5). Esta lavagem não deve ser superior a 5 ou 10 minutos, para evitar a maceração e a perda excessiva de camadas córneas. Quando necessário, usar um toalhete ou escova macia, mas nunca escovas de pêlos rijos.
Deve verificar-se sempre a temperatura da água, que deve ser morna e não superior a 37ºC. Segundo CASAS a temperatura da água pode ser testada com o cotovelo ou através de um termómetro de banho, pois quando se perde a sensibilidade nos pés, não se consegue sentir se a água está demasiado quente, o que pode levar a queimaduras.
Deve-se secar bem os pés, dando especial atenção aos espaços interdigitais, usando uma toalha macia, não muito grossa, com o objectivo de caber bem entre os dedos. A secagem deve ser por contacto e não por fricção.
Quando a pele é seca deve hidratar-se com um creme gordo, vaselina ou outro creme hidratante indicado pelo médico; nos casos de pele húmida deve usar-se pó anti-transpirante para manter os pés secos e limpos.
Segundo CASAS “convém evitar o emprego de cremes irritantes ou abrasivos, talcos ou anti-sépticos agressivos, bem como a aplicação destas substâncias entre os dedos, onde podem causar maceração da pele”.
Unhas
Estas só devem ser cortadas após a lavagem dos pés, enquanto estão macias e limpas. Deve-se usar uma tesoura de ponta achatada ou um alicate próprio. É essencial relembrar-se que as unhas devem ser cortadas a direito, limando as arestas laterais com lima de cartão.
Em certos casos, estes cuidados devem ser executados por outra pessoa.
Meias
Devem ser macias, de algodão ou lã, visto absorverem melhor a transpiração. É essencial que sejam ajustadas ao pé, sem pregas nem dobras, que não garrotem, para não dificultar a circulação sanguínea.
As meias devem ser mudadas diariamente e nunca usar meias remendadas.
É importante que, sempre que possível, se usem meias de cor clara, para inspeccionar melhor qualquer tipo de serosidade.
Sapatos
O calçado deve deixar respirar os pés, devendo por isso ser de couro.
As características essenciais do calçado são:
Ø ajustado ao pé;
Ø moldado ao pé deformado;
Ø biqueira alta e larga;
Ø com tiras de velcro ou cordões;
Ø tacão de 4cm e com base de apoio.
É aconselhável calçar sapatos novos de forma gradual 30 minutos por dia, mudar de sapatos de 2 em 2 dias e evitar sandálias abertas.
Convém que o interior do calçado seja examinado diariamente para descobrir a existência de gretas, pregos ou relevos irregulares. De acordo com CASAS, “em caso de deformações anatómicas devem usar-se sapatos ortopédicos”.
2.8 Tratamento
Segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), o tratamento da diabetes, quer no tipo 2 quer no tipo 1, não tem como objectivo apenas o bem-estar e a integração familiar e social do diabético, mas também a prevenção das complicações agudas e tardias.
O tratamento da diabetes não se reduz somente à normalização da glicémia, implica também a normalização de outros factores de risco (tensão arterial, lípidos, etc).
De acordo com MILLER (1988), a terapêutica da diabetes, objectiva manter a glicémia dentro dos limites normais ou quase normais durante as 24 horas do dia, o que significa manter o paciente aglicosúrico e, ao mesmo tempo, livre de manifestações de hipoglicémia. Tal terapêutica cifra-se essencialmente em três itens: regime dietético, drogas hipoglicemiantes orais ou insulina; exercício físico.
- Diabetes tipo 2 (não insulinodependentes)
È difícil pensar que se tem uma doença quando esta, ao longo de muitos anos, não dá sintomas. É o que se passa com a diabetes tipo 2.
O primeiro passo no tratamento da diabetes tipo 2, segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DE DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), é o mais importante e depende exclusivamente do diabético: corresponde a uma alteração do estilo de vida que conduziu à diabetes, o balanço entre a alimentação e o exercício.
Quando a diabetes não está controlada é necessário fazer o tratamento com comprimidos e, em certos casos, utilizar insulina.
De acordo com a mesma associação, existem diferentes grupos de fármaco com diferentes acções. As biguanidas, que não actuam no pâncreas mas sim noutros órgãos, facilitando a acção da insulina que se encontra em circulação. As sulfonilureias que actuam directamente no pâncreas estimulando a produção de insulina, os inibidores das α – glucosidases que actuam atrasando a absorção dos açucares no intestino.
Recentemente a terapêutica da diabetes tipo 2 tem mais um grupo de fármacos, os derivados das tiazolidinedionas, ou glitazonas, que actuam também diminuindo a insulinoresistência facilitando a acção da insulina a nível do fígado, músculos e tecido adiposo.
Às vezes acontece que, apesar de fazer dieta, exercício físico e tomar comprimidos, a diabetes não está controlada. Torna-se então necessário utilizar a insulina.
- Diabetes tipo 1 (insulinodependente)
Os doentes com diabetes tipo 1 podem ter uma vida saudável, plena e sem grandes limitações. Para tal é necessário que façam o tratamento correctamente.
Para ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), o objectivo do tratamento é manter a glucose no sangue o mais próximo possível dos valores normais.
O tratamento engloba insulina, alimentação, exercício físico e educação do diabético, que inclui a auto vigilância e o auto controlo da diabetes.
Em termos práticos, e de acordo com a mesma associação, a alimentação aumenta o açúcar no sangue, enquanto que a insulina e o exercício físico a diminuem.
O tratamento com insulina é feito através de injecção subcutânea, ainda não foi possível produzir uma forma de insulina que possa ser tomada por via oral visto que ela é destruída no estômago.
Em Portugal, de acordo com a mesma associação só é comercializada insulina igual à insulina humana, sendo as reacções alérgicas muito raras, dada a sua grande pureza.
Na acção das insulinas há a considerar:
· Início de acção: o tempo que a insulina demora a começar a actuar, depois de injectada.
· Pico máximo: período de tempo em que a insulina actua com maior actividade.
· Duração de acção: tempo que a insulina actua no organismo
De acordo com estas características dispomos de
· Insulina de acção rápida
· Insulina de acção intermédia
· Insulina com zinco
· Insulina de acção lenta
WILLMS (…), refere que na diabetes insulinodependente o tratamento com insulina tem de ser adaptado a cada diabético, dependendo de diversos factores: idade do doente, exercício, hábitos alimentares, horários de trabalho, estabilidade da diabetes, doenças intercorrentes, presença de complicações tardias e estado emocional.
O tratamento convencional segundo a ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS DIABÉTICOS DE PORTUGAL (2004), consiste na administração de insulina duas vezes/dia – antes do pequeno-almoço e antes do jantar ou ao deitar, utilizando-se, geralmente, uma insulina de acção intermédia misturada com uma de acção rápida ou duas injecções de insulina de acção intermédia.
Para evitar prolongados períodos de hiperglicémia utiliza-se cada vez mais a administração de insulina três ou mais vezes ao dia. Com este esquema tenta-se reproduzir o que se passa normalmente no organismo. Existem várias possibilidades que deverão ser adaptadas, tendo sempre em atenção as características individuais de cada doente
2.9 Cuidados de Enfermagem
De acordo com WILMA (1996), como cuidados de enfermagem podemos ter:
· Promoção da Nutrição Adequada
ü Preparar o programa de ensino, em colaboração com o dietista e o enfermeiro especialista em diabetes, se o houver;
ü Obter os antecedentes dietéticos, incluindo padrões de refeições, preferências e intolerâncias alimentares;
ü Negociar o objectivo, na nutrição, com o doente: peso corporal e plano de perda de peso, distribuição dos alimentos ao longo do dia, factores culturais ou sociais, papel do álcool e dos doces;
ü Reforçar os princípios do sistema de substitutos da Associação dos Diabéticos, ou de outro padrão dietético individualizado;
ü Encorajar a uniformidade de intervalos, entre refeições, e horas das refeições, para evitar hipoglicémia;
ü Ensinar o doente a adaptar escolhas alimentares no trabalho por turnos, comer em restaurantes, férias e viagens de negócios, e acontecimentos sociais;
ü Ensinar ao doente como incluir pequenas quantidades de álcool na dieta, se desejado;
ü Encorajar o doente a verbalizar, honestamente, o impacto do plano dietético no seu estilo normal de vida.
· Prevenção de Traumatismo e Infecção
ü Ensinar, ao doente, o efeito da diabetes nas defesas da pele e a importância de uma higiene escrupulosa;
ü Acentuar a importância de o doente não fumar;
ü Manter a pele elástica e seca, particularmente nas zonas húmidas e quentes (entre os dedos dos pés, sob as mamas, nas axilas, na região inguinal);
ü Tratar o menor traumatismo cutâneo com todo o cuidado, limpando e protegendo a pele. Procurar ajuda médica imediata, se a lesão não cicatrizar;
ü Avaliar, diariamente, os pés e ensinar o doente a fazer o mesmo: cor, temperatura, pulsos, função sensitiva (reacção à picada de alfinete e função vibratória), presença de lesões (calosidades, calos, cortes, fissuras, rubor, flictenas);
ü Ensinar o doente, a ir à pedicure especializada, se se desenvolver neuropatia, e para o tratamento de problemas menores como calosidades e calos;
ü Encorajar o doente a ir, regularmente, ao dentista e ao oftalmologista, para prevenir complicações, se possível.
· Apoio a uma Superação Eficaz
ü Encorajar o doente a verbalizar sentimentos, medos ou frustrações sobre o diagnóstico e o regime (perda do trabalho, seguro de doença, licenças de condução de veículos, injecções, relações sociais);
ü Favorecer a expressão de dor por perdas, reais e potenciais;
ü Evitar sobrecarregar o doente com ensinos sobre o regime terapêutico. Pôr ênfase, no início, nas técnicas de sobrevivência e programar ensinos futuros, de acordo com a comunidade, no sentido de melhorar os conhecimentos;
ü Dar, ao doente, oportunidade suficiente para ele dominar as técnicas necessárias;
ü Incluir os familiares, conforme seja adequado e aceitável para o doente;
ü Encaminhar o doente para Serviços de apoio comunitário local, para informação e apoio financeiro e emocional;
ü Ajudar o doente a identificar e resolver dificuldades previstas, na inclusão do regime no seu estilo de vida;
ü Apoiar, e reforçar todos os comportamentos positivos de superação;
ü Fazer com que o doente e a família, tenham acesso a material de informação, impresso;
ü Ajudar o doente a obter identificação, e explicar-lhe a importância de ele a usar sempre.
3 – Instrumentos Básicos da Consulta de Enfermagem relacionados com a Satisfação do utente
Antes de começarmos a falar sobre os instrumentos básicos, é importante referir o que se entende por satisfação.
Segundo o Dicionário Enciclopédico Larousse (1980) satisfação é “ contentamento prazer que resulta da realização do que se espera”.
De acordo com a Diciopédia (2004), satisfação é o “acto ou efeito de satisfazer ou de satisfazer-se; contentamento; alegria”.
Segundo o Dicionário Prático Ilustrado (1979), satisfação significa “contentamento, alegria; acto de satisfazer o que se deve a outrem”.
3.1 – Consulta de Enfermagem
De acordo com o DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (1999), consulta é “ acção ou resultado de consultar; exame; reflexão.”
Segundo o mesmo dicionário, enfermagem é “actividade de enfermeiro; tratamento dos enfermos; conjunto de enfermeiros”.
Faz parte da consulta de enfermagem:
- observação;
- diagnóstico de enfermagem: avaliação do individuo, família, comunidade;
- planeamento: plano de cuidados de enfermagem;
- execução: prestação de cuidados de enfermagem directos e que englobam educação para a saúde, tratamentos, administrações terapêuticas, medidas de diagnóstico em enfermagem e de prevenção;
3.1.1 – Educação para a Saúde
A educação para a saúde é definida por SMELTZER e BARE (1993) cit in COUTO e CAMARNEIRO (2002) como “uma componente essencial dos cuidados de enfermagem que visa a promoção, manutenção e restauração da saúde, bem como adaptação aos efeitos da doença”.
É função vital da enfermeira, orientar o utente a coordenar aspectos como a dieta, exercício, stress e medicações, para que este apesar de ter diabetes tenha qualidade de vida. Por isso, de seguida passaremos a explicar o que deve ser alvo de orientação.
Segundo BEYERS (1984), o utente diabético deve desenvolver hábitos de vida diária regulares, o que significa que deve ter refeições bem equilibradas, a intervalos regulares, desenvolver hábitos de sono-vigília, e seguir uma rotina de actividades compatíveis e exercícios, reduzindo na medida do possível factores causadores de stress.
A orientação deve ser individual e para que tenha sucesso, deve ter em conta os conhecimentos do indivíduo sobre a doença
Para COUTO (1992) cit in COUTO e CAMARNEIRO (2002), a educação deve iniciar-se logo que o doente sabe que é diabético. Pretende-se que o doente seja capaz de :
- tornar-se o mais independente possível;
- reduzir o número de internamentos;
- prevenir situações agudas;
- evitar complicações tardias;
- “saber viver” com a sua doença.
Como refere CASSMEYER (1995) cit in COUTO e CAMARNEIRO (2002), a Associação Americana de Educadores Diabéticos identificou dez componentes que fazem parte do ensino ao diabético e que são os seguintes:
- definição da doença;
- especificidades da alimentação;
- conhecimento sobre exercício;
- terapêutica;
- autocontrole da situação metabólica;
- cuidados com a hipoglicémia em pessoas com diabetes;
- como tratar doenças intercorrentes;
- adaptação psicológica;
- higiene e cuidados a ter com os pés;
- seguimento em consulta.
A dieta é fundamental para o controlo da diabetes. O regime alimentar deverá ser simples e flexível, especialmente no caso de pessoas idosas. Pois as pessoas desta faixa etária, têm dificuldade em alterar os seus hábitos e ficam facilmente confundidas com demasiadas orientações.
Então, um diabético deve seguir algumas regras:
- evitar açúcar, mel, bebidas açucaradas, artigos de confeitarias, compotas, bolos, gelados;
- diminuir a ingestão de calorias, comendo menos pão, arroz, massa, batatas e, especialmente, gorduras, se se tiver excesso de peso;
- fazer as refeições a horas regulares e bem distribuídas, de maneira a permitir que o nível de açúcar no sangue mantenha valores aceitáveis. O ideal será fazer 6 refeições;
- estimular o apetite, com comida saborosa e bem apresentada;
- beber muitos líquidos, cerca de 2 litros por dia, especialmente durante o tempo quente;
- beber com moderação bebidas alcoólicas.
3.1.2 – Pesquisa de Glicémia Capilar
De acordo com NEVES (2003) cit in Mundo Médico, o autocontrolo glicémico é importante pois permite o tratamento adequado da diabetes, o diabético sente maior segurança e liberdade; há um aumento da qualidade de vida e há diminuição dos custos económicos das possíveis complicações.
Segundo JOHNSON (2000), a pesquisa da glicémia capilar inicia-se com a lavagem das mãos, de forma a reduzir a transmissão de microrganismos. De seguida deve-se explicar o procedimento, uma vez que facilita a cooperação e promove o envolvimento e controle do próprio cuidado.
Depois, calibrar a máquina de glicose, se usada:
- ligar a máquina;
- comparar o número na máquina com o número no frasco de tiras químicas;
- remover a tira química do frasco e coloca-la na máquina;
- carregar o picador com uma lanceta;
- limpar a área da punção com álcool (esperar alguns segundos para que este evapore, de forma a não interferir no resultado);
- segurar o dedo e picar no bordo lateral da polpa digital;
- limpar a área picada fazendo alguma pressão;
- esperar alguns segundos pelo resultado;
- colocar os materiais utilizados nos recipientes indicados;
- anotar o resultado e administrar insulina se for caso disso;
A gota de sangue deve ter o tamanho adequado para que a zona de leitura fique completamente coberta de forma homogénea.
É também de grande importância, evitar grandes variações térmicas e que se faça uma conservação adequada das tiras-teste, bem como ter atenção à data de validade.
Segundo NEVES (2003) cit in Mundo Médico, o profissional de saúde deve fazer uma avaliação das capacidades do utente para efectuar a autovigilância glicémica. O enfermeiro deve estar qualificado para treinar, promovendo a aprendizagem com técnicas activas. O utente deve praticar com o seu próprio aparelho até o procedimento estar correcto.
3.1.3 – Microalbuminúria
Segundo HIGGINS (2002) cit in Nursing, o teste de excreção de albumina na urina é usado para identificar os doentes diabéticos em risco de desenvolver nefropatia diabética, que é uma complicação a longo prazo comum que progride ao longo de vários anos e que termina em insuficiência renal.
Este teste, de acordo com DUARTE (1998) cit in Diabetes é obrigatório em todos os diabéticos adultos e em qualquer criança ou jovem com mais de cinco anos de diabetes e deve ser realizada no mínimo, uma vez por ano.
Para WILLIAMS e MONSON (1994) cit in HIGGINS (2002), a hiperglicémia e a hipertensão são dois dos factores etiológicos mais importantes para o desenvolvimento de nefropatia diabética.
De acordo com HIGGINS (2002) cit in Nursing, o primeiro sinal detectável da nefropatia diabética é a microalbuminúria, ou seja, a excreção de pequenas quantidades de albumina na urina. Indivíduos normais saudáveis, excretam menos que 30 mg de albumina por dia.
O Micral-test permite um diagnóstico rápido da microalbuminúria. Este teste contém uma fita capaz de detectar concentrações de albumina da urina na gama dos 0 a 100 mg/l.
A identificação e tratamento da microalbuminúria, é eficaz também na redução do risco de doenças cardiovasculares entre os diabéticos.
3.1.4 – Avaliação estato-ponderal
De acordo com TIMBY (2001) a avaliação do peso e da altura são de extrema importância na avaliação das tendências de futuro aumento ou perda de peso.
Para se fazer a avaliação ponderal, segundo TIMBY (2001), há certas orientações a ter em conta. A primeira coisa a fazer é verificar se a balança está calibrada em zero, isto para ter a certeza da precisão da balança. De seguida deve-se auxiliar o utente a retirar a roupa (até ao mínimo possível) e os sapatos, de forma que o peso avaliado seja o mais real possível. Para se efectuar a avaliação deve-se colocar uma folha de papel sobre a balança, para que não haja contacto dos pés do utente com a balança (esta pode conter microorganismos) e deve-se auxiliar o utente a subir para a balança.
No que diz respeito a pesagem em si, começa-se por colocar o peso maior numa das ranhuras calibradas no braço da a balança, depois movimenta-se o peso menor através das calibragens até que a barra se equilibre no centro da balança. Para finalizar deve-se ler e anotar o peso.
Em relação à avaliação da estatura, o utente deve estar de pé em cima da balança numa posição erecta. Para o autor acima citado, deve-se elevar a barra de medida acima da cabeça do utente e de seguida solicita-se ao utente para colocar-se bem erecto e olhar para a frente. De seguida baixa-se a barra de medida até que ela toque ao de leve na cabeça do paciente; por fim verifica-se a altura e regista-se.
3.1.5 Avaliação da Tensão Arterial
Tensão arterial para BOLANDER (1998), é a força exercida pelo sangue contra uma área do vaso sendo medida em milímetros de mercúrio (mm Hg). De acordo com o mesmo autor, o objectivo é avaliar a tensão sistólica, que é a pressão máxima exercida nas artérias durante a contracção do ventrículo esquerdo e a tensão diastólica, que é a pressão exercida nas paredes das artérias com os ventrículos em repouso.
Para se proceder à avaliação da tensão arterial precisa-se de um esfignomanómetro e de um manómetro. O manómetro pode ser de dois tipos: de mercúrio ou aneróide.
Segundo BOLANDER (1998), a tensão arterial não se deve avaliar no braço que:
- esteja ferido ou lesado;
- que corresponda ao lado do corpo que sofreu mastectomia radical;
- tenha um shunt ou fístula para hemodiálise;
- seja o local para perfusão endovenosa.
A primeira coisa a fazer é explicar ao utente aquilo que vai ser feito, de maneira a que este não se sinta tão ansioso. Depois deve tentar saber-se quais são os valores normais do utente, de forma a se poder informar se o valor avaliado naquele momento se encontra dentro dos seus parâmetros normais ou não. O conhecimento por parte do utente dos seus valores normais de tensão arterial é muito importante para o controle da hipertensão e encorajar o auto-cuidado.
Falemos agora da avaliação em si. Para que o valor seja o mais fidedigno possível, deve posicionar-se o braço a nível do coração e com a palma da mão voltada para cima. O profissional deve-se posicionar a uma distância nunca superior a 90 cm do esfignomanómetro, em frente e na direcção do modelo aneróide. Se for modelo de mercúrio, os olhos devem ficar ao nível do menisco do mercúrio. Se for utilizado o modelo de mercúrio, antes da insuflação, tem que se verificar que o nível de mercúrio está no zero.
Segundo BOLANDER (1998), de seguida coloca-se a parte central da braçadeira sobre a artéria braquial na parte média da fossa antecubital, enrola-se a braçadeira em torno do braço, de modo a que o bordo inferior fique 2,5 a 5 centímetros acima do local onde a pulsação da artéria braquial é mais perceptível. Palpa-se o pulso braquial e deve-se insuflar a braçadeira 20 a 30 mm Hg acima do ponto em que o pulso radial desaparece. Então nesse momento coloca-se a peça terminal do estetoscópio sobre a artéria braquial, e vai-se escutando atentamente à medida que a braçadeira desinsufla à razão de 2 mm Hg por cada batimento.
Deve-se registar o número que se observou no manómetro no momento em que se ouviu o primeiro som (fase I Korotkoff). Continua a libertar-se regularmente a pressão da braçadeira e deve-se reparar quando surge um “abafamento” ou “amortecimento” do som (fase IV Korotkoff) e por fim tem que se reparar no fim do desaparecimento do som (fase V Korotkoff). Desinsufla-se completamente a braçadeira até ao zero e aguarda-se 30 a 60 segundos antes de avaliar novamente a tensão arterial, se for caso disso.
Para finalizar a avaliação deve-se registar os valores no processo do utente e deve-se comunicar os valores à pessoa indicada.
De acordo com BOLANDER (1998), na avaliação da tensão arterial há erros que se cometem que vão alterar por completo o valor final. Há erros que vão provocar uma leitura falsamente elevada, outros, uma leitura falsamente baixa e erros ainda que, tanto provocam uma leitura falsamente elevada como baixa.
Segundo o autor acima citado, os erros que provocam uma leitura falsamente elevada são:
- não utilizar a braçadeira de tamanho apropriado; uma braçadeira muito estreita dá uma leitura mais elevada;
- aplicar a braçadeira muito solta com uma pressão irregular;
- medir a tensão arterial logo a seguir à refeição, quando a pessoa está a fumar ou quando tem a bexiga distendida;
- não colocar a coluna de mercúrio na vertical;
- desinsuflar a braçadeira muito lentamente pois provoca congestão venosa do membro o que eleva falsamente a tensão diastólica;
Para o autor acima citado, os erros que originam uma leitura falsamente baixa são:
- ter o braço acima do nível do coração, o que pode dar um erro acima de 10 mm Hg na tensão sistólica e na diastólica;
- falta de percepção de um intervalo auscultatório;
- diminuição da acuidade auditiva do profissional de saúde;
- um estetoscópio muito pequeno ou muito grande ou cujos tubos sejam muito longos;
- incapacidade para ouvir os sons Korotkoff fracos;
Por fim os erros que provocam leituras falsamente elevadas ou falsamente baixas são:
- manómetro incorrectamente calibrado;
- equipamento deficiente;
- o menisco do mercúrio não ficar ao nível dos olhos;
- execução rápida da técnica dando muito pouca atenção aos detalhes.
3.2 Relação de ajuda
Segundo BEIRÃO (2000), numa prática dos cuidados de enfermagem centrados no utente como sujeito, numa perspectiva holística, onde se dá ênfase ao cuidar, a relação de ajuda que se estabelece entre o utente e o enfermeiro é de primordial importância, e é um meio de acentuar o carácter profissional dos cuidados de enfermagem.
“A relação de ajuda estabelece-se entre o enfermeiro e o cliente no sentido de promover no outro o crescimento, desenvolvimento, maturidade e maior capacidade para enfrentar a vida, é uma interacção, um intercâmbio entre enfermeiro - cliente que contribui para a satisfação de uma necessidade de ajuda apresentada por este último” GASPAR (2000)
De acordo com CHALIFOUR cit in BEIRÃO (2000), “a relação de ajuda consiste numa interacção entre duas pessoas, enfermeiro e cliente, em que cada uma contribui pessoalmente para a procura e satisfação da necessidade de ajuda presente neste último”
COLLIÉRE (1989) cit in GASPAR (2000), “cuidar é um acto individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos autonomia, mas é igualmente um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que, temporariamente ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir as suas necessidades vitais.”
Através destas citações, pode-se concluir que a relação de ajuda é parte fundamental para que os cuidados de enfermagem sejam verdadeiramente eficazes.
Segundo CHALIFOUR (1989) cit in BEIRÃO (2000), na relação de ajuda estão implícitos três componentes. Sendo eles:
· a pessoa que necessita de ajuda – deve ser encarada como um sistema aberto com características biológicas, cognitivas, sociais, afectivas e espirituais interdependentes, ligadas à sua hereditariedade e cujo desenvolvimento manifesta-se sob a forma de processos diversificados, como a percepção, compreensão e motivação face aos factos;
· a pessoa que ajuda – deve ser igualmente encarada como um sistema aberto com as mesmas características. Possui além disso determinadas experiências que provêm da sua vida e do seu trabalho. É muito importante que a pessoa que ajuda tenha um conhecimento pleno de si própria e do seu papel;
· o processo em curso na relação de ajuda – deve ser encarado como um sistema relacionado com a maneira de estar na relação.
É impossível estabelecer uma relação de ajuda se não tivermos conhecimento dos seus objectivos. Os objectivos da relação de ajuda advêm dos objectivos dos utentes que vivem esta relação.
Assim, de acordo com GASPAR (2000), pretende-se que a pessoa que está a ser ajudada atinja um ou mais dos seguintes objectivos:
· Ultrapassar uma experiência – enfrentar os seus problemas presentes, vê-los com clareza, que permita uma compreensão mais profunda e real das suas dificuldades;
· Resolver uma situação actual ou potencialmente problemática – dando a conhecer os seus sentimentos, opiniões, possibilitando encontrar resposta aos seus verdadeiros problemas, evitando assim que a pessoa recorra a estratégias inadequadas;
· Encontrar um funcionamento pessoa mais satisfatório – estabelecer contactos pessoais e relações significativas, contribuindo assim para encontrar a razão da sua dificuldade física ou psicológica.
Neste processo todo, o enfermeiro tem que ter um papel activo, de forma a encontrar um sentido para a dificuldade física ou psicológica do utente. Uma das competências do enfermeiro é mesmo ajudar o utente a enfrentar os seus problemas, mas isto não quer dizer que resolva os problemas por ele. Como nos diz LAZURE (1994) cit in GASPAR (2000), “para promover a autonomia no cliente, este deve poder transferir os seus recursos e as suas aprendizagens relativas ao problema actual, para outros problemas susceptíveis de aparecerem no futuro”. O importante nesta relação é o que o cliente vivência, é a dimensão afectiva do problema e não a intelectual.
Na relação de ajuda o utente aprende a compreender-se melhor, a fazer escolhas adequadas e independentes e a criar relações humanas mais adultas. Assim, o enfermeiro deve apenas oferecer condições para que haja uma mudança. Pois, a relação deve-se centrar no ajudado, na sua forma de vivenciar o problema, em função das suas características individuais.
Uma vez que esta relação exige muito do enfermeiro, convém que este possua determinadas competências pessoais e que preencha requisitos profissionais, e por isso deve desenvolver as suas capacidades intelectuais, afectivas, sociais e espirituais.
Assim, de acordo com GASPAR (2000), as competências específicas do enfermeiro são as seguintes:
· aceitação – o enfermeiro deve aceitar a maneira de ser do cliente, sem a avaliar ou julgar;
· empatia – o enfermeiro deve ter capacidade de se pôr no lugar do utente, ou seja, penetrar no seu universo, compreendê-lo e transmitir ao cliente essa compreensão;
· apoio – o enfermeiro deve proporcionar ao cliente momentos para este exprimir o seu problema e deve encorajá-lo a ultrapassar essa situação;
· respeito caloroso – o enfermeiro reconhece no cliente uma pessoa humana, com valores e dignidade própria;
· congruência – corresponde à concordância entre o que o enfermeiro sente e pensa e aquilo que exprime durante a relação de ajuda;
· autenticidade – o enfermeiro deve ser sincero, verdadeiro, mas acima de tudo ser ele próprio;
· capacidade de escuta – escutar não é só receber informação, mas ter em conta o comportamento corporal e a postura, ter em atenção a mensagem verbal mas também a gestual.
Para além das competências específicas (requisitos profissionais), há um conjunto de capacidades pessoais que estão interligadas e que são importantes referir:
· Pontualidade;
· Iniciativa;
· Perseverança;
· Criatividade;
· Auto-controlo;
· Autoconfiança;
· Auto-estima;
· Flexibilidade;
· Responsabilidade;
· Motivação;
· Capacidade de adaptação;
· Capacidade de liderança;
· Capacidade de comunicação.
Segundo MAYEROFF (1990) cit in CERQUEIRA (1999), há certos “ingredientes”, chamados ingredientes de Mayor do Cuidar, que têm que estar presentes na relação de ajuda para esta ter sucesso. São eles:
· Saber – são imprescindíveis os conhecimentos para detectar as necessidades do outro e responder apropriadamente;
· Ritmos alternados – é o feed-back da relação, é a constante verificação e avaliação do cuidar. A cumplicidade entre ambos é a base necessária para que se construa uma relação terapêutica eficaz;
· Paciência – reflecte-se pela capacidade de ajudar o outro no seu próprio tempo e à sua vontade. É no cuidar com paciência que o enfermeiro cria espaço para se descobrir descobrindo o outro;
· Honestidade – quem cuida deve ser honesto consigo próprio, deve fazer um esforço para ver como o outro é. Para além disto deve esforçar-se por ser capaz de avaliar as suas acções e a eficácia do seu cuidar;
· Confiança – confiança no cuidar implica deixar o outro crescer no seu tempo e à medida; implica deixá-lo tomar decisões compatíveis com a sua experiência e habilidades;
· Humilde – quando, quem cuida, reconhece que não conhece tudo, nem o outro na sua totalidade e fica receptivo a novos conhecimentos, é um sinal de humildade. Assim como quando assume que a sua forma de cuidar não é a única nem a privilegiada;
· Esperança – significa reconhecer as possibilidades do presente;
· Coragem – cuidar pode transportar-nos para o desconhecido. Quem cuida deve confiar no outro, nas suas habilidades, experiências e conhecimentos para avançar, ainda que não esteja certo do que possa encontrar.
A relação de ajuda pode dividir-se em 3 fases, nas quais o enfermeiro tem um papel primordial.
De acordo com o ponto de vista de GASPAR (2000), na primeira fase, fase introdutória, de conhecimento mútuo, o enfermeiro tenta conhecer os sentimentos, fantasias e medos do cliente, através de uma escuta eficaz. Vai ser feita uma recolha de dados, que vai ajudar a elaborar um diagnóstico de enfermagem preliminar e formular um plano de cuidados inicial. Segundo BOLANDER (1998), um objectivo primordial nesta fase é o estabelecimento da confiança.
Seguindo a teoria dos autores acima citados, na segunda fase, fase de trabalho, a pessoa que ajuda vai determinar as razões pelas quais o cliente procura ajuda. Forma-se uma relação com base na confiança, aceitação e comunicação. O enfermeiro deve explorar os sentimentos, pensamentos e as acções do utente, bem como os factores de stress. Vai chegar a uma interpretação e identificar os problemas do utente. O enfermeiro deve estimular a pessoa a conhecer melhor o seu problema, os recursos e estratégias de adaptação, de forma a criar condições de evoluir, de tomar as suas decisões e de se empenhar nas acções a desenvolver.
Na última fase, fase do fim da relação, o enfermeiro expõe toda a relação e avalia a evolução do cliente. O enfermeiro explica ao cliente o fim da relação e os dois exploram os sentimentos de perda, tristeza ou agressividade.
Para GASPAR (2000), “a relação de ajuda é intrínseca aos cuidados de enfermagem que devem ser prestados tendo em atenção esta relação. O objectivo de todo o cuidar, é ajudar a pessoa de quem se cuida, tanto a nível físico, psicológico e social”.
3.3 Comunicação
De acordo com DUGAS (1984), comunicação “é o processo através do qual uma pessoa transmite pensamentos, ideias e sentimentos, a outra”. Logo a comunicação é sempre um processo a dois.
Comunicar vem do latim communicare e segundo o Dicionário Prático Ilustrado (1979) significa “ tornar conhecido, fazer saber, participar”.
Segundo MURRAY (1989), a comunicação tem sido definida de forma muito simples como "significado compartilhado".
Quando duas pessoas concordam na mensagem que foi enviada entre elas, houve comunicação. Frequentemente, e por um número quase infinito de razões, este significado compartilhado não acontece, isso é denominado falta de comunicação ou falta de entendimento.
· Processo de comunicação
Para que haja comunicação, há quatro elementos que são fundamentais, segundo o autor acima referido, são eles:
· fonte ou emissor
· mensagem
· canal
· receptor
A fonte ou emissor, é alguém que deseja enviar uma mensagem a outra pessoa. A mensagem é o pensamento, o sentimento ou a ideia que o emissor deseja transmitir. O canal é a forma pela qual a mensagem é transmitida e por fim, o receptor é a pessoa à qual se destina a mensagem.
DUGAS (1984), refere que para haver uma comunicação eficaz a mensagem que o emissor transmitiu, chegou ao receptor, foi interpretada correctamente e que o emissor foi capaz de responder. Podem surgir dificuldades durante este processo, dificuldades essas que estão relacionadas com algum dos elementos constituintes da comunicação.
· Factores que afectam a comunicação
Alguns factores agem no sentido de influenciar seja a mensagem enviada, seja a mensagem recebida no processo de comunicação. Estes factores aplicam-se ou ao orador ou ao receptor.
Na opinião de MURRAY (1989), a idade, o papel, o momento certo, a territorialidade, a distância, o sexo, a cultura, a credibilidade, a atitude defensiva, o afecto e as atitudes são exemplos de factores que influenciam o processo de comunicação.
Para DUGAS (1984), o emissor, a mensagem, o canal e o receptor influenciam em grande medida a comunicação.
O emissor apresenta o problema de colocar a mensagem numa forma que possa ser comunicada. Isso é denominado codificação da mensagem. Algumas pessoas que perderam a voz precisam depender das formas de comunicação escrita, de gestos e de outras formas não verbais de expressão, de forma a transmitir as suas mensagens.
Para o mesmo autor, o bem-estar físico da pessoa bem como o seu estado emocional afectam, também, a sua capacidade de comunicação.
Todos os tipos de emoções podem afectar a capacidade de comunicação de uma pessoa. O indivíduo pode sentir-se tão dominado pela felicidade que não consegue encontrar a palavra para exprimir-se de forma adequada. Pode estar também tão zangado que não encontre forma satisfatória de expressar a sua zanga, ou tão assustado que não consiga falar nada.
A mensagem, em si mesma, pode não ser clara. Muitas vezes a pessoa sabe o que deseja comunicar, porém a forma como se expressa, não é absolutamente, aquela que desejava.
Na opinião de DUGAS (1984), para que transmita o sentido pretendido pelo emissor, é necessário que a mensagem seja enviada numa forma em que o receptor possa compreender.
O canal escolhido para o envio de uma mensagem precisa ser adequado. Basicamente, existem três canais principais, através dos quais nos comunicamos, com as outras pessoas: oral (fala), escrito, e comunicação não verbal.
De acordo com o mesmo autor, podem ocorrer também, problemas de comunicação na extremidade receptora do processo. Como exemplo, a mensagem pode atingir uma pessoa diferente daquela a que se destina, a pessoa com dificuldade de audição pode ter dificuldade em receber as mensagens faladas, a pessoa que não sabe ler ou escrever é incapaz de receber comunicações enviadas na forma escrita.
É necessário que o receptor não apenas receba a mensagem como que seja também capaz de interpretá-la.
· Atitudes que intensificam a comunicação
O interesse, segundo MURRAY (1989), é o que diz ao utente que o enfermeiro se interessa com os seus problemas e com aquilo que lhe acontece.
"Preocupar-se com o utente significa sentir um interesse pessoal no seu bem-estar" (BOLANDER, 1998).
A aceitação tem sido descrita por BOLANDER (1998), como a abertura de espírito para conseguir ver as qualidades únicas e atributos individuais dos utentes.
A aceitação não significa desculpar aos utentes comportamentos inadequados, significa sim, que os utentes são aceites pelas pessoas que eles são, mesmo que os comportamentos não sejam desejados.
O respeito é mais do que um comportamento de aceitação, também inclui valorizar, prestar atenção ou gostar dos utentes por aquilo que eles são.
A objectividade, para MURRAY (1989), é o uso do processo científico de resolução de problemas na enfermagem: colectar informações, identificar o problema, definir soluções, implementar soluções, avaliar resultados.
Para BOLANDER (1998), a objectividade é a percepção de estar centrada na realidade do processo de comunicação, que permite à enfermeira prestar atenção aos pensamentos e sentimentos do utente, mesmo quando ele não o faz.
A empatia segundo o mesmo autor, é também uma atitude de enfermagem que facilita a comunicação bem como: identificar pontos comuns, protecção, autenticidade, franqueza e sentido de humor.
Relativamente à empatia, esta define-se como a percepção exacta dos sentimentos do utente. É a experiência de "estar na pele da outra pessoa". Empatia não é simpatia, é um sentimento de "estar com" o utente.
A identificação de pontos comuns é a experiência do reconhecimento de semelhanças entre a enfermeira e o utente e o estabelecimento de laços emocionais nelas baseados. O relacionamento com os utentes ajuda a estabelecer laços humanos, que fazem com que a comunicação seja possível.
A protecção, leva a enfermeira a proteger o utente frágil e vulnerável, enquanto ele recupera da doença. Proteger é a atitude de preocupação em relação ao bem-estar do utente e deve ser judiciosamente usada, continuando sempre a avaliar a capacidade do utente para se proteger a si próprio.
Autenticidade, diz respeito à capacidade da enfermeira ser honesta, aberta e sincera no modo como se apresenta.
A franqueza, reflecte a capacidade e vontade da enfermeira a ser real, genuína e emocionalmente acessível.
O sentido de humor, é uma atitude desejável para o enfermeiro. Contudo, a capacidade de usar o humor pode ser uma forma terapêutica é um talento que nem todos os enfermeiros possuem.
· Atitudes que prejudicam a comunicação
Para MURRAY (1989), a superioridade, a rigidez extrema, a desatenção e a esteriotipagem interferem negativamente na comunicação.
A superioridade na medida em que, transmite ao utente que a enfermeira é mais inteligente, mais competente para julgar o que é melhor e, por isso, está numa posição de poder.
A rigidez extrema, refere-se a um grau excessivo de autoritarismo e precisão na adesão à rotina hospitalar.
A desatenção, diz respeito à não concentração por parte da enfermeira naquilo que o utente diz.
Por fim, a esteriotipagem, estabelece expectativas de que todos os membros de um grupo ajam de uma certa forma, o que muitas vezes é errado.
Segundo BOLANDER (1998), técnicas como rejeitar, desaprovar, discordar, desafiar, testar, exigir uma explicação, usar negação, culpar, moralizar entre outras prejudicam também a comunicação terapêutica.
A todas estas técnicas DUGAS (1984), acrescenta ainda o uso de calão, imposição de valores, hostilidade, depreciação como atitudes que prejudicam a comunicação.
· Técnicas que facilitam a comunicação
De acordo com MURRAY (1989), a escuta activa facilita a arte de comunicar. Ouvir é apenas uma parte da escuta, o acto da escuta representa a união do significado e da interpretação à percepção do som.
A escuta activa é uma técnica de alto nível, por meio da qual a enfermeira conscientemente focaliza-se no paciente, cujos interesses e necessidades são primários. Esta requer tempo e atenção.
Ao utilizar a reflexão, a enfermeira tenta repetir os sentimentos, pensamentos ou as declarações do utente. Tem como finalidade ajudar os utentes a considerara as suas próprias declarações.
As perguntas abertas, são utilizadas pela enfermeira com a finalidade de permitir que o utente tenha liberdade de resposta. São perguntas que não são respondidas sim ou não.
Por meio da utilização do esclarecimento, a enfermeira tenta eliminar dúvidas sobre quaisquer declarações que partiram do utente, e que não são totalmente compreendidos.
Ao fazer um sumário, a enfermeira pode resumidamente contar em outras palavras os sentimentos e o conteúdo de determinada conversa com o utente. Também pode usá-lo para concluir uma interacção, ou como revisão do progresso.
O uso do silêncio como meio de comunicação pode intensificar ou interferir com a interacção.
Segundo DUGAS (1984), às vezes, é melhor não dizer nada, a maioria das pessoas não se sente à vontade, quando a conversação é interrompida.
· Tipos de comunicação
De acordo com BOLANDER (1998), há geralmente dois tipos de comunicação: verbal e não verbal, cada tipo tem diversos componentes
ü Comunicação verbal
A comunicação verbal é o uso de palavras para comunicar mensagens. Este tipo de comunicação é conseguido através da escrita ou da palavra falada num código mutuamente compreendido entre o emissor e o receptor.
O instrumento da comunicação é a linguagem, sendo esta um conjunto de palavras com significados compreensíveis dentro de um grupo.
Para DUGAS (1984), a comunicação efectiva com outras pessoas depende do uso de uma linguagem comum. Assim, é importante que as enfermeiras conversem com os pacientes nos termos que esses possam compreender. É necessário que a enfermeira avalie o nível de linguagem do paciente e use palavras adequadas para exprimir, claramente, a sua intenção.
Na opinião de BOLANDER (1998), falar é o acto de verbalizar símbolos para comunicar pensamentos, sentimentos ou ideia.
Para o mesmo, a comunicação escrita transfere um pensamento ou um símbolo falado para a forma impressa. Ser capaz de comunicar com precisão e claramente através da escrita é essencial para os enfermeiros (por exemplo, na documentação de cuidados de enfermagem).
Pode ser especialmente útil na comunicação com utentes que têm algum grau de incapacidade para ouvir ou falar com clareza, ou mesmo não falar.
Para BOLANDER (1998), tanto a linguagem gestual como a linguagem Braille são linguagens que se assemelham ao discurso escrito, no sentido de que são compostas por um alfabeto com letras que se podem juntar de modo a formar palavras, as quais são usadas para transmitir mensagens. Portanto são meios verbais de comunicação.
ü Comunicação Não Verbal
Segundo BOLANDER (1998), a comunicação não verbal é um conjunto de comportamentos que comunica mensagens quer sem usar palavras quer como suplemento da comunicação verbal.
A comunicação não verbal consiste em linguagem corporal, linguagem não verbal e qualquer outro meio pelo qual comunicamos uns com os outros sem fazer uso das palavras.
Como profissionais de Saúde, preocupamo-nos especialmente com a linguagem corporal e com a linguagem não verbal.
De acordo com DUGAS (1984), os sentimentos e atitudes são transmitidos não apenas através de palavras, como também do comportamento não verbal. A enfermeira deve saber que a expressão facial do utente, o tom de voz, os gestos e a compostura transmitem, todos, de forma subtil, os seus sentimentos por outra pessoa.
Segundo o mesmo autor, a expressão facial é, talvez, a forma mais comum em que os sentimentos são expressos de forma não verbal pelas pessoas. Transmitem-se sentimentos de felicidade, medo, surpresa, ódio, desgosto, usando-se os músculos faciais.
As expressões faciais falam a língua universal.
Na opinião de BOLANDER (1998), tal como os movimentos faciais a postura corporal e a posição também nos podem dar pistas acerca do estado físico e emocional de um indivíduo.
Para DUGAS (1984), a postura erecta e esguia indica, geralmente, que a pessoa possui um sentimento de auto-estima e considerável grau de equilíbrio interior. A tristeza, a depressão ou a falta de auto-estima fazem com que a pessoa fique encurvada ou com os ombros caídos.
A boa aparência transmite também, segundo o mesmo autor, um significado. Uma aparência limpa e bem arrumada indica que a pessoa orgulha-se do seu aspecto. A atitude do paciente em relação à sua aparência é frequentemente indicativa do seu estado de bem-estar.
As pessoas muito doentes, geralmente não têm força ou desejo de se manter arrumadas.
Muitas vezes as pessoas não estão conscientes dos gestos por elas usados, porém esses gestos desempenham um importante papel na transmissão de pensamentos e sentimentos.
Segundo BOLANDER (1998), os gestos urgentes das mãos podem ser lidos como um sinal de que a pessoa tem necessidade urgente de ser ouvida (e talvez assistida).
É importante compreender o que os gestos significam nas diferentes culturas, para evitar mal entendidos ao comunicarmos com pessoas de diferentes origens.
Para o mesmo autor, o toque entre a enfermeira e o utente é um aspecto que requer muita sensibilidade por parte da enfermeira.
A enfermagem é uma profissão em que as mãos são muito usadas e na nossa prática diária tocamos frequentemente e intimamente nas pessoas. Contudo, devemos estar permanentemente conscientes de que o toque tem muitos significados para os utentes.
3.4 OBSERVAÇÃO
De acordo com DE KETELE (1980) cit in DAMAS (1985), "Observar é um processo que inclui a atenção voluntária e a inteligência, orientado por um objectivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objecto para dele recolher informações".
Para LAFON (1963) cit in DAMAS (1985), a observação trata-se de um processo e não de um mecanismo simples de impressão como a fotografia. Na verdade, este processo requer um acto de atenção, isto é, uma concentração electiva da actividade mental que comporta um aumento de eficiência sobre um sector determinado e a inibição das actividades concorrentes.
A observação é um processo cuja função primeira, imediata, consiste em recolher informações sobre o objecto observado.
Como nos diz DAMAS (1985), a observação poderá ser considerada como um método pedagógico ou até mesmo, muitas vezes designará um método clínico. Segundo LAFON (1969) cit in DAMAS (1985), a observação é o estudo completo do valor funcional, do comportamento e das condutas (maneiras de proceder) de um ser humano, tendo em conta os seus elementos constitutivos e a sua personalidade dinâmica na sua totalidade e no seu envolvimento.
· Funções da Observação
Para DAMAS (1985), cinco funções podem presidir à criação ou à utilização de um instrumento de observação: descritiva, formativa, avaliativa, invocada e provocada.
ü Função descritiva
Na função descritiva, observa-se para descrever os fenómenos ou uma situação.
ü Função formativa
Neste quadro, observa-se para retroagir e retroage-se para formar.
ü Função avaliativa
Nesta perspectiva, estamos na dinâmica que se observa para avaliar, avalia-se para decidir, decide-se para agir.
ü Função invocada
Fala-se de observação invocada quando a actividade é orientada para a emergência de hipóteses pertinentes que serão submetidas ulteriormente a actividades de verificação.
ü Função provocada
Observação provocada, no sentido de que uma situação é provocada, procurada ou manipulada, afim de verificar uma hipótese.
· O autor da observação
De acordo com DAMAS (1985), o observador é independente quando observa um grupo sem nele se integrar, e é participante quando se integra no grupo e na vida deste. Os etnólogos, que estudaram e utilizaram muito a observação participante, entendem que é importante distinguir diversas formas:
ü Observação participante passiva
Segundo MEAD (1966) cit in DAMAS (1985), o observador participante entra no jogo, observa, mas não toca em nada. Esta técnica, que exige um treino sério, está particularmente indicada, e por vezes é a única possível para descobrir e estudar um "mundo" estranho e não familiar.
ü Observação participante activa
Para WEBB (1966) cit in DAMAS (1985), o observador desempenha funções efectivas susceptíveis de modificar radicalmente certos aspectos da vida do grupo.
De acordo com FUERST (1977), observar significa notar cuidadosamente factos que podem ser significantes. A enfermeira está a observar, quando vê um paciente chorar, ou quando vê casas de um bairro rural num estado de ruína. A enfermeira pode, também estar a observar ao ouvir uma pessoa tossir ou ao sentir um odor particular oriundo de uma ferida.
Para DUGAS (1984), observações são quaisquer informações obtidas pela enfermeira, acerca de um indivíduo. O termo é usado para denotar a informação que a enfermeira obtém, acerca do indivíduo, através do uso dos seus sentidos, da visão, da audição, do olfacto, e do tacto.
O exame visual destinado à descoberta de anormalidades é denominado inspecção, as observações são pormenorizadas e focalizadas em áreas particulares do corpo.
Segundo o mesmo autor, a observação da enfermeira é mais acurada coma utilização de recursos como o termómetro clínico, o esfignomanómetro e o estetoscópio. Além desses recursos básicos, existe equipamento sofisticado e aparelhos para ajudar na observação e avaliação de funções vitais.
De acordo com o mesmo, as observações relatadas pela enfermeira incluem achados tanto objectivos (o que a enfermeira observa), quanto as observações subjectivas do paciente.
Na opinião de DUGAS (1984), as informações obtidas pela enfermeira durante a conversa com o utente, e em decorrência das suas observações, devem ser sempre confirmadas pela verificação, para ver se as impressões por ela obtidas estão de acordo com as percepções do utente.
“Inspecção é o processo de observação” (PERRY, 1999). O enfermeiro inspecciona as partes corporais para detectar as características normais ou os sinais físicos significativos. Para PEERY (1999), o enfermeiro experiente aprende a fazer várias observações, quase simultaneamente, é especialmente importante conhecer as características normais dos clientes em diferentes idades.
A qualidade de uma inspecção depende da vontade do enfermeiro para despender tempo fazendo um trabalho completo. Para usar a inspecção eficazmente, e segundo o autor acima referido, o enfermeiro observa os seguintes princípios:
ü Ter a certeza de que uma boa iluminação está disponível;
ü Posicionar e expor as partes corporais de modo que todas as superfícies possam ser observadas;
ü Inspeccionar cada área quanto ao tamanho, formato, coloração, simetria, posição e anormalidades;
ü Se possível, comparar cada área inspeccionada com a mesma área;
ü Utilizar luz adicional para inspeccionar as cavidades corporais;
ü Não fazer a inspecção com pressa. Prestar atenção aos detalhes.
3.5 – Registos
Já na época de Florence Nightingale, os registos eram uma peça fundamental no processo de enfermagem. Hoje em dia continua a ser uma das funções importantes do enfermeiro.
Para BOLANDER (1998), cada registo deve consistir numa descrição precisa e global do utente e dos factos ocorridos durante o período de prestação de cuidados. Os registos acerca do utente são tradicionalmente chamados de processo. O processo é um documento que pode consistir num ou mais impressos, que fornecem um registo completo dos cuidados ao utente, desde a sua avaliação inicial (incluindo a história pregressa relevante) à avaliação dos resultados obtidos pelo utente.
Como já foi dito anteriormente, é função do enfermeiro fornecer dados de elevada qualidade. Dados esses que podem ser imprescindíveis para a continuidade dos cuidados individualizados ao doente e para a efectivação da melhoria dos cuidados de saúde na sociedade.
De acordo com o autor acima citado, os objectivos da criação e preservação dos registos dos cuidados de saúde são:
· Comunicação – o processo é uma fonte de informação centralizada e actualizada sobre a implementação dos cuidados de saúde e sobre a resposta do utente aos mesmos;
· Planeamento de cuidados – o registo escrito de um plano fortalece o trabalho de equipa na avaliação e modificação do plano de acção;
· Auditoria – o processo deve ser verificado para avaliar os cuidados de saúde prestados ao utente, bem como a competência dos prestadores de cuidados;
· Investigação – a partir de um determinado número de registos, pode ser colhida informação para construir uma base de dados que pode ser utilizada na identificação de problemas e definição de variáveis. Além disso, os registos são uma fonte de informação estatística muito importante;
· Educação – os registos são utilizados para ensinar aspectos dos cuidados clínicos, como por exemplo, o reconhecimento de sintomas, situações clínicas, ou mesmo resposta a tratamentos e avaliações;
· Documentos Legais – os registos podem ser utilizados em tribunal ou em reclamações feitas pelos utentes;
· Documentos Históricos – a informação que consta nos registos do utente, fornece um documento histórico de cada situação de prestação de cuidados de saúde.
Como foi referido anteriormente, os registos são documentos legais, que podem ser utilizados vários anos após os cuidados prestados. Por isso, os registos devem ser rigorosos, completos e realizados de forma completa.
Ø Linhas orientadoras para a elaboração de registos
A informação manuscrita deve ser feita com letra legível ou de forma impressa. Deve-se (salvo indicação em contrário) utilizar tinta preta para escrever os registos, uma vez que é melhor para a realização de fotocópias e além disso é a cor utilizada nos documentos legais.
Os registos devem ser realizados após a conclusão dos cuidados de enfermagem e só se deve registar aquilo pelo qual é directamente responsável. E quando se quer registar algo que o enfermeiro não presenciou, deve-se referir sempre a fonte da informação. No caso de haver erros nos registos, estes devem ser corrigidos logo que possível, mas nunca se deve apagar ou utilizar tinta correctora para corrigir o registo. O que se deve fazer é traçar com uma linha única o registo incorrecto e escrever “erro” ou “sem efeito” e assinar ou escrever as iniciais do nome por cima (de acordo com a instituição).
Após conclusão do registo deve-se trancar todos os espaços em branco, para não poderem ser utilizados posteriormente.
Quando se quer registar dados relativos a prestações de cuidados que estejam claramente fora da ordem cronológica, deve-se assinalá-los como “registo extemporâneo”, apontando a data e a hora.
Falando precisamente da construção dos registos, estes devem ser iniciados com a data e a hora da realização e devem terminar com a assinatura de quem realizou.
Tem que se fazer uma descrição concisa e não se deve recorrer a frases genéricas, vazias de conteúdo; por outro lado não se deve escrever frases com críticas ou juízos de valor, tanto relativamente ao utente como à família.
Se os registos ocuparem mais que uma página, as seguintes têm que ser assinaladas como continuação da primeira. Se ocorrerem dúvidas acerca da prescrição ou se é necessário clarificar os cuidados a prestar, é muito importante que seja registado.
Em relação às abreviaturas e símbolos, só se deve utilizar os padronizados, e só utilizar termos técnicos que o significado seja conhecido.
É de importância vital registar cada medicamento, tratamento e procedimento, referindo a hora, o efeito e os resultados obtidos. Tem que se registar também se o doente rejeitou o medicamento ou tratamento, referindo a razão pela qual o fez, bem como a quem foi comunicado esse facto.
Os incidentes têm que ser registados tanto nas notas de evolução como no relatório de incidentes.
Ø Sistemas de registos mais utilizados
· Narrativo
A estrutura básica das notas de enfermagem tem-se mantido inalterada ao longo do tempo, são as narrativas (ou notas de evolução).
Segundo BOLANDER (1998), as narrativas são descrições de informação sequencial, normalmente por ordem cronológica, servindo de meio para relatar a observação, as intervenções e a resposta do utente aos cuidados prestados. Este é o tipo de registo mais utilizado pelos enfermeiros e profissionais de saúde. É também o mais utilizado nos sistemas orientados para as fontes, nos quais cada grupo de profissionais de saúde faz o registo da informação relativa às observações e cuidados prestados numa secção própria e individualizada para cada grupo.
A informação é registada de uma forma não estruturada, pertencendo a quem faz o registo a decisão sobre a quantidade e sobre os aspectos a focar nesse registo.
De acordo com o mesmo autor, a vantagem deste sistema é a facilidade de utilização e o facto de permitir uma rápida revisão dos cuidados prestados ao utente. Este formato leva os enfermeiros a utilizar a sua criatividade e a realçar os aspectos que considerar mais relevantes na sua observação.
Por outro lado, as desvantagens da utilização da forma narrativa derivam do seu formato não estruturado e da dispersão da informação ao longo do registo. Esta dispersão dificulta a estruturação dos resultados obtidos pelo utente. As comparações e as quantificações são difíceis devido à variabilidade da qualidade e da quantidade das anotações no processo. Além disto a unicidade de cada registo consome muito tempo ao enfermeiro.
De acordo com TIMBY (2001), as desvantagens do registo narrativo são:
- requer bastante tempo;
- é de difícil leitura, pois a narrativa é extensa;
- podem ser omitidas anotações importantes, da mesma maneira que podem ser incluídas informações insignificantes.
Ø Formas mais estruturadas
Na tentativa de ultrapassar algumas das desvantagens dos registos narrativos, as formas de registo foram-se alterando na esperança de ultrapassar essas desvantagens, tornando-se assim registos mais estruturados.
Uma das alterações é o aumento da utilização de gráficos e formulários. Um formulário é constituído por uma ou mais formas utilizadas para registar as informações relativas a um número seleccionado de observações e tratamentos que são repetidos periodicamente. Os formulários são versáteis e podem ser utilizados de acordo com as necessidades do serviço, para registar informação relativa a períodos de tempo que podem variar de minutos ou horas até meses ou mesmo anos.
Os gráficos foram rapidamente adoptados pelas instituições de saúde de forma a poupar tempo na realização, leitura e comparação de dados.
Existem numerosas vantagens que levaram ao aumento da utilização de gráficos e formulários. Uma das vantagens é o tempo ganho pelos enfermeiros e estes registos mais estruturados permitem recuperar mais facilmente a informação e compara-la. Para BOLANDER (1998), “o aumento da utilização da informação sobre o utente será possível quando ela for concisa, correcta e facilmente localizável”.
· Sistema de registo orientado por problemas
O sistema de registo orientado por problemas foi originalmente desenvolvido para ser utilizado pelos médicos e foi criado pelo Dr. Lawrence Weed. O objectivo deste sistema era facilitar a documentação dos cuidados de saúde, criando notas de evolução integradas. O sistema foi largamente adoptado por diferentes prestadores de cuidados e, sempre que necessário, era alterado para satisfazer as necessidades dos diversos utilizadores. Este sistema é também conhecido como o registo orientado por problemas (ROP), registo de enfermagem orientado por problemas (REOP) e registo médico orientado por problemas (RMOP). É constituído por quatro componentes: uma base de dados, uma lista de problemas, planos de cuidados e notas de evolução.
§ Base de dados
A base de dados é constituída por informação colhida na altura da avaliação inicial. Normalmente inclui a história médica, exame físico e história de enfermagem. A base de dados inclui dados objectivos e subjectivos e constitui o ponto de partida para a elaboração da lista de problemas do utente.
§ Lista de problemas
A lista de problemas contém um conjunto de problemas do utente, ordenados e numerados por ordem de prioridade. A numeração é muito útil porque permite que os registos acerca de determinado problema sejam facilmente identificados.
§ Plano de cuidados
Os planos de cuidados têm informação sobre as acções implementadas em relação a cada um dos problemas identificados, bem como os objectivos e os resultados esperados. Os detalhes específicos tal como os procedimentos, as intervenções e as respostas obtidas, são seguidas através do plano de cuidados.
§ Notas de evolução
As notas de evolução contêm informação importante sobre cada um dos problemas enunciados na lista de problemas. A estrutura das notas pode variar, desde um formato organizado por colunas já codificadas até um formato aberto em que o enfermeiro é que escolhe o critério de elaboração das notas. O formato habitualmente utilizado é chamado SOAPIAR.
Em relação ao formato anteriormente referido passamos a explicar. Pelo ponto de vista de TIMBY (2001), o formato SOAPIAR inclui: dados subjectivos, dados objectivos, análise e avaliação inicial, plano, intervenções, avaliação e reformulação.
De acordo com BOLANDER (1998), os dados subjectivos informam sobre a opinião que o utente tem sobre o problema e são constituídos por frases do utente. Se o utente não tem capacidade para fornecer esses dados, este item tem que ser assinalado para todos os profissionais terem conhecimento que não é possível ter conhecimento destes dados.
Segundo o autor acima citado, em relação aos dados objectivos, estes são dados recolhidos de outros fontes que não o utente, tal como valores laboratoriais, dados fisiológicos, observações imparciais e informações obtidas a partir dos familiares. Estas informações são utilizadas para documentar e fundamentar os diagnósticos médicos e de enfermagem.
Na análise e avaliação inicial os dados objectivos e subjectivos é que vão conduzir a formulação do diagnóstico. Durante o tratamento tem que haver reavaliações, o que faz com que este item esteja em constante mudança.
É desenvolvido e implementado um plano de cuidados de forma a ajudar cada pessoa. O plano tem que incluir critérios de avaliação.
As intervenções são realizadas para diminuir os problemas identificados. O utente na medida do possível deve ser um membro activo neste processo. Este item devido as reavaliações constante, está também em constante mudança.
No que diz respeito à avaliação, esta é imprescindível para que se saiba se as intervenções estão a ir ao encontro dos problemas do utente e além disso se estão a surtir o efeito desejado. Se os resultados não estiverem a ser os esperados, isso vai corresponder a uma viragem nas intervenções de enfermagem.
Por fim, temos a reformulação. Esta tem que ser feita sempre que as intervenções não sejam as mais adequadas aos problemas do utente e sempre que os resultados obtidos não sejam os esperados.
· Sistema de registo FOCUS
Este sistema foi desenvolvido no Eitel Hospital, em Mineapolis, Minesota, por um grupo de enfermeiros que pretendia alterar o sistema das notas de enfermagem feita pelo sistema ROP.
Para pôr em prática este sistema, utilizaram uma coluna de focus nas notas de enfermagem. É utilizado o termo focus uma vez que dá uma visão mais abrangente e mais positiva do que o termo problema. O objectivo deste sistema é identificar o foco das acções de enfermagem.
Com este sistema, as notas de evolução estão distribuídas por três partes conhecidas por DAR, que significa: dado, acção e resposta. A parte dos dados descreve as observações
· Registo computorizado
O registo computorizado, pelo ponto de vista de TIMBY (2001), refere-se à documentação electrónica de informações sobre o utente. Esta tecnologia é muito vantajosa para os enfermeiros, quando está disponível à cabeceira dos utentes, em caso de internamento.
Este tipo de registos apresentam enumeras vantagens, segundo TIMBY (2001), elas são:
- a informação é sempre legível;
- os dados e o horário exacto da documentação estão automaticamente disponíveis;
- as abreviaturas e os termos utilizados estão de acordo com as listas aprovadas pelas instituições;
- o que não é essencial é eliminado;
- ocorrem menos falhas, porque o sistema está preparado para só aceitar informações especificas;
- o registo por computador poupa, no mínimo, meia hora de tempo em relação ao anteriormente dispendido;
- o registo electrónico de dados reduz os custos atribuídos às horas extras pelo seu preenchimento ao final de turnos;
- os dados electrónicos ocupam menos espaço de armazenamento e podem ser facilmente recuperados.
Por outro lado, as principais desvantagens de acordo com o mesmo autor são:
- elevados gastos iniciais para a aquisição de um sistema computorizado;
- treino do pessoal que vai utilizar o sistema;
IIª PARTE - METODOLOGIA
Segundo FORTIN (1999) a fase metodologia consiste em precisar como o fenómeno em estudo será integrado num plano de trabalho que ditará as actividades conducentes à realização da investigação.
A metodologia é o “conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a elaboração do processo de investigação científica. Também, secção de um relatório de investigação que descreve os métodos e as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação” (FORTIN, 1999).
O desenho de investigação em causa é um estudo correlacional descritivo no qual se pretende avaliar a satisfação dos utentes na consulta de Enfermagem da Diabetes.
Como pretendíamos estudar uma população e avaliar o fenómeno a ela associado, num período de tempo bem definido, optámos por recorrer a um estudo transversal já que temos como objectivo explorar e determinar a existência de relação entre variáveis, com vista a descrever essas mesmas relações, ou seja, pretendemos descobrir os factores que estão ligados a um fenómeno sendo neste estudo – Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
O método de colheita de dados por nós utilizado foi o questionário, uma vez que se trata de um instrumento de medida que apresenta várias vantagens e face à necessidade de obtermos os dados num curto espaço de tempo.
4. Objectivos e Conceptualização
Para que os objectivos de um estudo sejam atingidos é necessário que este seja delineado partindo do princípio que existem várias fases no seu desenvolvimento, e que uma fase não deverá ser iniciada sem que a precedente tenha sido minimamente conseguida.
Pretendemos através do estudo em questão avaliar a existência de relação entre as variáveis sociodemográficas (sexo, idade, local de residência) e clínicas (tempo de diagnóstico da doença), com a satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes. As variáveis a que temos vindo a fazer referência encontram-se articuladas no modelo conceptual que passamos a esquematizar:
5. Hipóteses
O conceito de hipótese é definido de formas diversas consoante os seus autores.
Assim, para POLIT, HUNGLER (1995) hipótese é “a relação esperada entre as variáveis independentes e a dependente”.
Segundo GIL (1995) hipótese “é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade da resposta existente para um problema”.
De acordo com FORTIN (1999) “uma hipótese é um enunciado formal das relações previstas entre duas ou mais variáveis. É uma predição baseada na teoria ou numa porção desta...”
Para LAKATOS e MARKONI (1995), “Hipótese é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta existente para um problema. É uma suposição que antecede a constatação dos factos e tem como características uma formulação provisória; deve ser testada para determinar sua validade.”
Segundo FORTIN (1999), “os elementos essenciais da formulação de uma hipótese são:
- o enunciado de relações;
- o sentido da relação;
- a verificabilidade;
- a consistência teórica;
- a plausibilidade”.
Uma hipótese num estudo científico, tem como propósito a explicação para certos factos e ao mesmo tempo orientar a busca de outras informações.
Tendo por base o marco teórico e os objectivos deste estudo enunciamos as seguintes hipóteses:
Ø Hipótese complexa
HA – Há relação entre as variáveis sociodemográficas e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
Sub – Hipóteses
HA1 – Há relação entre a idade e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes;
HA2 – Existe relação entre o sexo e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
HA3 – Há relação entre o local de residência e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
Ø Hipótese complexa
HB – Existe relação entre a variável clínica e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
Sub-Hipótese
HB1 – Há relação entre o tempo de diagnóstico da doença e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
6. Variáveis
“Ao se colocar o problema e hipótese, deve ser feita também a indicação das variáveis independentes e dependentes. Elas devem ser definidas com clareza e objectividade e de forma operacional.” (LAKATOS e MARCONI; 1995).
Segundo FORTIN (1999) variáveis são qualidades, propriedades ou características de objectos, de pessoas ou de situação que são estudadas numa investigação.
“Variável é alguma coisa que pode ser classificada em duas ou mais categorias.” (KERLINGER, 1980).
“Todas as variáveis que podem interferir ou afectar o objecto em estudo, devem ser, não só levadas em consideração, mas também devidamente controladas, para impedir comprometimento ou risco de invalidar a pesquisa. (LAKATOS e MARCONI; 1995).
As variáveis podem ser classificadas de diferentes maneiras, segundo a sua utilização numa investigação. Os tipos de variáveis mais correntes são:
- Variáveis independentes e dependentes;
- Variáveis atributo;
- Variáveis estranhas.
Em qualquer estudo de investigação é necessário definir de forma clara e precisa dois tipos de variáveis: variável dependente e variável independente.
Assim pretendemos saber e dar a saber o porquê e o como os valores referentes a uma variável variam.
6.1 VARIÁVEL DEPENDENTE
CERVO (1983) define-a como “o factor, propriedade, efeito ou resultado decorrente da acção da variável independente”.
Segundo FORTIN (1999),
“Variável dependente consiste naqueles valores (fenómenos e factores) a serem explicados ou descobertos, em virtude de serem influenciados, determinados ou afectados pela variável independente; é o factor que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente; a propriedade ou factor que é efeito, resultado, consequência ou resposta a algo que foi manipulado, (variável independente).
LAKATOS e MARCONI (1995) definem a variável dependente como o “factor que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente”.
A variável dependente segundo RICHARDSON [et al] (1989) será aquela afectada ou explicada pelas variáveis independentes, isto é, variará de acordo com as mudanças nas variáveis independentes.
A variável dependente do nosso trabalho é – Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
6.2 VARIÁVEL INDEPENDENTE
As variáveis independentes de acordo com RICHARDSON [et al] (1989) são aquelas que afectam outras variáveis, mas não precisam de estar relacionadas entre elas.
Segundo CAMPANA [et al.] (2001), a variável independente, pode igualmente ser considerada como a variável que afecta outra; é o factor que constitui a causa para certo efeito, geralmente é o factor manipulado pelo investigador na tentativa de observar a sua influência sobre outra variável.
As variáveis independentes vão exercer determinado efeito numa outra variável, a variável dependente. As variáveis independentes são aquelas que o investigador manipula num estudo experimental, para medir o seu efeito na variável dependente, são também chamadas, por vezes, como variáveis experimentais, de tratamento ou de intervenção.
Para os autores CERVO e BERVIAN (1983) a variável independente é vista como “o factor, a causa ou antecedentes que determina a ocorrência de um outro fenómeno, efeito ou consequência”.
Segundo FORTIN (1996) “ a variável independente é o que o investigador manipula num estudo experimental para medir o seu efeito na variável dependente.”
Neste nosso trabalho de investigação, as variáveis independentes foram reunidas em dois grupos, sendo eles:
· Sóciodemográficas:
- Idade;
- Sexo;
- Local de residência;
· Clínicas:
- Tempo de diagnóstico da doença
6.3 OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS
Segundo GIL (1995), muitos dos conceitos ou variáveis utilizados nos levantamentos sociais são empíricos, ou seja, referem-se a factos ou fenómenos facilmente observáveis e mensuráveis. Por outro lado outros factos e fenómenos não são passíveis de observação imediata e muito menos de mensuração. Nestes casos, torna-se necessário operacionalizar esses conceitos ou variáveis, ou seja, torna-los passíveis de observação empírica e de mensuração.
Por conseguinte é necessário primeiramente definir essas variáveis teoricamente e determinar as suas dimensões.
Ø Operacionalização da variável independente
· Idade
Para COSTA e MELO (1996), a idade é o “número de anos que uma pessoa ou animal conta desde o seu nascimento até à época em que ou de que se fala”.
No nosso instrumento de colheita de dados colocamos uma questão aberta onde foram registadas as idades dos utentes diabéticos.
· Sexo
Na perspectiva de COSTA e MELO (1996), sexo é o “conjunto de pessoas que têm morfologia idêntica relativamente ao aparelho genital”.
SILVA (1990) advoga que “a especificação na organização, com formação particular do ser vivo que lhe permite uma função ou papel no acto de geração que lhe garante a diferença constitutiva dos indivíduos machos em relação ás fêmeas ou das fêmeas em relação aos machos” é designada por sexo.
Na operacionalização desta variável tivemos em conta se os utentes eram do sexo feminino ou masculino, recorrendo a uma questão fechada dicotómica.
· Zona de residência
De acordo com COSTA e MELO (1996), residência é o “lugar onde se mora habitualmente”.
Considerámos no nosso formulário, uma pergunta aberta que admitia como respostas possíveis, aldeias do concelho de Oliveira de Frades.
· Tempo de diagnóstico da doença
Segundo o DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA (1999), tempo é definido com “ meio indefinido e homogéneo no qual se desenrolam os acontecimentos sucessivos; parte da duração ocupada por acontecimentos; duração; prazo; flexão verbal que indica o momento em que a acção se realiza”.
De acordo com o mesmo dicionário diagnóstico define-se como “determinação de uma doença através dos seus sintomas; conhecimento de alguma coisa através de certos sintomas; conjunto desses sintomas”.
Doença é definida no mesmo dicionário como sendo “ falta de saúde; enfermidade; moléstia”. Para DUGAS (1984), doença é “um grupo de anormalidades no funcionamento, produzindo sinais e sintomas reconhecíveis”.
No nosso instrumento de colheita de dados colocamos uma questão aberta que admitia dois tipos de resposta (há mais de dez anos, há menos de dez anos).
Ø Operacionalização da variável dependente
· Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
Satisfação segundo COSTA e MELO (1996) é o “acto ou efeito de satisfazer ou de satisfazer-se; contentamento; alegria; aprazimento; reparação de uma ofensa; pagamento.”
Utente segundo o DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA (1999) é “pessoa que utiliza bens ou serviços públicos”.
Consulta está definida no mesmo dicionário como “acção ou resultado de consultar; conselho; proposta”.
De acordo com o mesmo dicionário, enfermagem é “actividade de enfermeiro; tratamento dos enfermos”.
Diabetes, segundo CAMARNEIRO (2002), é um conjunto heterogéneo de situações clínicas, quer na sua predisposição genética, quer na sua expressividade clínica, tendo como elemento comum a intolerância à glicose.
A satisfação dos utentes na consulta de Enfermagem da Diabetes é avaliada através de três dimensões:
ü Satisfação dos utentes face ao relacionamento com o enfermeiro na consulta de Enfermagem da Diabetes;
ü Satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica com ele na consulta de Enfermagem da Diabetes;
ü Satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz a educação para a saúde na consulta de Enfermagem da Diabetes.
Considerámos no nosso formulário, para este item perguntas fechadas, em escala de tipo Likert (pergunta 5 a 27).
7. População/Amostra
Segundo FORTIN (1999) “uma população é uma colecção de elementos ou de sujeitos que partilha características comuns, definidos por determinados critérios”.
Reportando-nos a VIEIRA (1991), diremos que a população é todo o conjunto de indivíduos, ou objectos que possuem ou partilham em comum uma ou mais características.
A população que serviu de base a este estudo apresenta características comuns, o facto de todos os indivíduos estarem inscritos no Centro de Saúde de Oliveira de Frades e serem diabéticos tipo 2. É então constituída por todos os utentes diabéticos do tipo 2, pertencentes ao Centro de Saúde de Oliveira de Frades, tratando-se de uma população finita.
Para VIEIRA (1991), uma amostra é um subconjunto de “entidades”, cujas características são semelhantes à da população experimental acessível.
Segundo FORTIN (1999), a amostra é um subconjunto de uma população ou de um grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população. É, de qualquer forma, uma réplica em miniatura da população alva.
Deve ser representativa da população visada, isto é, as características da população devem estar presentes na amostra seleccionada.
Optámos por desenvolver o nosso estudo trabalhando com uma amostra, em virtude de nos permitir uma recolha e análise dos dados mais aprofundada, e nos possibilitar economia de tempo.
Recorremos assim a uma amostra intencional não probabilística. No âmbito deste projecto foi abordada uma amostra de trinta e sete utentes do Centro de Saúde de Oliveira de Frades com diagnóstico de Diabetes tipo 2.
8. Instrumento de Colheita de Dados
“Os dados podem ser colhidos de diversas formas junto dos sujeitos. Cabe ao investigador determinar o tipo de instrumento de medida que melhor convém ao objectivo de estudo, as questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas”. (FORTIN, 1999)
Para atingirmos os objectivos a que nos propusemos elaboramos um formulário. Optamos por este instrumento de colheita de dados pois pode ser aplicado a populações heterogéneas, as informações são obtidas directamente do entrevistado, e podem-se explicar significados de perguntas menos perceptíveis além disso, pode estabelecer ainda uma relação com o entrevistado.
Para avaliar a satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes, construímos um conjunto de questões tipo Likert.
Segundo Richardson (1989), a Escala tipo Likert é uma escala de atitudes, sendo estas, predisposições para reagir negativa ou positivamente a respeito de certos objectos, instituições, conceitos ou outras pessoas.
O formulário em questão é constituído por uma primeira parte com quatro perguntas, a primeira das quais é fechada, e as três restantes do tipo aberta, referentes à identificação do utente. Pretende-se analisar neste grupo:
- Sexo;
- Idade;
- Local de Residência;
- Tempo de diagnóstico da doença
A segunda parte é constituída por 23 questões, em que todos os itens se respondem mediante uma escala tipo Likert. A escala é constituída por um conjunto de itens que variam entre 1 e 5 pontos.
Ø nunca (1) – raramente (2) – às vezes (3) – quase sempre (4) – sempre (5) - nas questões 5 a 10, 12,13,15,17,18, 20 a 26.
Ø nada importante (1) – pouco importante (2) – parcialmente importante (3) – importante (4) – muito importante (5) – nas questões 11,14,16,19 e 27.
A população inquirida, respondeu ao formulário, no período de 21 a 28 de Janeiro de 2005.
A satisfação dos inquiridos face à consulta de Enfermagem da Diabetes é medida nas perguntas 5 a 27.
Optamos por avaliar a satisfação em três dimensões, cujas perguntas são respectivamente:
ü Satisfação dos utentes face ao relacionamento: perguntas 5,6,11,12,13,17 e 21.
ü Satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica: perguntas 7,8,9,15,18 e 22
ü Satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz a educação para a saúde: perguntas 10,14,16,19,20,23,24,25,26 e27.
O somatório dos valores correspondentes às respostas dos utentes, vão nos permitir concluir se estes se encontram satisfeitos (se valores superiores a 70%) ou não satisfeitos (se valores inferiores a 70%).
8.1 PRÉ – TESTE
No que concerne à aplicação do pré-teste do questionário, foi efectuado no dia 18/01/2004, a quatro utentes diabéticos tipo 2, no Centro de Saúde de Oliveira de Frades. A entrevista por questionário durou cerca de 10min e as perguntas não ofereceram dúvidas pelo que não se efectuaram alterações após a sua aplicação.
9. Tratamento estatístico
O tratamento estatístico inclui todo o percurso que vai desde a colheita de dados até à análise e interpretação dos resultados.
“A estatística é a ciência que permite por um lado, resumir a informação numérica de forma estruturada, com o objectivo de obter uma imagem geral das variáveis medidas na amostra (estatística descritiva) e por outro, com ajuda dos testes estatísticos, determinar se as relações observadas entre certas variáveis nessa amostra são generalizáveis á população de onde esta foi retirada” (FORTIN, 1999).
POLIT e HUNGLER (1994), salientam que “ a relação entre variáveis pode-se predizer, no entanto requer a investigação para que essa predição seja suportada e analisada”.
De acordo com CARVALHO (1999) “por forma a avaliar essa relação entre variáveis, recorre-se a testes, métodos e meios que permitem provar ou refutar essa associação. Estes procedimentos permitem-nos a recolha de dado, no entanto é necessário que esses dados sejam posteriormente analisados e interpretados.”
Para o tratamento estatístico recorremos à estatística descritiva (medidas de tendência central – Media, Moda, Mediana; e medidas de dispersão – Amplitude, Variância, Desvio Padrão e coeficiente de variação) e à estatística inferencial (Teste Qui-Quadrado ao nível de significância de 5%; teste T-student para comparação e diferença de medias; Matrizes de Correlação de Pearson para avaliar eventuais relações entre variáveis e One -Way ANOVA).
III ª Parte – Apresentação e análise dos dados obtidos
10. Análise descritiva
De acordo com FORTIN (1999),
“a análise dos dados de qualquer estudo que comporte valores numéricos começa pela utilização de estatísticas descritivas que permitem descrever as características da amostra na qual os dados foram colhidos e descrever os valores obtidos pela medida das variáveis. As estatísticas descritivas incluem as distribuições de frequências, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão”
De acordo com a mesma autora distinguem-se duas grandes categorias de estatísticas descritivas: as medidas de tendência central e as medidas de dispersão.
Entre as medidas de tendência central contam-se:
- média;
- mediana;
- moda.
· Média (X)
Segundo FORTIN (1999) “ a medida de tendência central mais usual é a média das observações, dita também, média amostral”.
· Mediana (Md)
“ A mediana é o valor que divide em dois a distribuição de uma variável, quer dizer, o valor sobre o qual se situam 50% dos sujeitos observados. A mediana é portanto um índice de tendência central baseado na frequência das respostas dos sujeitos observados” (FORTIN, 1999).
· Moda (Mo)
“A moda é o valor numérico ou o score que aparece mais frequentemente numa distribuição. (…) A moda é a medida de tendência central mais apropriada para o tratamento de dados nominais” (FORTIN, 1999).
Segundo FORTIN (1999), as medidas de dispersão ou de variabilidade são medidas das diferenças individuais entre os membros de uma amostra. As principais medidas de dispersão são:
- amplitude;
- variância;
- desvio padrão;
- coeficiente de variação.
· Amplitude
“ A maneira mais simples de medir a dispersão de uma variável contínua consiste em determinar entre que limites a variável se escalona. A diferença entre o limite inferior (o mínimo) e o limite superior (o máximo) é a amplitude da variável” (FORTIN, 1999).
· Variância
“A variância é uma medida de dispersão das observações em relação à média” (FORTIN, 1999).
· Desvio Padrão (d)
“Para uma variável contínua, a medida de dispersão mais usual é o desvio padrão” (FORTIN, 1999).
· Coeficiente de variação (C.V.)
“O coeficiente de variação permite comparar a variabilidade de duas variáveis, mesmo se elas não têm a mesma unidade de medida. (FORTIN, 1999).
De forma a caracterizar a nossa população apresentamos os dados estatísticos que se seguem de acordo com as variáveis em estudo.
Ø Idade
Apresentamos a caracterização da nossa amostra tendo em conta a idade (variável rácio).
| Idade | Freq. Absoluta | % | Validade Percentual | % Acumulada |
| 48-59 | 10 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 60-64 | 8 | 21,62 | 21,6 | 48,62 |
| 65-71 | 11 | 29,73 | 29,7 | 78,35 |
| 72-79 | 8 | 21,62 | 21,6 | 100 |
| Total | 37 | 100 | 100 | 100 |
Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo a idade
A tabela 1 descreve as frequências simples e acumuladas das idades. A frequência absoluta indica o número de vezes que a variável neste caso, a idade, se repete.
Encontramos na nossa amostra:
- dez indivíduos com idade compreendida entre 48 e 59 anos;
- oito com idade entre 60 e 64 anos;
- onze pessoas entre os 65 e 71 anos;
- oito entre 72 e 79 anos;
Por outro lado podemos concluir a partir da análise da tabela que 78,35% dos inquiridos têm até 72 anos de idade e que o intervalo de idade dos 65 aos 71 anos é o mais representativo na amostra com 29,73%. Ao contrário do intervalo de idade dos 72 aos 79 anos que é o menos representativo.
A média das idades é de 2,46 ou seja, xx anos, a mediana e a moda desta variável é de 3, que corresponde a xx anos.
A amplitude total de variação é de 31, o desvio padrão é de 1,12, o coeficiente de variação é de 45,528 o que significa que a dispersão é alta e a variância é de 1,255.
Ø Sexo
O sexo é uma variável nominal, e na nossa amostra o sexo masculino é o mais representativo com 54,1%. Ou seja, a moda corresponde ao sexo que se observa com maior frequência, logo pode-se dizer que a moda é o sexo masculino.
| Sexo | Freq. | % | Validade | % Acumulada | |
| Masculino | 20 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | |
| Feminino | 17 | 45,9 | 45,9 | 100,0 | |
| Total | 37 | 100,0 | 100,0 | ||
Tabela 2 - Distribuição da amostra segundo o sexo
Ø Local de Residência
O local de residência é uma variável nominal. O local mais representativo com 29,73% é Oliveira de Frades e o menos representativo é São Vicente de Lafões com 10,81%.
A moda correspondente então a Oliveira de Frades.
| Zona de Residência | Freq. | % | Validade Percentual | % Acumulada |
| Arcozelo das Maias | 6 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
| Oliveira de Frades | 6 | 16,22 | 16,22 | 32,44 |
| S. João da Serra | 5 | 13,51 | 13,51 | 45,95 |
| S, Vicente Lafões | 4 | 10,81 | 10,81 | 56,76 |
| Pinheiro Lafões | 11 | 29,73 | 29,73 | 86,49 |
| Ribeiradio | 5 | 13,51 | 13,51 | 100 |
| Total | 37 | 100 | 100 |
Tabela 3- Distribuição da amostra segundo zona de residência
Ø Tempo de diagnóstico da doença
| Tempo de diagnóstico | Freq. | % | Validade Percentual | % Acumulada |
| Mais de 10 anos | 16 | 43,24 | 43,24 | 43,24 |
| Menos de 10 anos | 21 | 56,76 | 56,76 | 100 |
| Total | 37 | 100 | 100 |
Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo tempo de diagnóstico da doença
Como se pode analisar pela tabela, na nossa amostra, 56,76% dos inquiridos tem Diabetes há menos de dez anos, sendo portanto o grupo representativo. Por exclusão de partes, o grupo menos representativo, com 43,24% diz respeito aos utentes com mais de dez anos de diagnóstico da doença.
Ø Idade e sexo
Relativamente à idade e ao sexo, pela análise do seguinte quadro, podemos observar que no total da nossa amostra, a maior percentagem é do sexo masculino 54,1% e que destes, 35,0% pertencem ao grupo etário 65 - 71 anos, seguindo-se 30,0% que fazem parte do grupo etário 48 - 59 anos. A menor percentagem corresponde ao sexo feminino com 45,9% destes, 35,3% corresponde ao grupo etário 60 a 64 anos.
Em relação à idade, a amplitude de variação é de 31 anos, com um desvio padrão de 1,120(em anos xx). A idade média é de 2,46 em anos xx e a moda situa-se no grupo etário dos 65 aos 71 anos.
| Sx Grupo Etário | Masculino | Feminino | Total | |||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| 48-59 | 6 | 30,0 | 4 | 23,5 | 10 | 27,0 |
| 60-64 | 2 | 10,0 | 6 | 35,3 | 8 | 21,6 |
| 65-71 | 7 | 35,0 | 4 | 23,5 | 11 | 29,7 |
| 72-79 | 5 | 25,0 | 3 | 17,6 | 8 | 21,6 |
| Total | 20 | 100 | 17 | 100 | 37 | 100 |
Quadro 1 – Distribuição dos utentes segundo grupo etário e sexo
Ø Sexo e local de residência
| Sexo L. Res. | Masculino | Feminino | Total | |||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Arc. Maias | 3 | 5,0 | 3 | 17,6 | 6 | 16,2 |
| Oliv. Frades | 2 | 10,0 | 4 | 23,5 | 6 | 16,2 |
| S. J. Serra | 3 | 5,0 | 2 | 11,8 | 5 | 13,5 |
| S. Vic. Lafoes | 3 | 5,0 | 1 | 5,9 | 4 | 10,8 |
| Pinheiro Lafões | 6 | 30,0 | 5 | 29,4 | 11 | 29,7 |
| Ribeiradio | 3 | 15,0 | 2 | 11,8 | 5 | 13,5 |
| Total | 20 | 100 | 17 | 100 | 37 | 100 |
Quadro 2 – Distribuição dos utentes segundo sexo e zona de residência
Pelo quadro podemos ver que a maioria dos inquiridos reside em Pinheiro de Lafões (29,7%), seguindo-se Arcozelo das Maias e Oliveira de Frades (16,2% respectivamente). Em último situa-se São Vicente de Lafões com 10,8%.
Em relação ao sexo masculino, 30,0% reside em Pinheiro de Lafões, seguindo-se com 15,0% cada Arcozelo das Maias, São Joao da Serra, São Vicente de Lafões e Ribeiradio. Por último temos Oliveira de Frades com 10,0% dos inquiridos.
Por sua vez, em relação ao sexo feminino, a maioria com 29,4% reside em Pinheiro de Lafões. Seguindo-se Oliveira de Frades (23,5%), Arcozelo das Maias (17,6%), São João da Serra e Ribeiradio (11,8% cada) e São Vicente de Lafões (5,9%).
Ø Sexo e tempo de diagnóstico
| Sexo T.Diag. | Masculino | Feminino | Total | |||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Mais de 10 | 11 | 55,0 | 5 | 29,41 | 16 | 100 |
| Menos de 10 | 9 | 45,0 | 12 | 70,59 | 21 | 100 |
| Total | 20 | 54,1 | 17 | 45,9 | 37 | 100 |
Quadro 3 – Distribuição dos utentes segundo sexo e tempo de diagnóstico
Ao analisar o quadro concluímos que dos vinte inquiridos do sexo masculino, 55,0% têm Diabetes há mais de 10 anos. E que 70,59% das dezassete utentes do sexo feminino têm Diabetes há menos de 10 anos.
Ø Idade e tempo de diagnóstico
| T.Diag Idade | Mais de 10 anos | Menos de 10 anos | Total | |||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| 48-59 | 3 | 18,75 | 7 | 33,33 | 10 | 27,03 |
| 60-64 | 4 | 25,0 | 4 | 19,05 | 8 | 21,62 |
| 65-71 | 6 | 37,5 | 5 | 23,81 | 11 | 29,73 |
| 72-79 | 3 | 18,75 | 5 | 23,81 | 8 | 21,62 |
| Total | 16 | 100 | 21 | 100 | 37 | 100 |
Quadro 4 – Distribuição dos utentes segundo idade e tempo de diagnóstico
Com base neste quadro podemos concluir que o grupo mais representativo em termos etários é a faixa dos 65 aos 71 anos com 29,73%. O grupo etário dos 60 aos 64 anos e o grupo dos 72 aos 79 são os menos representativos com 21,6% (cada um) da amostra.
Em relação ao grupo que tem Diabetes há mais de 10 anos, verificou-se que 37,5% destes, encontram-se na faixa etária dos 65 aos 71 anos de idade, sendo este o grupo mais representativo.
No grupo que tem Diabetes há menos de 10 anos, a maioria dos inquiridos encontra-se na faixa etária dos 48 aos 59 anos de idade (33,33%).
11. Satisfação dos utentes face às diferentes variáveis independentes
Como já foi referido anteriormente, dividimos a satisfação em três dimensões, sendo elas:
- Satisfação dos utentes face ao relacionamento com o enfermeiro na consulta de enfermagem da diabetes;
- Satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica com ele durante a consulta de enfermagem da diabetes;
- Satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz a educação para a saúde na consulta de enfermagem da Diabetes.
Neste capítulo iremos analisar, os indicadores contidos em cada dimensão, de forma a concluirmos se os utentes se encontram satisfeitos ou não.
11.1 Satisfação dos utentes face ao relacionamento com o enfermeiro na consulta de Enfermagem da Diabetes
O relacionamento Enfermeiro /Utente foi determinado pelos indicadores seleccionados: disponibilidade, interesse, atenção, ajuda e confiança. Com a questão 17 avaliou-se a confiança, com a 5 e a 6 o interesse, através da 21 a atenção, com a 11 e a 12 a ajuda e com a questão 13 o interesse.
O score correspondente a cada indicador foi o somatório da multiplicação do número de respostas pelo valor do score respectivo. O score mínimo considerado positivo do indicador correspondia ao número de score mínimo positivo (4) vezes o número de proposições. Assim para medirmos os indicadores foram atribuídos os valores abaixo referenciados aos scores da escala tipo Likert.
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Score máximo 115 | score mínimo 92 | score 69 | Score 46 | score mínimo 23 |
Começámos por analisar, no quadro 5, onde incidiram mais as respostas às questões colocadas. Em relação à disponibilidade, 91,89% dos utentes acharam que o enfermeiro está "sempre disponível" para os atender e os restantes 8,11% acham que o enfermeiro está "quase sempre" disponível. Em relação à atenção, 94,59% dos inquiridos refere que o enfermeiro está "sempre" atento; os restantes 5,41% dizem que o enfermeiro está "quase sempre" atento. No que concerne ao interesse, 89,19% dizem que o enfermeiro está "sempre" interessado e 4,05% diz que é só "às vezes" que o enfermeiro demonstra interesse. Por sua vez, em relação à ajuda, 87,84% dizem que a equipa de enfermagem está "sempre" pronta a ajudar; e dos inquiridos apenas dois referem que é só às vezes que o enfermeiro ajuda. Por fim, em relação à confiança, 83,78% dos inquiridos que se sentem "sempre" confiança no enfermeiro e os restantes 16,22% dizem que "quase sempre" sentem confiança.
Podemos concluir, tendo por base esta tabela, que em relação a todos os indicadores, a prestação do enfermeiro foi considerada "muito boa".
| Score | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total | ||||||
| Indicadores | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| Disponibilidade | 34 | 91,89 | 3 | 8,11 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 37 | 100,0 |
| Interesse | 66 | 89,19 | 5 | 6,76 | 3 | 4,05 | - | 0,00 | - | 0,00 | 74 | 100,0 |
| Atenção | 35 | 94,59 | 2 | 5,41 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 37 | 100,0 |
| Ajuda | 65 | 87,84 | 7 | 9,46 | 2 | 2,70 | - | 0,00 | - | 0,00 | 74 | 100,0 |
| Confiança | 31 | 83,78 | 6 | 16,22 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 00,0 | 37 | 100,0 |
Quadro 5 – Opinião dos utentes em função do relacionamento com os enfermeiros na consulta de enfermagem
De seguida apresentamos um quadro, com a pontuação obtida em cada indicador. É de salientar que alguns indicadores são avaliados por duas perguntas pelo que o score máximo passa a ser de 370.
| Indicadores | Observado | |
| Nº | % | |
| Confiança | 179 | 96,76 |
| Interesse | 359 | 97,03 |
| Atenção | 183 | 98,92 |
| Disponibilidade | 182 | 98,38 |
| Ajuda | 359 | 97,03 |
Quadro 6 - Score observado em relação à opinião dos utentes relativamente aos indicadores: confiança, interesse, atenção, disponibilidade e ajuda
Através do quadro podemos concluir que os utentes se encontram satisfeitos em relação a todos os indicadores avaliados nesta dimensão da satisfação, uma vez que todos os indicadores obtiveram percentagem superior a 70%.
Relativamente à importância da consulta de enfermagem, o quadro que se segue revela a opinião dos utentes nesta matéria.
| Sexo Opinião | Masculino | Feminino | Total | |||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Nada importante | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Pouco importante | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Parcialmente importante | 1 | 2,70 | - | 0,00 | 1 | 2,70 |
| Importante | 1 | 2,70 | 1 | 2,70 | 2 | 5,41 |
| Muito importante | 19 | 51,35 | 15 | 40,54 | 34 | 91,89 |
| Total | 21 | 56,76 | 16 | 43,24 | 37 | 100,00 |
Quadro 7 – Opinião dos inquiridos acerca da importância da consulta de enfermagem
Os utentes ao serem questionados sobre a importância da consulta de enfermagem, 91,89% responderam que era “muito importante”, 5,41% que é “importante” e 2,70% que é “parcialmente importante”.
Em relação aos inquiridos do sexo masculino, só um utente respondeu que a consulta de enfermagem é parcialmente importante. Os restantes inquiridos do sexo masculino responderam que é importante ou muito importante.
Relativamente às utentes do sexo feminino, só uma respondeu que a consulta de enfermagem é importante e as restantes responderam que é muito importante.
Pode-se desta forma que os inquiridos, na sua maioria, acham que a consulta de enfermagem é muito importante.
11.2 satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica com ele durante a consulta de enfermagem da diabetes
Para termos conhecimento da opinião dos inquiridos em relação a esta dimensão, utilizámos as seguintes questões: 7, 8, 9 15, 18 e 22. Para se avaliar esta dimensão da satisfação utilizou-se quatro indicadores, que são eles: informar, escutar, orientar e esclarecer dúvidas.
Através da pergunta 15 e 18 avaliamos o indicador informar; através da questão 7 o escutar; pela questão 9 e 22 o item orientar e pela pergunta 8 o indicador esclarecer dúvidas.
| Scores Indicadores | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | total | ||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Informar | 64 | 86,49 | 7 | 9,46 | 3 | 4,05 | - | 0,00 | - | 0,00 | 74 | 100,0 |
| Escutar | 36 | 97,30 | 1 | 2,70 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 37 | 100,0 |
| Orientar | 61 | 82,43 | 12 | 16,22 | 1 | 1,35 | - | 0,00 | - | 0,00 | 74 | 100,0 |
| Esclarecer dúvidas | 32 | 86,49 | 4 | 10,81 | 1 | 2,70 | - | 0,00 | - | 0,00 | 37 | 100,0 |
Quadro 8 – Opinião dos utentes em função da forma como o enfermeiro comunica com ele
De acordo com este quadro, podemos concluir que em relação ao indicador informar, 86,49% dos utentes responderam que o enfermeiro informava “sempre” o que ia fazer e a evolução da doença. E apenas 4,05% responderam que o enfermeiro só “ás vezes” é que informava.
Em relação ao indicador escutar, 97,30% responderam que o enfermeiro está sempre pronto a escutar o utente; e apenas um utentes respondeu que o enfermeiro só o escutava “ás vezes”.
No que diz respeito ao indicador orientar, 82,43% dizem que a orientação é “sempre” feita e 1,35% responde que só “ás vezes” é orientado.
No que concerne ao indicador esclarecer dúvidas 86,49% diz que as suas dúvidas são “sempre” esclarecidas. Por outro lado, 2,70% dos inquiridos respondeu que só “ás vezes” as suas dúvidas eram esclarecidas.
Como definimos que acima de 70% haveria satisfação, pode-se concluir que os utentes em relação a todos os indicadores e portanto em relação a esta dimensão encontram-se satisfeitos.
Na análise do quadro seguinte, constata-se que no indicador esclarecer dúvidas obteve-se uma pontuação de 96,75%. Em relação aos indicadores escutar e orientar obteve-se 99,45% e 96,21% respectivamente. Por último em relação ao indicador informar obteve-se 96,48%.
Pode-se então concluir que em relação a todos os indicadores, os utentes encontram-se satisfeitos, uma vez que a pontuação de todos os indicadores está acima de 70%.
| Score Indicadores | Observado | |
| Nº | % | |
| Esclarecer dúvidas | 179 | 96,75 |
| Escutar | 184 | 99,45 |
| Orientar | 356 | 96,21 |
| Informar | 357 | 96,48 |
Quadro 9 - Score observado em relação à opinião dos utentes em função dos indicadores: esclarecer dúvidas, escutar, orientar e informar
11.3 satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz a educação para a saúde na consulta de enfermagem da Diabetes
A importância dada à maneira como o enfermeiro realiza a educação para a saúde foi avaliada pelos seguintes indicadores: importância dos conhecimentos transmitidos, nas questões 10,19,23 e 25, e eficácia da comunicação nas questões 14 e 16.
Através do quadro seguinte, concluímos que 93,24% dos inquiridos em relação ao indicador “importância dos conhecimentos transmitidos” respondeu que estes eram “muito importantes”. Em contrapartida, em relação ao mesmo indicador, 3,37% respondeu que eram “parcialmente importantes”.
No que diz respeito ao indicador eficácia da comunicação, 87,83% respondeu muito importante/sempre, e 4,05% respondeu parcialmente importante/ás vezes.
| Score Indicadores | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total | ||||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Importância dos conhecimentos | 138 | 93,24 | 5 | 3,37 | 5 | 3,37 | - | 0,00 | - | 0,00 | 148 | 100,0 |
| Eficácia da comunicação | 65 | 87,83 | 6 | 8,10 | 3 | 4,05 | - | 0,00 | - | 0,00 | 74 | 100,0 |
Quadro 10 - Opinião dos utentes em relação à maneira como o enfermeiro realiza a educação para a saúde na consulta de enfermagem
Pela análise do quadro seguinte, pode-se observar que no indicador “importância dos conhecimentos transmitidos” obteve-se uma pontuação de 735, que corresponde a 97,97%. Em relação ao indicador “eficácia da comunicação” obteve-se uma pontuação de 358, que equivale a 96,76%.
| Score Indicadores | Observado | |
| Nº | % | |
| Importância dos conhecimentos transmitidos | 725 | 97,97 |
| Eficácia da comunicação | 358 | 96,76 |
Quadro 11 - Score observado em relação à opinião dos utentes em função dos indicadores
12. verificação de hipoteses
Apresentados os resultados obtidos pela aplicação do instrumento de colheita de dados, passamos à interpretação dos resultados dos testes de hipóteses.
HA – Há relação entre as variáveis sociodemográficas e a satisfação dos utentes na consulta de Enfermagem da diabetes
HA1 – Existe relação entre a idade e a satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes
Para testar esta hipótese utilizamos a correlação de Pearson de forma a podermos identificar a força e o sentido das diferentes dimensões da satisfação do qual obtivemos os seguintes resultados:
| Dimensões da satisfação | X | s | R | R2 | P |
Relacionamento | 34,11 | 1,62 | -0,16 | 0,02 | 0,32 |
| Comunicação | 29,08 | 1,25 | 0,09 | 0,00 | 0,59 |
| Educação para a Saúde | 40,38 | 3,15 | -0,19 | 0,03 | 0,25 |
Tabela 5 – Correlação de Pearson aplicada à idade e às dimensões da satisfação
Tendo em conta a tabela podemos verificar que a idade explica em 2% a sua influência na satisfação dos utentes face ao relacionamento com o enfermeiro na consulta da diabetes e em 0% a sua influência na satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica bem como na satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz educação para a saúde na mesma consulta.
Entre a idade e a satisfação com o relacionamento e a educação para a saúde existem correlações negativas, o que significa que quanto mais novo é o utente, maior é o nível de satisfação nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde.
Por outro lado, entre a idade e a satisfação com a dimensão da comunicação existe uma correlação positiva, ou seja, quanto mais velho for o utente maior é a satisfação com a dimensão da comunicação.
Por convenção diz-se que as correlações entre idade e qualquer uma das dimensões é muito baixa.
As diferenças não são estatisticamente significativas na relação entre idade e qualquer uma das dimensões da satisfação (p>0,05).
Para verificar o efeito da variável independente (idade) na variável dependente (satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes) aplicamos o teste One-Way ANOVA.
| Idade Dimensões da Satisfação | 48-59 | 60-64 | 65-71 | 72-79 | F | p | ||||
| X | s | X | s | X | s | X | σ | |||
Relacionamento | 34,60 | 0,69 | 34,00 | 1,77 | 33,91 | 1,51 | 33,88 | 2,47 | 0,40 | 0,75 |
| Comunicação | 28,90 | 1,85 | 29 | 1,06 | 29,27 | 1,19 | 29,13 | 0,64 | 0,15 | 0,92 |
| Educação para a Saúde | 41,10 | 1,79 | 41,50 | 2,07 | 39 | 4,35 | 40,25 | 3,24 | 1,23 | 0,31 |
Tabela 6 – One-Way ANOVA aplicado à idade e às dimensões da satisfação
Tendo por base a tabela acima descrita pode-se dizer que relativamente ao relacionamento enfermeiro/utente, o grupo etário compreendido entre os 48-59 anos tem um nível de satisfação mais elevado. Por outro lado, no que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, os utentes mais satisfeitos são aqueles com idades compreendidas entre os 65-71 anos. Por fim, em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos com idades entre os 60-64 anos são os mais satisfeitos. O valor de F não é significativo (porque é superior a 0,05), o que nos indica que não há relação entre as dimensões da satisfação e a idade.
Podemos então afirmar que rejeitamos a hipótese formulada em todas as dimensões da satisfação, pois p>0,05.
HA2 – Há relação entre o sexo e a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
Para análise desta hipótese recorremos ao Teste T de Student de forma a comparar as médias do grupo de indivíduos do sexo feminino e do grupo de indivíduos do sexo masculino relativamente à satisfação dos utentes nas várias dimensões, cujos valores se apresentam:
| Sexo Dimensões da Satisfação | Masculino | Feminino | Levene (P) Sig | t | p (Sig2-tailed) | ||
| X | s | X | s | ||||
| Relacionamento | 34,35 | 1,63 | 33,82 | 1,62 | 0,58 | -0,97 | 0,33 |
| Comunicação | 29,35 | 1,13 | 28,76 | 1,34 | 0,12 | -1,43 | 0,16 |
| Educação para a Saúde | 41,25 | 1,86 | 39,35 | 4,03 | 0,03 | -1,78 | 0,08 |
Tabela 7 – Teste T de Student para comparar médias entre o sexo e as dimensões da satisfação.
De acordo com a tabela acima apresentada, verificamos que em termos gerais, os utentes do sexo masculino estão mais satisfeitos do que os do sexo feminino. As variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis. Relativamente à educação para a saúde, isto não se verifica, pode-se dizer que existem diferenças estatisticamente significativas.
Verifica-se que apesar dos utentes do sexo masculino estarem mais satisfeitos nas dimensões do relacionamento e comunicação enfermeiro/utente, esta diferença não é estatisticamente significativa, pois p>0,05. Ao contrário do que acontece com a satisfação relativamente à educação para a saúde, em que as diferenças são estatisticamente significativas porque p<0,05.
Face aos resultados confirma-se parcialmente a hipótese no que diz respeito à satisfação com a educação para a saúde, o mesmo não se pode afirmar em relação à satisfação na comunicação e relacionamento enfermeiro/utente.
HA3 – Há relação entre o local de residência e a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
Para verificar o efeito da variável independente (Local de Residência) na váriavel dependente, utilizamos o teste One-Way ANOVA, cujos valores estão representados na tabela que se segue, com a respectiva interpretação.
| Local de Residência Dimensões da Satisfação | Arcozelo das Maias | Oliveira de Frades | São Jõao da Serra | S.V. Lafões | Pinheiro Lafões | Ribeiradio | F | p | ||||||
| X | s | X | s | X | s | X | s | X | s | X | s | |||
| Relacionamento | 34,67 | 0,81 | 33,83 | 2,04 | 34,20 | 0,83 | 32,75 | 3,30 | 34,09 | 1,51 | 34,80 | 0,44 | 0,90 | 0,49 |
| Comunicação | 29,50 | 0,54 | 28,67 | 1,03 | 29,20 | 1,30 | 29,75 | 0,50 | 28,73 | 1,84 | 29,20 | 0,83 | 0,65 | 0,66 |
| Educação para a Saúde | 41,17 | 1,47 | 38,83 | 2,71 | 41,00 | 1,58 | 43,75 | 0,95 | 39,82 | 4,11 | 39,20 | 3,63 | 1,66 | 0,17 |
Tabela 8 – One-Way ANOVA aplicado ao Local de Residência e às dimensões da satisfação
Analisando a tabela 8, pode-se dizer que relativamente ao relacionamento enfermeiro/utente, os utentes diabéticos pertencentes à localidade de Ribeiradio têm um nível de satisfação mais elevado. Em contrapartida, os utentes de São Vicente de Lafões são os menos satisfeitos nesta dimensão.
Por outro lado, no que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, os utentes mais satisfeitos são os pertencentes a São Vicente de Lafões, seguidos dos utentes habitantes em Pinheiro de Lafões. Os utentes diabéticos de Oliveira de Frades são os menos satisfeitos nesta área.
Por fim, em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos de São Vicente de Lafões, são os mais satisfeitos e os utentes menos satisfeitos são os de Oliveira de Frades.
O valor de F não é significativo (porque é superior a 0,05), o que nos indica que não há relação entre as dimensões da satisfação e o local de residência.
Estes resultados levam-nos a rejeitar a hipótese formulada.
HB – EXISTE RELAÇÃO entre a variáveL cLÍNICA e a sATISFAÇÃO DOS UTENTES NA CONSULTA DE ENFERMAGEM DA DIABETES
HB1 - Há relação entre o tempo de diagnóstico da doença e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
Para análise desta hipótese recorremos ao Teste T de Student de forma a comparar as médias dos dois grupos de indivíduos.
| Tempo de Diagnóstico Dimensões da Satisfação | +10 anos | - 10 anos | Levene (P) Sig | t | p (Sig2-tailed) | ||
| X | s | X | s | ||||
| Relacionamento | 34,00 | 2,06 | 34,19 | 1,25 | 0,25 | -0,34 | 0,73 |
| Comunicação | 29,25 | 0,85 | 28,95 | 1,49 | 0,09 | 0,70 | 0,48 |
| Educação para a Saúde | 40,31 | 2,44 | 40,43 | 3,66 | 0,47 | -0.10 | 0,91 |
Tabela 9 – Teste T de Student para comparar médias entre o tempo de diagnóstico da doença e as dimensões da satisfação.
Face aos resultados da tabela 9, verificamos que em termos gerais, os utentes com tempo de diagnóstico da doença de menos de dez anos estão mais satisfeitos do que aqueles com tempo de diagnóstico da doença superior a dez anos. Apenas na dimensão da satisfação com a comunicação enfermeiro/utente os utentes que têm a doença diagnosticada há mais de dez anos estão mais satisfeitos que o outro grupo em questão.
As variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente, bem como da educação para a saúde são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis.
Verifica-se que apesar dos utentes que têm a doença diagnosticada há menos de dez anos estarem mais satisfeitos nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde, esta diferença não é estatisticamente significativa, pois p>0,05, o mesmo acontece relativamente aos utentes que possuem a doença há mais de dez anos estarem mais satisfeitos na dimensão da comunicação. Esta diferença também não é estatisticamente significativa porque p>0,05.
Perante tais resultados, rejeitamos a hipótese formulada.
13. discussao dos dados obtidos
Durante o processo de recolha, tratamento e análise dos dados, obtivemos resultados, que importa agora discutir, comentar e interpretar.
Gil (1995) refere que “Discussão é a generalização dos resultados obtidos pela análise”, acrescentando ainda, que na discussão se elaborarão “ (…) inferências e generalizações cabíveis, com base nos resultados alcançados”.
Para tal, baseámo-nos essencialmente nos resultados obtidos através da análise. Os dados serão abordados tendo por base a sequência lógica da análise e tratamento de dados. Iniciamos assim, pela caracterização da amostra, seguindo-se da descrição dos resultados dos teste de hipóteses.
A amostra deste estudo é constituída como referimos anteriormente, por 37 diabéticos tipo2 residentes no concelho de Oliveira de Frades.
Os dados sociodemográficos caracterizadores da amostra, revelam desigualdade na repartição dos sexos, já que 54,1% dos diabéticos são do sexo masculino e 45,9% do sexo feminino.
Relativamente à idade, o grupo mais representativo é aquele em que a idade está compreendida entre 65-71anos com 29,73%. Por outro lado com a percentagem de 21,62% temos os grupos menos representativos cujas idades estão compreendidas entre 60-64 anos e entre 72-79anos. É de salientar que 73% da nossa amostra tem mais de 60 anos.
Segundo LISBOA e DUARTE (1996), “A diabetes não insulino – dependente, surge essencialmente na idade adulta, aumentando a sua incidência proporcionalmente à idade”. Pela análise dos resultados obtidos tal não se verifica pois o grupo etário dos 72 aos 79 anos é menos representativo que o dos 65 aos 71 anos de idade.
Em relação a zona de residência, o local mais representativo com 29,73% é Oliveira de Frades e o menos representativo é São Vicente de Lafões com 10,81%.
No que diz respeito ao tempo de diagnóstico da doença, 56,76% dos inquiridos tem diabetes há menos de dez anos, sendo portanto o grupo representativo. O grupo menos representativo é portanto o grupo dos utentes com diabetes há mais de dez anos com 43,24%.
Perante este resultado debruçámo-nos sobre algumas variáveis independentes, que influenciam a variável dependente. Foram assim testadas hipóteses, para a determinação do grau de associação entre as variáveis: relação entre as variáveis sociodemográficas e satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes; relação entre a variável clínica e a satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes.
Assim sendo, em relação à hipótese A (Há relação entre as variáveis sociodemográficas e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes), nomeadamente em relação à sub – hipótese:
ü HA1 – Há relação entre a idade e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
A idade explica em 2% a sua influência na satisfação dos utentes face ao relacionamento com o enfermeiro na consulta da diabetes e em 0% a sua influência na satisfação dos utentes face à forma como o enfermeiro comunica bem como na satisfação dos utentes em relação à forma como o enfermeiro faz educação para a saúde na mesma consulta.
Entre a idade e a satisfação com o relacionamento e a educação para a saúde existem correlações negativas, o que significa que quanto mais novo é o utente, maior é o nível de satisfação nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde. Tais resultados vão de encontro com aquilo que esperávamos, pois os utentes mais novos têm uma maior capacidade para entenderem determinadas coisas bem como em certos casos melhores capacidades relacionais.
Por outro lado, entre a idade e a satisfação com a dimensão da comunicação existe uma correlação positiva, ou seja, quanto mais velho for o utente maior é a satisfação com a dimensão da comunicação.
Por convenção diz-se que as correlações entre idade e qualquer uma das dimensões é muito baixa.
As diferenças não são estatisticamente significativas na relação entre idade e qualquer uma das dimensões da satisfação (p>0,05).
Os utentes mais satisfeitos, no que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, são aqueles com idades compreendidas entre os 65-71 anos. Por fim, em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos com idades entre os 60-64 anos são os mais satisfeitos.
Os nossos resultados levam-nos a rejeitar a hipótese. Podemos então afirmar que rejeitamos a hipótese formulada em todas as dimensões da satisfação, pois p>0,05.
ü HA2 – Existe relação entre o sexo e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
Relativamente ao sexo, verificamos que em termos gerais, os utentes do sexo masculino estão mais satisfeitos do que os do sexo feminino. As variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis. Relativamente à educação para a saúde, isto não se verifica, pode-se dizer que existem diferenças estatisticamente significativas.
Face aos resultados, foi confirmada parcialmente a hipótese no que diz respeito à satisfação com a educação para a saúde, o mesmo não se pode afirmar em relação à satisfação na comunicação e relacionamento enfermeiro/utente.
Podemos afirmar que no nosso estudo há relação entre o sexo e a satisfação com a educação para a saúde dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes.
ü HA3 – Há relação entre o local de residência e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes
No que diz respeito ao local de residência, na dimensão do relacionamento enfermeiro/utente, os utentes diabéticos pertencentes à localidade de Ribeiradio têm um nível de satisfação mais elevado. Em contrapartida, os utentes de São Vicente de Lafões são os menos satisfeitos nesta dimensão.
Por outro lado, no que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, os utentes mais satisfeitos são os pertencentes a São Vicente de Lafões, seguidos dos utentes habitantes em Pinheiro de Lafões. Os utentes diabéticos de Oliveira de Frades são os menos satisfeitos nesta área.
Em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos de São Vicente de Lafões, são os mais satisfeitos e os utentes menos satisfeitos são os de Oliveira de Frades.
Não há relação entre as dimensões da satisfação e o local de residência. A hipótese foi rejeitada na sua totalidade.
Em relação à hipótese B (Existe relação entre a variável clínica e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes), nomeadamente em relação à sub – hipótese:
ü HB1 – Há relação entre o tempo de diagnóstico da doença e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes.
Em termos gerais, os utentes com tempo de diagnóstico da doença de menos de dez anos estão mais satisfeitos do que aqueles com tempo de diagnóstico da doença superior a dez anos. Apenas na dimensão da satisfação com a comunicação enfermeiro/utente os utentes que têm a doença diagnosticada há mais de dez anos estão mais satisfeitos que o outro grupo em questão.
Apesar destes resultados não há diferenças estatisticamente significativas, a hipótese foi rejeitada em todas as dimensões.
14. CONCLUSÕES E SUGESTÕES
A Diabetes é uma doença crónica com inúmeras complicações bastante incapacitantes, pelo que merece especial atenção.
Esta doença caracteriza-se por variações amplas e até certo ponto imprevisíveis da glicémia. Factores da vida diária como a alimentação, a actividade física e a medicação, contribuem para esta variação.
Os avanços tecnológicos permitem, hoje, o autocontrole glicémico que exige educação e vigilância ao longo dos anos, condição necessária para protelar ao máximo ou detectar precocemente as complicações evolutivas da doença.
Não é ousado da nossa parte, dizer que os objectivos definidos inicialmente foram atingidos, mas será bom lembrar que a sua plenitude só foi conseguida através da análise crítica da pesquisa efectuada bem como os resultados obtidos.
O estudo que acabamos de levar a cabo permitiu-nos obter um conjunto de resultados que relacionam a satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes com as variáveis em estudo (sociodemográficas e clínicas).
De forma sintética referimos os principais resultados por nós obtidos:
- Verifica-se uma maior frequência no sexo masculino (54,1%) relativamente ao sexo feminino (45,9%). A média de idades é de xxxxxxx para o sexo masculino e xxxxx anos no sexo feminino;
- O grupo etário de maior frequência é o dos 65-71 anos num total de 29,73% e os grupos etários de menor frequência são os de 60-64 e 72-79 anos com uma percentagem de 21,62 cada;
- Em relação ao local de residência, verificou-se que o grupo representativo reside em Pinheiro de Lafões (29,73%) e o menos representativo com 10,81% diz respeito aos utentes residentes em São Vicente de Lafões;
- Relativamente ao tempo de diagnóstico da doença, verificou-se que a maioria com 56,76% tem diabetes há menos de dez anos;
Por sua vez, tendo por base a análise inferencial foi possível tirar as conclusões que se seguem:
· Em relação à hipótese: Existe relação entre a idade e a satisfação dos utentes na consulta de enfermagem da diabetes:
- Entre a idade e a satisfação com o relacionamento e a educação para a saúde existem correlações negativas, o que significa que quanto mais novo é o utente, maior é o nível de satisfação nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde.
- Por outro lado, entre a idade e a satisfação com a dimensão da comunicação existe uma correlação positiva, ou seja, quanto mais velho for o utente maior é a satisfação com a dimensão da comunicação.
- Por convenção diz-se que a correlação entre idade e qualquer uma das dimensões é muito baixa.
- As diferenças não são estatisticamente significativas na relação entre idade e qualquer uma das dimensões da satisfação (p>0,05).
- Relativamente ao relacionamento enfermeiro/utente, o grupo etário compreendido entre os 48-59 anos tem um nível de satisfação mais elevado.
- Por outro lado, no que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, os utentes mais satisfeitos são aqueles com idades compreendidas entre os 65-71 anos.
- Em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos com idades entre os 60-64 anos são os mais satisfeitos.
· Em relação à hipótese: Há relação entre o sexo e a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes:
- Os utentes do sexo masculino estão mais satisfeitos do que os do sexo feminino.
- As variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis.
- Relativamente à educação para a saúde, isto não se verifica, pode-se dizer que existem diferenças estatisticamente significativas.
- Verifica-se que apesar dos utentes do sexo masculino estarem mais satisfeitos nas dimensões do relacionamento e comunicação enfermeiro/utente, esta diferença não é estatisticamente significativa, pois p>0,05.
- Ao contrário do que acontece com a satisfação relativamente à educação para a saúde, em que as diferenças são estatisticamente significativas porque p<0,05.
· Em relação à hipótese: Há relação entre o local de residência e a Satisfação dos Utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes:
- Os utentes diabéticos, na dimensão do relacionamento enfermeiro/utente, pertencentes à localidade de Ribeiradio têm um nível de satisfação mais elevado.
- Os utentes de São Vicente de Lafões são os menos satisfeitos nesta dimensão.
- No que diz respeito à comunicação enfermeiro/utente, os utentes mais satisfeitos são os pertencentes a São Vicente de Lafões, seguidos dos utentes habitantes em Pinheiro de Lafões.
- Os utentes diabéticos de Oliveira de Frades são os menos satisfeitos nesta área.
- Em termos de satisfação face à educação para a saúde os indivíduos de São Vicente de Lafões são os mais satisfeitos e os utentes menos satisfeitos são os de Oliveira de Frades.
- O valor de F não é significativo (porque é superior a 0,05), o que nos indica que não há relação entre as dimensões da satisfação e a idade.
· Em relação há hipótese: Há relação entre o tempo de diagnóstico da doença e a Satisfação dos utentes na Consulta de Enfermagem da Diabetes:
- Em termos gerais, os utentes com tempo de diagnóstico da doença de menos de dez anos estão mais satisfeitos do que aqueles com tempo de diagnóstico da doença superior a dez anos.
- Apenas na dimensão da satisfação com a comunicação enfermeiro/utente os utentes que têm a doença diagnosticada há mais de dez anos estão mais satisfeitos que o outro grupo em questão.
- As variâncias do relacionamento e da comunicação enfermeiro/ utente, bem como da educação para a saúde são homogéneas, o que significa que não há diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis.
- Verifica-se que apesar dos utentes que têm a doença diagnosticada há menos de dez anos estarem mais satisfeitos nas dimensões do relacionamento e educação para a saúde, esta diferença não é estatisticamente significativa, pois p>0,05.
- O mesmo acontece, relativamente aos utentes que possuem a doença há mais de dez anos estarem mais satisfeitos na dimensão da comunicação. Esta diferença também não é estatisticamente significativa porque p>0,05.
Embora a maior parte das hipóteses formuladas não se confirmem, deixa-nos satisfeitas, pois significa que não há relação entre as variáveis independentes e a satisfação. Ou seja, qualquer diabético, independentemente do sexo, idade, local de residência e tempo de diagnóstico da doença, encontra-se, em termos gerais, satisfeito com a consulta de enfermagem da diabetes.
Não poderíamos deixar passar este momento sem podermos contribuir, com algumas sugestões pertinentes, no sentido das mesmas poderem elevar a qualidade de vida da nossa sociedade, nomeadamente dos utentes a frequentar a consulta de enfermagem da Diabetes. Deste modo, consideramos que seja pertinente investir em informação escrita (por exemplo panfletos), que esteja disponível para os utentes levarem para o domicílio. No estudo efectuado, concluiu-se que muitos utentes sentem necessidade de ter informação escrita sobre a sua doença.
Outra conclusão a que chegámos, através de “desabafos” dos inquiridos, é que o número anual de consultas de enfermagem deveria aumentar. Os utentes sentem-se descontentes, com o reduzido número de consultas de enfermagem da diabetes por ano.
Para terminar, diremos que nos sentimos gratificadas com o trabalho executado, estimulou o nosso espírito de pesquisa, assim como nos incentiva na realização de futuros trabalhos, esperando contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde.