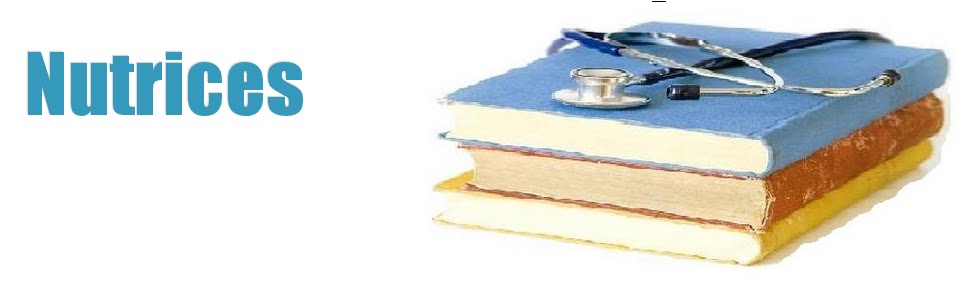O envelhecimento da população é um fenómeno de amplitude Mundial, a OMS prevê que em 2025 existirão 1,2 milhões de pessoas idosas com mais de 60 anos, sendo que os muito idosos (com 80 e mais anos) constituem o grupo etário de maior crescimento (OMS, 2001).
Portugal não é excepção a este panorama. De acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística) entre 1960 e 1998 o envelhecimento da população Portuguesa traduziu-se por um decréscimo da população jovem e um aumento de 114,4% da população com 65 e mais anos. De referir que o crescimento não é homogéneo, pois é o grupo dos 75 e mais anos que cresce segundo taxas superiores.
O maior desafio do séc. XXI será cuidar de uma população com mais de 32 milhões de idosos, a maioria com nível socio-económico e educacional baixos e uma prevalência de doenças crónicas e incapacitantes.
A principal fonte de suporte para essa faixa etária ainda é a família. Contudo, para além das limitações financeiras para aderir aos múltiplos tratamentos, a disponibilidade de suporte familiar para o idoso
dependente deverá decair marcadamente em face da diminuição do tamanho da família, o aumento do número de pessoas atingindo idades avançadas e a crescente incorporação da mulher – principal prestadora de cuidados – no mercado de trabalho fora do domicílio.

Perante estes factos importa pois desenvolver meios para melhor atender às dificuldades do crescente grupo de idosos. No entanto, para alcançar este objectivo é necessários ter alguns conhecimentos teóricos sobre os Idosos e os Prestadores de cuidados.
Sendo o Enfermeiro um prestador de cuidados, é bastante pertinente o desenvolvimento deste trabalho no âmbito da disciplina de Saúde Comunitária III, inserida no 4º ano/ 8º semestre do Curso de Licenciatura em Enfermagem.
Para melhor compreensão, este trabalho encontra-se dividido em capítulos distintos abordando temáticas como: o Envelhecimento, o Idoso – abordagem global, as Alterações fisiológicas e psicológicas no Idoso, os Prestadores de cuidados, e a Visita domiciliária.
Face à proposta referida, foram delineados os seguintes objectivos:
· Caracterizar o envelhecimento numa perspectiva global;
· Caracterizar o envelhecimento em Portugal;
· Distinguir Gerontologia e Geriatria;
· Caracterizar a população idosa;
· Apresentar as principais alterações fisiológicas e psicológicas no idoso;
· Caracterizar os prestadores de cuidados formais;
· Caracterizar os prestadores de cuidados informais;
· Demonstrar a necessidade de cuidados formais;
· Caracterizar a visita domiciliária;
· Evidenciar a importância da visita domiciliária;
Este trabalho tem como finalidade prática:
· Elaborar um instrumento de colheita de dados para determinar as necessidades da população idosa.
· Obter dados sobre o grau de necessidades da população idosa;
· Determinar com a 1ª consulta domiciliaria a necessidades de cuidados domiciliários;
· Adquirir dados pertinentes de modo a adaptar o nº de enfermeiros às necessidades de visitação domiciliária.
· Adquirir em contexto teórico material de suporte para o ensino clínico;
Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas diferentes áreas abordadas, e procedemos à elaboração de um formulário. Este deve permitir recolher dados objectivos da população idosa para que as estratégias que visam satisfazer as suas necessidades sejam as mais adequadas.
2- ENVELHECIMENTO
O envelhecimento é um processo fisiológico que não ocorre necessariamente em paralelo com a idade cronológica e que apresenta uma considerável variação individual (Matsudo, 1993). Este processo não se reflecte apenas nos movimentos da vida de todos os dias, mas também à capacidade mental necessária para efectuar as tarefas quotidianas (Ladislas, 1994).
Para Erminda (1999), envelhecer é uma característica de todas as formas de vida. Sendo impossível alterar ou evitar este facto. Define envelhecimento como “um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrendo de acidente ou doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo”, isto é, não é uma doença embora seja agravado ou acelerado pela doença.
Spirduso (1995), define envelhecimento como o processo ou grupo de processos, que ocorrem nos organismos vivos e que com a passagem do tempo levam a uma perda de adaptabilidade, danos funcionais e eventualmente à morte, podendo desta forma entender-se como uma extensão dos processos de crescimento e desenvolvimento (Rodergs, 1996 cit. in Oliveira & Rabelo, 2003 In Dantas, 2003).
2.1- ENVELHECIMENTO EM PORTUGAL
Portugal, tal como outros países da Europa do Sul, aceleraram recentemente o processo do envelhecimento, como resultado da baixa fecundidade e do aumento da longevidade. Estudos efectuados apontam para uma superioridade numérica das pessoas idosas, em comparação com o número de jovens.
Durante algum tempo, considerou-se que a causa do envelhecimento residia essencialmente na baixa da mortalidade. Contudo, hoje reconhece-se que o declínio da fecundidade e os fluxos migratórios, internos e externos, têm um papel essencial no processo de envelhecimento.
Em Portugal, a proporção de pessoas com 65 ou mais anos duplicou nos últimos quarenta anos, passando de 8% em 1960, para 11% em 1981, 14% em 1991 e 16% em 2001, estimando-se que esta proporção volte a duplicar nos próximos 50 anos (Instituto nacional de estatística, 2004).
A população idosa residente estimada em 1.709.099 de pessoas, que representa 16,5% da população, apresentará uma distribuição geográfica caracterizada por um envelhecimento do interior face ao litoral, além disso, a esperança média de vida à nascença em Portugal, é de 80,3 anos para as mulheres e 73,5 para os homens.
O processo de envelhecimento demográfico que estamos a viver, associado às mudanças verificadas na estrutura e comportamentos sociais e familiares, determinará nos próximos anos, novas necessidades em saúde, lançando desafios aos sistemas de saúde no que se refere não só a garantia de acessibilidade e qualidade dos cuidados como à sustentabilidade dos próprios sistemas e exigindo que ao aumento de esperança de vida à nascença corresponda um aumento da esperança de vida com saúde e com qualidade (Plano nacional de saúde para pessoas idosas, Direcção Geral da Saúde, 2004).
2.2- GERIATRIA E GERONTOLOGIA
A gerontologia é um campo de estudos interdisciplinar que investiga os fenómenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados com o envelhecimento do ser humano. É um campo de estudo que tem como objectivo o estudo dos processos associados ao aumento da idade, desde o jovem adulto até a idades avançadas, que normalmente são conhecidas pela designação geral de envelhecimento (ALVES, 1996).
A geriatria é o ramo da medicina (especialidade) associado ao estudo, prevenção e tratamento das doenças e da incapacidade em idades avançadas (ALVES, 1996).
O grande objectivo da geriatria e da Gerontologia é garantir maior longevidade com qualidade de vida.
· Geriatria preventiva primária:
Segundo FREITAS [et al] (2002) este conceito engloba o controlo e a adequação de variáveis relacionadas ao estilo de vida do indivíduo e da população:
- Nutrição: evidências científicas demonstram que o balanço nutricional, tanto da ingestão calórica como da qualidade dos nutrientes e do tipo de alimentos, exerce uma influência fundamental na evolução e estabelecimento de doenças degenerativas. Dieta saudável significa prevenção geriátrica primária;
- Actividade física: a prática de exercícios regulares, como caminhadas, leva à diminuição dos factores de risco e morbidade, como as doenças cardiovasculares, neoplasias, etc.
- Repouso: é fundamental no processo de manutenção da saúde.
- Controlo da obesidade: esta é uma condição biológica que serve como alavanca para que se originem disfunções e morbilidades associadas à idade;
- Tabagismo: o fumo está, incontestavelmente, associado a morbidade e mortalidade.
· Geriatria preventiva secundária:
A geriatria preventiva secundária diz respeito ao diagnóstico e tratamento precoce de disfunções e morbilidades a nível crónico e degenerativo. Assim, a acção principal deste tipo de prevenção é o estabelecimento de revisões anuais que contribuam para a detecção precoce de doenças crónicas e degenerativas (FREITAS [et al], 2002).
· Geriatria preventiva terciária:
Esta, visa prevenir indivíduos que já apresentam quadros de doenças. Os indivíduos afectados por doenças como neoplasias ou coronariopatias, o médico e o sistema de saúde precisam de adoptar programas de reeducação de estilo de vida e de prevenção que garantam a estabilização da saúde do paciente (FREITAS [et al], 2002).
A adopção de estratégias preventivas, como é o caso da nutrição e da actividade física, diminui dramaticamente o impacto do perfil genético, ou seja, a geriatria preventiva é capaz de diminuir o impacto dos factores genéticos de propensão de doenças. Assim, está nas nossas mãos a escolha do nosso envelhecimento e do envelhecimento da população: teremos que escolher se queremos ser idosos doentes e dependentes ou idosos saudáveis, activos e com alta qualidade de vida (FREITAS [et al], 2002).
Cada uma destas estratégias preventivas na geriatria é cumulativa, ou seja, iniciamos durante a fase jovem com a geriatria preventiva primária, adoptamos a geriatria preventiva secundária quando os indivíduos atingem idade de risco e utilizamos a geriatria preventiva terciária como estratégia de manutenção e qualidade de vida quando os mesmos se tornam doentes (FREITAS [et al], 2002).
3- IDOSO
A definição de ser idoso não passa apenas pelo factor idade, definido em anos de vida, antes implica um enorme conjunto de alterações a nível biológico, psicológico e social que determinam a natureza e a rapidez do processo de envelhecimento (AIKEN, 1989 cit. In Costa, 2003).
Contudo, idoso define-se como todos os seres humanos com idade igual ou superior a 65 anos.
Num primeiro momento a velhice é encarada como uma bênção divina, uma recompensa aqueles que souberam ter uma vida feliz e correcta.
Consoante as características socais, políticas e também as económicas das sociedades com o passar dos tempos, assim se oscila entre olhares positivos e negativos sobre a velhice. Impõem-se novas regras, acabando o idoso por perder o seu estatuto de chefe, de guardião de saberes e tradições, não lhe sendo negado a sua experiência, mas em matéria de conhecimentos, é ultrapassado pelos mais novos. Deste modo, o ser idoso significa perder a sua função, o seu estatuto, o seu “veículo” de organização pessoal e integração social (COSTA, 2003).
De acordo com a mesma autora, as sociedades modernas tendem atribuir pouco valor aos mais velhos, pessoas que têm frequentemente grande trabalho produzido nas suas áreas de conhecimento e especialização, pretendendo estes a continuar a ser úteis. Contudo por um critério de estatuto, de reforma ou de idade superior a 65 anos na maior parte dos casos, o indivíduo é considerado na velhice.
Assiste-se então a uma concepção e reorganização da gestão da velhice, que deixa de ser percepcionada como uma incapacidade para trabalhar, passando a ser encarada como uma nova fase de vida, com capacidade e necessidade de actividade e autonomia. Surge como relevo a noção de participação, em detrimento das de dependência e passividade.
Fisiologicamente, o envelhecimento é um fenómeno contínuo e progressivo que, a certos níveis, começa muito cedo, antes mesmo do nascimento. Contudo, o nosso espírito tem dificuldade em entender os fenómenos em evolução permanente.
A velhice constitui um momento biológico da existência de todos os organismos superiores e sexuados, ao mesmo nível que a fecundação, nascimento, etc., sendo a velhice e a morte os dois tempos que concluem esta sequência.
O velho tem a pele enrugada, a musculatura reduzida, os cabelos brancos ou inexistentes, as costas encurvadas, gestos lentos e difíceis, vista e ouvido com menor acuidade e, por outro lado, cansa-se depressa, dorme mal e perde a memória,
As mudanças físicas do envelhecimento, levam o idoso a defrontar-se com uma nova imagem, um corpo progressivamente mais deteriorado e por isso mais difícil de aceitar, contribuindo assim para que o idoso procure o isolamento ou seja remetido para ele.
Em relação à vivência da terceira idade, ocorre que há um conjunto de situações estimulantes singulares que são as crises biopsicossociais que se manifestam no processo de envelhecimento. Estas crises que provocam alterações sócio-culturais, vão-se manifestar a nível do idoso enquanto ser social. À medida que os anos vão passando, as perdas de pessoas e as alterações físicas exigem uma reestruturação dos grupos. O que acontece com os idosos é que, por uma série de razões, eles acabam por não refazer os seus contactos e ficam sem os seus grupos, quer sejam familiares, colegas de trabalho, de lazer ou outros. Há uma grande necessidade de fazê-los participar de novos grupos e ajudá-los a enquadrar-se naqueles que mais satisfações lhes dão. Para tal é necessário desenvolver nos idosos às suas capacidades pessoais e de relacionamento (Matos, 1998).
Para Meier-Ruge (1988) a sociedade está a fornecer aos idosos um “filtro negro” que lhes inibe a percepção dos seus aspectos positivos e assim o processo de envelhecer torna-se por si só um problema, reduzindo o seu estatuto e posição social.
Esta atitude social, negativa, sobre os idosos, a que muitos vulgarmente designam como “fardos pesados” acaba por afectar o juízo que têm de si próprios, levando-os cada vez mais ao isolamento, à passividade, à falta de motivação e consequentemente à dependência, acabando por acelerar o processo de envelhecimento e conduzindo-os para o seu fim - a morte.
Estimular a participação do idoso na vida familiar e social, não ignorando toda a riqueza de valores, experiências de vida e sensibilidade de que é portador devem ser as novas atitudes e novos comportamentos da nossa sociedade.
No fundo, o que o idoso pretende apenas é ser tratado com a dignidade e o respeito que merece, apenas Viver...
4 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO IDOSO
Os indivíduos vivem hoje mais anos do que em qualquer outro período da história devido à evolução das ciências médicas. No entanto, esta situação tem as suas desvantagens, isto é, à medida que a esperança média de vida aumenta, a probabilidade de declínio físico e o surgimento de patologias a vários níveis é maior no idoso. (SCHAIE e WILLIS, 1991 cit in FIGUEIREDO e SOUSA, 2002).
“A população idosa passa a requerer assistência de serviços especializados, pois há maior incidência de doenças crónicas, que podem levar a perda da autonomia e da capacidade funcional e cognitiva. Há também mudanças fisiológicas, que se caracterizam basicamente em um declínio biológico, que torna o corpo mais susceptível às enfermidades e que com o passar dos anos o efeito prejudicial e acumulativo destas doenças tem maior possibilidade de se manifestarem.” (ANDRADE e LOBO, 2007).
4.1 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS
Ao longo do processo de envelhecimento observam-se diversas alterações quer ao nível da estrutura física do organismo, como também a nível funcional. Estas modificações vão ter impacto na auto-imagem do idoso e também irá interferir de modo significativo, o desempenho dos órgãos e consequentemente dos mais variados sistemas do organismo, assim como os ritmos biológicos.
4.1.1 - Alterações estruturais
Em relação às alterações estruturais, verificam-se modificações ao nível metabólico e celular, e na repartição dos componentes. Observa-se uma diminuição do número de células vivas e também ao aparecimento de lipofuscina e de estatina, em diversas células e tecidos, o que leva a diminuição do seu funcionamento, ou mesmo a sua degenerescência. Também é normal existir um abrandamento do ritmo da multiplicidade celular e sobretudo uma diminuição do número de eritrócitos e leucócitos, assim como a sua eficácia. Os tecidos gordos e subcutâneos modificam-se, e existe uma atrofia e perda da elasticidade celular.
A composição global do corpo e o peso corporal também se alteram com o envelhecimento. O tecido gordo aumenta em relação ao tecido magro, assim como o peso dos órgãos e o peso corporal também sofrem modificações.
Ao nível dos ossos, das articulações e dos músculos existem grandes modificações, o que leva os idosos a terem uma diminuição do funcionamento locomotor e problemas de equilíbrio. Verifica-se uma significativa diminuição da massa muscular, podendo atingir os 50%, assim como da mobilidade de diversas articulações. Com a perda de cálcio, relacionado com o processo de reabsorção, aumenta a probabilidade de surgir osteoporose e a perda dos dentes. O estreitamento das vértebras lombares, devido a osteoporose, provoca uma redução da altura e da dimensão da caixa torácica, podendo surgir cifose no idoso.
A primeira estrutura a modificar-se com o envelhecimento é a pele. Esta situação está intimamente ligada com a perda gradual dos tecidos de suporte subcutâneos. A pele fica mais seca, devido a atrofia e baixa da eficácia das glândulas sebáceas e sudoríparas. Com a perda inicial de elastina, e a diminuição de colagénio útil, a derme torna-se mais delgada. Com isto, a pele perde mais elasticidade, surgem as rugas e a persistência da prega cutânea. Observa-se diversas modificações vasculares e cutâneas, o que aumenta a probabilidade de surgir equimoses e queratoses. As proeminências ósseas acentuam-se mais, devido a perda de tecido subcutâneo. Relacionado com este fenómeno, também se pode observar ao descair da face, do queixo e das pálpebras, e ao alongamento dos lóbulos das orelhas.
No que diz respeito aos tegumentos, com envelhecimento os pelos tornam-se mais raros, finos e com a sua perda gradual, excepto na face. Também é normal a perda de cabelos, calvície e a perda da sua coloração, podendo os cabelos ficar mais claros ou mesmo brancos. O crescimento das unhas torna-se mais lento, e o espessamento destas aumenta, também denominado por onicogrifose. (BERGER, 1995).
4.1.2 - Alterações funcionais
O funcionamento do organismo é afectado directamente pela redução das células e a perda das reversas fisiológicas, pois estes atingem todos os órgãos. Por isso é inquestionável que com o processo de envelhecimento, as funções fisiológicas deterioram-se gradualmente.
Em relação ao sistema cardiovascular, a primeira mudança significativa é a diminuição da capacidade máxima do coração, pela perda de eficácia e de contractilidade do músculo cardíaco. Existe uma diminuição do volume da água, o que por sua vez leva a uma diminuição do débito cardíaco, na ordem dos 40%. A tensão arterial sistólica e diastólica em repouso aumenta. O cérebro, as artérias coronárias e os músculos esqueléticos recebem um maior fluxo sanguíneo residual do que o fígado e os rins. Os vasos sanguíneos perdem elasticidade e aumenta a acumulação de depósitos nas paredes. Também existe um aumento da resistência dos vasos periféricos. Com o avançar da idade pode surgir a degenerescência cálcica das válvulas do coração.
A perda de capacidade de expansão pulmonar, e consequentemente diminuição da capacidade respiratória são algumas das alterações mais significativas ao nível do sistema respiratório. Existe uma atrofia e rigidez gradual do tecido pulmonar, devido a sua perda de elasticidade e permeabilidade. Também aumenta a possibilidade de surgir enfisema, bronquite senil e dificuldade de expectoração das secreções brônquicas.
O sistema renal e urinário é talvez o sistema que é mais afectado com o avançar da idade, pois há uma atrofia dos rins. As alterações mais frequentes neste sistema são a diminuição do número de nefrónios, a diminuição da taxa de filtração glomerular, de filtração tubular, do fluxo sanguíneo renal e da “clearance” urinária. A bexiga também é afectada com o envelhecimento, a capacidade de retenção diminui, assim como também o tónus vesical. Existe um retardamento dos influxos nervosos involuntários pela micção e pelo esvaziamento vesical, com estas modificações as micções tornam-se mais frequentes e menos abundantes. A possibilidade de surgir incontinência aumenta, primeiro nas mulheres, depois nos homens.
No decurso do envelhecimento, naturalmente o sistema gastrointestinal sofre modificações, no entanto, estas não afectam significativamente o seu funcionamento. A digestão e a mastigação podem ser afectadas pela modificação dos tecidos dentários, perda de dentes, aparecimento de cáries e a dificuldade em ajustar as próteses dentárias. Pode verificar-se atrofia das glândulas salivares, perda do tónus muscular e baixa do sentido do paladar, este devido a diminuição das papilas gustativas, o que pode levar a perda de apetite. O reflexo da deglutição é afectado e pode haver o risco de aspiração de alimentos ou saliva para a traqueia.
A mucosa gástrica atrofia de forma progressiva. A secreção de sucos digestivos, como a lipase, o acido clorídrico, a pepsina e o suco pancreático diminui, o que provoca perturbações na absorção, sobretudo de lípidos. Também existe uma redução do factor intrínseco, ligado ao aparecimento de anemia. Verifica-se ainda uma diminuição do tónus e da motilidade gástrica provocando uma diminuição do esvaziamento gástrico e do peristaltismo.
A quantidade de células hepáticas e o peso do fígado diminuem, assim como, a secreção de enzimas hepáticas. Estas alterações dificultam a absorção dos lípidos, provoca défice em vitaminas lipossolúveis e retarda a acção anti-tóxica do fígado.
A diminuição da motilidade gastrointestinal, a deterioração das superfícies de absorção intestinais, assim como, a redução da eficácia das enzimas digestivas e a modificação do fluxo sanguíneo reduzem a capacidade de absorção intestinal.
A eliminação intestinal também é afectada, devido a diminuição do tónus muscular e da motilidade do intestino grosso, e pela redução da lubrificação deste pelas glândulas da mucosa intestinal, retardando a evacuação. É frequente surgir obstipação e fecalomas em idosos, ou mesmo incontinência fecal ou diverticulose.
Um dos sistemas que é mais afectado com o envelhecimento é o sistema nervoso, pois há uma diminuição do número de unidades funcionais no cérebro, assim como uma redução do peso e do volume deste. Existe um declínio gradual da condução nervosa e demora no tempo de reacção no idoso, e também diminui o consumo de oxigénio pelo cérebro e a perfusão cerebral. Relacionado com o processo de envelhecimento, também surge uma diminuição da condução nervosa periférica e dos neurotransmissores.
Entre outras modificações, podem também haver perda de eficácia dos próprioceptores, sobretudo da dor e do tacto, e perda da motricidade fina. O controlo da postura e do equilíbrio também é afectado. A capacidade de memorização a curto prazo diminui e o sistema nervoso periférico é perturbado com o envelhecimento.
Em relação ao sistema sensorial, a medida que o indivíduo envelhece o limiar da percepção do sabor e dos odores aumenta. Também se verifica a uma diminuição das sensações tácteis, assim como as sensações relacionadas com a pressão e a temperatura. É comum, surgir redução da capacidade auditiva, sobretudo para os sons agudos, e sensação auditivas anómalas, como acufenos.
A capacidade visual também é prejudicada, com o envelhecimento, com redução da acuidade visual, da visão periférica e da adaptação à iluminação insuficiente ou a visão nocturna. Para além das alterações referidas, também aumenta a probabilidade de aparecer presbiopia, cataratas e glaucoma nos idosos.
Existe perturbação no metabolismo da glicose na maior parte dos idosos, e observam-se também elevados níveis de pró-insulina, de glucagon e uma diminuição da resposta insulínica do organismo. Também é frequente, o abrandamento da utilização periférica da tiroxina, pois o metabolismo basal e a utilização de oxigénio diminuem com a idade.
Ao longo do processo de envelhecimento, o organismo apresenta uma resposta imunitária a um antigénio mais lenta, tornando-se mais frágil à invasão de microrganismos e produzindo menos linfócitos capazes de combater os agentes infecciosos.
Os ritmos biológicos e o sono também são afectados pelo envelhecimento. As fases do sono modificam-se, isto é, diminui os períodos de sono profundo e aumenta os períodos de sono ligeiro. Ao envelhecer as horas de sono também são diferente repartidas, isto é, fazem sonos menos longos e dormem mais sestas. (BERGER, 1995).
4.2 – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS
Sabemos que o envelhecimento biológico é um facto inevitável; mas existirá igualmente um envelhecimento psicológico, cognitivo e social.
Desde há muito tempo que se acreditou que a velhice era sinónimo de uma inevitável diminuição dos processos cognitivos. No entanto, nos últimos 25 anos, recentes investigações permitiram desmistificar estas afirmações, podendo hoje afirmar-se que é possível conservar a saúde mental até ao final da vida, e a maioria dos idosos o consegue. A saúde mental representa a capacidade que um indivíduo tem de entrar em interacção com os outros e manter um ambiente enriquecedor para si e para os outros. (BERGER, 1995)
Envelhecimento é sinónimo de amadurecimento, sabedoria, experiência acumulada ao longo dos anos, no entanto conservar essas mais-valias nem sempre é fácil. O principal inimigo da pessoa que envelhece é a própria pessoa, sendo a única vitória importante a vitória sobre ela mesma.
Os problemas psicológicos ligados ao envelhecimento raramente são causados pela diminuição das funções cognitivas, mas sim pelas perdas de papel, as múltiplas situações de stress, a doença, a fadiga, o desenraizamento entre outros traumatismos que diminuem a capacidade de concentração e de reflexão das pessoas idosas. A pessoa idosa deve, por sua vez, conseguir “dar a volta”, transcendendo os seus limites físicos e desenvolvendo novos objectivos pessoais. O que se verifica é que o idoso, na luta pela manutenção da sua identidade, manifesta o seu stress através de reacções emocionais importantes. Há muitos idosos que conseguem atravessar este período da sua vida com normalidade e aceitação desta fase do ciclo das suas vidas, permanecendo relativamente activos, desenvolvendo novas actividades ou até mesmo mantendo-se nas suas actividades anteriores. Existem mesmo capacidades que melhoram com o aumento da idade, como é o caso da capacidade de interiorização, da capacidade de ser feliz e de se manter optimista e de conservar um sentimento de liberdade apesar das limitações sociais que se foram acumulando ao longo dos anos. (BERGER, 1995).
A sociedade em geral tem tendência a criar preconceitos erróneos acerca do envelhecimento e das pessoas idosas. Um investigador identificou três desses preconceitos que continuam a sustentar crenças erradas. O primeiro refere que a velhice seja sempre acompanhada de perdas de memória, o segundo que as pessoas de idade reagem menos depressa e o terceiro que o envelhecimento e depressão estão intimamente ligados. No entanto observem-se alguns factos que permitem explicar e desmentir estes preconceitos:
· Os esquecimentos e perdas de memória são muitas vezes sentidos como aspectos negativos da velhice. E no entanto qualquer pessoa, seja qual for a sua idade, pode ter esquecimentos ou perdas de memória.
· A diminuição da velocidade de execução e do tempo de reacção nem sempre se relaciona com a idade ou com o declínio intelectual. Quando o idoso não executa com a mesma rapidez que uma pessoa mais jovem, diz-se que tem uma perda cognitiva. No entanto, se lhe for dado o tempo que necessita para executar uma tarefa, pode fazê-lo com a mesma eficácia que o mais jovem.
· A depressão, acompanhada de abrandamento psicomotor e perda de motivação, pode surgir em qualquer idade. Não é mais frequente nos idosos que nos adultos. Do mesmo modo que outras perturbações emotivas, a depressão é uma doença, e não uma manifestação de envelhecimento. (FIGUEIREDO e SOUSA, 2002, p.168).
Apesar de a maioria dos idosos ser mentalmente saudável, encontram-se mais predispostos aos problemas emotivos e às doenças mentais, tornando-se por vezes difícil distinguir os sintomas relativos às perturbações emotivas e os do normal envelhecimento psicológico.
Os recursos físicos e afectivos estão muitas vezes alterados, fazendo com que os idosos se tornem mais vulneráveis aos problemas emotivos.
A maioria das vezes os serviços de saúde mental não conseguem dar resposta às exigências desta população. A prioridade nesta população, a nível de cuidados de saúde, dirige-se para os cuidados com a parte física, colocando um pouco de parte a parte psicológica. Está provado que a terapêutica pode ajudar as pessoas idosas a ultrapassarem crises inerentes a esta etapa das suas vidas.
Os problemas emotivos com que os idosos muitas vezes se deparam, apresentam manifestações comportamentais que se podem distinguir em sintomas orgânicos e funcionais. Os problemas mais frequentes de origem orgânica são as doenças cerebrais orgânicas relacionadas com o disfuncionamento ou a degenerescência. Os principais problemas de saúde de origem funcional são a depressão, a ansiedade, a solidão e o isolamento, o suicídio, as reacções psicóticas, as neuroses, perturbações do sono e alcoolismo. Há ainda uma outra causa das perturbações mentais, também ela significativa, que é a iatrogénica, ou seja, causada pelos medicamentos ou outras intervenções que visam a cura ou o tratamento dos idosos.
São diversos os factores que podem desencadear o surgimento de problemas emotivos. Entre os mais importantes consideram-se o estado de saúde, a situação sócio-económica, o nível de interacção social, a personalidade, o estado marital e o papel social. (BERGER, 1995).
Ao longo da fase de envelhecimento, vão-se dando no cérebro diversas alterações fisiológicas. Estas alterações atingem principalmente a região frontal e temporal. Dá-se também uma atrofia cerebral caracterizada pela diminuição do peso do cérebro e do número de neurónios funcionais. Os neurónios ao morrerem vão ser substituídos pela “glia” (tecido de suporte do sistema nervoso). “Os investigadores situam as perdas normais de neurónios entre 25 e 40%” (FIGUEIREDO e SOUSA, 2002). Sendo que estas perdas se dão de forma gradual, não impedindo o funcionamento mental e psicológico do idoso, não se considerando, por isso, a perda de neurónios como um índice fiável de envelhecimento.
Continuam ainda as crenças populares, como já foi referido antes, de que ao envelhecer o ser humano se torna senil, no entanto os processos cognitivos não declinam necessariamente com a idade.
Seguidamente vai-se especificar mais em pormenor alguns aspectos do funcionamento cognitivo no idoso. A inteligência, a memória e a aprendizagem, o tempo de reacção e a resolução de problemas e a criatividade.
- Inteligência: têm-se feito muitos estudos ao longo dos últimos 50 anos, e com nenhum deles se pode afirmar que haja declínio da inteligência com idade. Pode-se supor apenas que esse declínio acontece em idades bastante mais avançadas, por volta dos 80-85 anos, e não acontecendo necessariamente em todos os indivíduos.
Há uma conclusão que diversos investigadores partilham, na qual parecem existir baixas individuais acentuadas da inteligência e da personalidade relacionadas com a aproximação da morte e por vezes com uma perda de interesse ou com a mudança de casa.
-Memória e aprendizagem: a memória, ou a falta dela, muitas vezes é um problema para a pessoa idosa e uma fonte de stress e embaraço. As principais modificações que se observam a nível da memória são: um declínio da memória a curto prazo, como por exemplo dificuldade na evocação de lembranças recentes; por sua vez, verifica-se a conservação da memória a longo prazo, ou seja, há uma conservação de lembranças antigas.
Apesar de tudo, a memória mantém-se relativamente estável ao longo do ciclo de vida do ser humano.
A nível da aprendizagem verifica-se que os idosos são capazes de adquirir novos conhecimentos se colocados em situações em que o factor tempo não é primordial.
-Tempo de reacção: apesar de o idoso conservar as capacidades psicomotoras, o seu sistema sofre um retardamento geral, que vai por sua vez influenciar o tempo de reacção a diversos estímulos. Como exemplo observa-se que apresentam dificuldade em transformar os estímulos verbais em imagens mentais.
-Resolução de problemas: investigações recentes parecem demonstrar que as pessoas idosas têm resultados menos bons nas tarefas de resolução de problemas, devido à maior dificuldade em organizar e integrar os dados. Na resolução de problemas quotidianos os idosos são mais prudentes que os mais jovens, no entanto quando se deparam com uma situação ambígua, a tomada de decisão faz-se com mais dificuldade e a capacidade de os resolver diminui.
-Criatividade: o potencial de criatividade atinge o máximo por volta dos 40 anos de idade e declina por volta dos 50 anos. A criatividade surge associada à motivação que tem tendência a diminuir quando o indivíduo se encontra esgotado. A verdade é que não existe limite de idade para a criatividade e que todo o ser humano é um ser criador, exprimindo de diferentes maneiras a sua criatividade. (BERGER, 1995).
5 – PRESTADORES DE CUIDADOS
Em conformidade com o que acontece nos países desenvolvidos, o número de idosos em Portugal, tem vindo a aumentar de forma significativa. Observa-se na actualidade uma mudança demográfica, determinada pelas baixas taxas de natalidade e pelo aumento da esperança média de vida cuja leitura das pirâmides etárias permite concluir que estamos perante uma população envelhecida. O índice de envelhecimento da população portuguesa, nos últimos 20 anos, é claro (Instituto Nacional de Estatística INE, 2007).
Um aumento da longevidade tem subjacente um aumento substancial das necessidades de apoio de saúde pessoais, nomeadamente com a perda gradual de capacidades físicas e intelectuais que acompanham o envelhecimento e conduzem a situações de dependência. Estas transformações levaram à necessidade de apoio da família ou de outras estruturas informais de cuidados (BRITO, 2002).
Cuidar é um acto individual que prestamos a nós próprios desde que adquirimos autonomia, mas é igualmente um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que temporariamente ou definitivamete tem necessidade de ajuda, para assumir as suas necessidade vitais (COLLIÉRRE cit in MARQUES, 2007)
O prestador de cuidados é aquela pessoa que preferencialmente assume o papel de cuidar de alguém (WADE, LEGH-SMITH e HEWER, cit in MARTINS, 2003).
O indivíduo, familiar ou amigo, que assumir este papel e que venha a assegurar a maior parte dos cuidados que o doente necessite no domicílio, como alimentação, higiene, medicação, posicionamentos, sendo capacitado para tal, será o prestador de cuidados principal. Outros familiares que também possam colaborar, de uma forma pontual, na prestação de cuidados com mais ou menos regularidade, são os prestadores de cuidados secundários (MARTINS, 2003).
Os prestadores de cuidados são normalmente amigos, vizinhos e principalmente familiares, tendo em conta que a ajuda procurada pelo receptor de cuidados é primeiro “no seio da família, sendo os familiares directos os mais solicitados para desempenharem este papel” (MARTINS, 2003). Estes, enquadram-se assim nos cuidadores informais uma vez que, prestam cuidados à pessoa que deles necessita, com quem partilham ou não um grau de parentesco e, normalmente, não recebem uma remuneração específica.
5.1 – CARACTERISTICAS DOS CUIDADORES INFORMAIS
Quando a família é confrontada com a necessidade de cuidar de um dos seus elementos que se encontra dependente, habitualmente a tarefa incide sobre o elemento que tem menos a perder com o cumprimento da mesma, de forma a assegurar a continuidade da produção da família (PETRONILHO, 2006).
Habitualmente, os prestadores de cuidados são os respectivos cônjuges ou os filhos, na medida em que o género predominante na prestação de cuidados é o feminino: “Estima-se que uma em cada cinco mulheres de meia-idade (…) estejam envolvidas no processo de cuidar de um familiar ou um idoso debilitado.” (MARCKS, 1997 cit in MARTINS, 2003). Os homens apenas se tornam prestadores de cuidados principais em situações de vínculo afectivo muito estreito, como por exemplo, quando se trata do cônjuge (MARTINS, 2003).
Outros factores que também influenciam o assumir do papel de prestador de cuidados são: a proximidade física (sendo que os prestadores de cuidados normalmente moram perto, ou mesmo, com o receptor de cuidados), a relação afectiva (a proximidade e a vinculação forte entre o prestador e o receptor de cuidados são muito importantes para o sucesso dos cuidados) e a actividade profissional. Este último factor, exige que para ser prestador de cuidados é necessário disponibilizar bastante tempo do dia-a-dia, o que faz com que escolha deste recaia mais frequentemente naqueles que se “encontram afastados da sua actividade profissional, ou os que apresentam trabalhos menos diferenciados ou situações sociais mais vulneráveis” (MARCKS, 1997 cit in MARTINS).
Assim sendo, grande parte dos prestadores de cuidados são reformados, ou acabam por pedir uma reforma antecipada, ou ainda férias sem vencimento, podendo mesmo chegar a uma situação de desemprego, para que se possa assumir o papel em pleno. Muitos acabam mesmo por deixar de trabalhar para auxiliar os familiares (WADE, LEGH-SMITH e HEWER, cit in MARTINS, 2003).
A família foi sempre chamada a exercer o papel de prestadora de cuidados, assim sendo nas últimas décadas, os serviços de saúde têm corresponsabilizado as mesmas na prestação de cuidados (SANTOS, 2005), de modo a estabelecer com elas uma relação de parceria. Assim, e apesar de este papel ser assumido maioritariamente por membros da família, optamos pela designação de prestador de cuidados, uma vez que ao longo da literatura consultada este ser referenciado mais vezes, e por ser um termo mais abrangente.
Prestador de cuidados (PC) define-se como “ Indivíduo com as características específicas: Aquele que assiste na identificação, prevenção, ou tratamento da doença ou incapacidade, aquele que atende às necessidades de um dependente.” (CIPE Versão 1, 2006). De acordo com a mesma fonte, o PC é contemplado em dois eixos: cliente e recurso. É considerado cliente, quando constitui o beneficiário da intervenção do enfermeiro que visa suprimir as suas necessidades, através do método de ensino e treino, favorecendo deste modo os seus conhecimentos e capacidades. É recurso, quando já possui conhecimentos e capacidades, constituindo meio de levar a cabo uma intervenção que se concretiza na relação de pareceria, enfermeiro - Prestador de Cuidados.
5.2 - DESEMPENHO DOS PRESTADORES DE CUIDADOS NO DOMICÍLIO
Os cuidados domiciliários representam uma componente dos cuidados de saúde primários continuados, onde o enfermeiro tem um importante papel para com as famílias. Deste modo, devem ser planeados, coordenados e adequados às necessidades da pessoa receptora de cuidados e do respectivo PC, por profissionais capazes e preparados para tal.
Assim sendo, o sucesso dos cuidados prestados no domicílio depende, não só dos profissionais de saúde como também da família e do PC. Isto porque, a prestação de cuidados é uma tarefa que implica um grande desgaste, com consequências previsíveis na saúde física e emocional do PC (PETRONILHO, 2006).
Os problemas destas pessoas são ainda agravados quando não é assegurado um conjunto de conhecimentos, capacidades e suporte que lhes permita enfrentar as tarefas inerentes ao cuidar, para que a pessoa se sinta capaz e motivada para responder aos desafios de saúde (PETRONILHO, 2006).
Desta forma, o apoio continuado aos prestadores de cuidados é importante para avaliar as suas necessidades de uma forma gradual e para avaliar a condição de saúde do receptor de cuidados. Isto, permite que se possa adaptar um plano de cuidados para o PC adequado às suas reais necessidades do momento, onde este constante apoio constitui um passo em frente para que este tenha acesso a informação e serviços que são necessários ser mantidos, de forma a promover o seu bem-estar face às tarefas como PC (FEINBERG, 2004).
Os PCs nestas situações expressam sentimentos de estarem a ser apanhados física, psicológica e emocionalmente para um extremo, como se não tivessem vida para além do cuidar, sentindo mesmo culpa apenas por pensarem neles próprios. Estes sentimentos são ainda exacerbados pela falta de confiança e o sentimento de isolamento e abandono.
Se os profissionais reconhecerem mais activamente a situação dos PCs, melhoravam em muito a sua situação, uma vez que estes estão restritos a uma natureza que não é a sua e que vêem as suas necessidades subjugadas às do receptor de cuidados. Esta condição é muitas vezes agravada pela falta de liberdade para exteriorizarem os seus sentimentos de culpa, raiva e isolamento.
Para que tal não seja tido como normal, é necessário que os profissionais de saúde tenham em conta todas as necessidades dos PCs, tal como os seus conhecimentos e capacidades, fornecendo as informações, treinos e suporte necessários, como temos vindo a descrever. Defendem mesmo que se a enfermagem pretende alcançar o potencial máximo nesta área, então tem de ter o máximo conhecimento sobre as necessidades específicas desta população (HIRSCHFIELD e KRULICK cit in NOLAN, 1989).
5.3 - CONHECIMENTOS, NECESSIDADES E COMPETÊNCIAS
Muitos PC exprimem que têm de “fazer sozinhos” o que lhes compete como cuidador. Isto é, em certa medida reflexo duma sensação de isolamento e de relativa falta de suporte por parte dos profissionais na busca de informação, habilidade e apoio (BRERETON e NOLAN, 2002).Assim, entendemos a pertinência de nos centrarmos nas necessidades, conhecimentos e competências que advêm do desempenho do papel de PC, para que possamos, respectivamente, atender, fomentar e potencializar. Esta linha de pensamento justifica a ordem pela qual os conceitos emergem ao longo do trabalho: só depois de uma avaliação cuidada dos conhecimentos do PC relativos à prestação de cuidados, é que podemos identificar necessidades, visando por fim o desenvolver de competências.
Deste modo, será possível aproximarmo-nos cada vez mais da excelência do exercício do papel do PC e, em parceria com ele, conseguirmos o melhor nível de bem-estar e autonomia possíveis do receptor de cuidados e do próprio PC.
A maior parte das pessoas que ficam dependentes necessitam e pedem ajuda para as assistirem nas suas actividades de vida diária e, como tal, é importante que as pessoas que o façam, demonstrem aptidão para isso mesmo. Por outras palavras, os PCs devem possuir conhecimentos e competências adequadas ao seu papel de cuidador.
5.3.1 – Conhecimentos
Na Versão 1.0 da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, o conhecimento é definido como “conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na informação ou aptidões aprendidas, e no conhecimento ou reconhecimento de informação”.
Os conhecimentos que o PC demonstra relativamente à condição do alvo dos cuidados e sobre a sua própria situação vão influenciar de forma determinante a prestação de cuidados ao receptor.
Estudos recentes realizados no Reino Unido realçam que os PCs experimentam frequentemente dificuldades em obter informação básica antes da alta hospitalar do receptor (WARNER e WEXTER, BANKS cit in BRERETON e NOLAN, 2002) e como resultado, têm poucos conhecimentos sobre o que significa ser PC, que tipo de ajuda está disponível e também sobre a própria natureza da doença ou condição em que a pessoa alvo dos cuidados se encontra (BRERETON e NOLAN, 2002).
Assim, verifica-se que grande parte dos PCs raramente exerce uma decisão plenamente informada sobre se querem ou não cuidar (TARABORRELI, OPIE, HENWOOD, BANKS cit in BRERETON e NOLAN, 2002).
Segundo o estudo de BRERETON e NOLAN, 2002, numa primeira fase de adaptação ao papel de PC (“What’s it all about?”) verifica-se por parte dos mesmos uma procura de informação e conhecimentos (fazem perguntas, observam, ouvem e lêem) que muitas vezes não é prevista pelos profissionais de saúde. Todos os PCs procuram informação sobre a condição em que se encontra o alvo dos cuidados e sobre a progressão dessa condição.
Contudo, essa informação nem sempre é de fácil acesso, o que resulta na frustração de vários PCs. Muitos acabam por procurar informação por eles mesmos usando várias formas de “seeking activities” (actividades de procura), que incluem não apenas a observação e o fazer perguntas mas também, por exemplo, o escutar atrás das portas. Na ausência de informação suficiente, os cuidadores podem sentir que os seus conhecimentos para desempenhar o papel de PC não são satisfatórios.
Os PCs evidenciam défices na área do conhecimento relativamente ao regime medicamentoso, patologia, hábitos alimentares e prevenção de complicações, nomeadamente na prevenção da maceração e rigidez articular (PADILHA, 2006).
5.3.2 - Necessidades
Chegados a esta etapa, e após exaustiva pesquisa bibliográfica, deparamo-nos com a ausência de uma definição precisa de necessidades. Nestas condições, definimos como necessidades do PC todas as situações novas emergentes do exercícios do papel, para as quais o mesmo não apresenta recursos e/ou respostas.
Conhecer as necessidades específicas do PC e ter em conta a sua percepção individual dos diferentes domínios de suporte, constituem um importante pré-requisito para providenciar cuidados (SHYU, 2000).
Entende-se a relevância de explorarmos quais são as necessidades sentidas pelos PCs, já que estas estão na base da sua procura de assistência junto dos profissionais de saúde, no sentido de encontrarem resposta a diferentes carências, que surgem ao longo das três fases, referidas por SHYU (2000).
No “ role engaging”, o PC revela necessidades predominantemente a nível de suporte informacional, ou seja, necessidade de informação, nomeadamente sobre:
Ø A condição da pessoa receptora dos cuidados (estado físico, psíquico, prognóstico, tratamento e expectativas);
Ø A monitorização e gestão de sintomas (como avaliar/identificar e tratar os sintomas);
Ø A assistência nos cuidados (informação relativamente a como ajudar nas actividades de vida diárias);
Ø A medicação e conforto;
Ø E o modo de agir em caso de emergência (SHYU, 2000).
No suporte informacional, incluem-se ainda dados sobre prevenção de complicações, estratégias de coping e recursos da comunidade (CLARK, RUBENACH, WINSOR, 2003).
De notar que, um elevado grau de dependência da pessoa associado à inexperiência do PC, e/ou o vivenciar de hospitalizações inesperadas e de emergência, são circunstâncias que levam a que esta necessidade de suporte informacional seja mais sentida por parte do PC. É necessário ter em conta que a falta de informação pode comprometer em muito o desempenho e o controlo sobre as situações por parte dos PCs, levando-os a tomar decisões erradas no cuidado.
Estas necessidades, continuam a ser mencionadas por alguns PCs durante a fase de negociação do papel, não sendo no entanto tão frequentes nem intensas como nesta fase do “role engaging” (SHYU, 2000).
No “role negotiating”, as necessidades mais vezes referidas pelos PCs reportam-se ao domínio das capacidades instrumentais necessárias à implementação daquilo que aprenderam na fase de role engaging, às estratégias que visam levar a pessoa, alvo dos cuidados a aderir ao regime terapêutico, ao modo de gerir as emoções da prestação de cuidados e de estabelecer um padrão de cuidados contínuos.
As necessidades do PC no “role settling”, prendem-se com o suporte emocional. Sentindo-se agora confortável e confiante no seu papel, o PC direcciona gradualmente a sua atenção, até agora centrada nas necessidades do receptor dos cuidados, para as suas próprias necessidades. Apercebem-se que o papel de PC faz parte das suas vidas, sentindo e expressando uma vontade de serem compreendidos, apreciados e apoiados nos seus esforços, o que se traduz numa necessidade de suporte emocional (SHYU, 2000.)
Este suporte emocional envolve ser reconhecido e valorizado pelo seu trabalho bem como ter alguém com quem falar sobre os problemas. Engloba também, o usufruir de ajuda para: reconhecer e lidar com as emoções (culpa, raiva, depressão, falta de esperança, sentir que não pode ser ajudado), apontar os limites do seu próprio cuidado e negociar responsabilidades com a pessoa (SHYU, 2000). Visitas domiciliárias, linhas telefónicas dedicadas e a participação em grupos de ajuda (CLARK, RUBENACH, WINSOR, 2003) revelam-se apoios essenciais.
É eminente reconhecer que as circunstâncias objectivas dos cuidados só contribuem com uma pequena parte para o stress do PC, sendo os aspectos emocionais os mais significativos (SHYU, 2000).
Ao longo destas três fases que integram a transição para o papel de PC, emergem, para além das acima referidas, necessidades comuns, de que é exemplo a necessidade de sustentação de recursos humanos, isto é, a participação de pessoas disponíveis em dar forma a uma equipa de cuidadores, para fornecer auxílio aos PC (SHYU, 2000).
Neste contexto, importa também realçar as necessidades de suporte instrumental, que adquirem importância para o PC “ (…) no sentido de proporcionar alguma forma regular de descanso do seu papel, recorrendo por exemplo a institucionalização temporária.” (SHYU, 2000).
Os PCs requerem profissionais de saúde não só para lhes fornecer suporte emocional, ensinar habilidades de cuidados, ajudar a monitorizar a condição de saúde, mas também como meio para consultarem outros serviços de comunidade e saúde quando precisam (SHYU, 2000).
5.3.3 – Competências
A competência não abrange unicamente a área do saber (conhecimento) ou do saber-fazer (capacidade técnica). A competência circunscreve três domínios: saber mobilizar (ajustamento dos conhecimentos e capacidades a contextos adequados); saber integrar (face a um conjunto de conhecimentos e técnicas, saber discernir aquelas que são úteis para enfrentar um problema ou satisfazer uma necessidade); e finalmente, um saber transferir (isto é, a competência não se confina a uma única actividade) (PETRONILHO, 2006).As capacidades do PC para cuidar não são frequentemente avaliadas e, consequentemente, as competências em prestar cuidados são desenvolvidas por tentativa e erro ou por aprendizagem passiva. Verifica-se, então, que os PCs recebem uma preparação pouco estruturada para o exercício do papel (BRERETON e NOLAN, 2002)
A aprendizagem de competências pelo PC exige necessariamente o recurso, ao ensino, à instrução e treino das mesmas. Os profissionais de enfermagem devem integrar os PCs no planeamento dos cuidados, promovendo a sua prestação activa de modo a facilitar a aprendizagem. A aquisição de competências implica a transferência de conhecimentos e capacidades para o PC, no âmbito dos cuidados de enfermagem, através de um processo sistematizado (PETRONILHO, 2006). Aliás, até um nível mínimo de treino requerido para desempenhar o papel de PC irá melhorar a qualidade dos cuidados prestados (DRAKE [et al], 2006).
O processo de aprendizagem apresenta três momentos diferençados: no primeiro, é concedida informação teórica sendo que, as intervenções de enfermagem são do tipo ensinar/ educar; no segundo, decorre a explicação e demonstração das técnicas por parte do profissional, em que este constitui um modelo atentamente observado pelo PC no seu desempenho sendo que, as intervenções são do tipo instruir; e finalmente, no terceiro momento, o PC treina sob supervisão do enfermeiro, esclarecendo as suas dúvidas, sendo que a intervenção que encerra a acção é do tipo treinar.
O treino de capacidades é, assim, essencial para aumentar a confiança do PC e aperfeiçoar os cuidados, especialmente em relação aos cuidados de enfermagem relativos à incontinência, técnicas de posicionamento, entre outros. A falta de treino das capacidades dos PCs leva-os a sentirem-se incapazes de lidar com muitas das suas tarefas, podendo prejudicar a qualidade dos cuidados prestados.
O desenvolvimento de sistemas de serviços para prestar apoio/suporte aos PCs é um objectivo de bem-estar comum. A necessidade de formação de uma parceria entre os PC e os profissionais de saúde é largamente reconhecida e deve desenvolver-se o mais cedo possível. Para isso, é necessário que os profissionais compreendam as maneiras como os familiares cuidadores adquirem o seu papel como PCs de forma a sentirem-se preparados para cuidar mais eficazmente, experienciar baixos níveis de stress e uma maior satisfação no desempenho do seu papel.
Não obstante, observa-se em alguns estudos que os PCs ainda recebem pouca preparação estruturada para assumir o seu novo papel (BRERETON e NOLAN, 2002).
Para uma melhor compreensão das competências do PC optamos por elucidar este tema através de um exemplo prático. Para que o PC seja considerado competente, as capacidades e conhecimentos não são suficientes. Assim, o PC tem de ser capaz em tempo oportuno de mobilizar os conhecimentos e as capacidades, por exemplo, o PC pode saber executar correctamente a técnica de aspiração de secreções, mas não saber decidir apropriadamente quando a deve executar.
A competência impõe capacidade de organização, selecção e integração, desta forma, o PC que demonstra competências face à aspiração de secreções é aquele que sabe mobilizar os seus conhecimentos e capacidades, agindo de forma eficaz. As competências não se devem restringir ao desempenho de uma actividade exclusiva e repetitiva, ou seja, exige um saber transferível ou adaptável. O PC, ao defrontar-se com contextos e recursos diferentes daqueles experimentados em meio hospitalar, tem que saber adaptar-se às novas circunstâncias.
Deste modo, ser competente obriga a ser mais que um bom executante, exige capacidade de improvisação face a novas situações no contexto domiciliário, para que o PC resolva os novos problemas de forma eficaz na ausência de recursos, apoio social ou alteração da condição do alvo dos cuidados. (PETRONILHO, 2006).
5.4 - ATITUDES DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES, COMPETÊNCIAS E CONHECIMENTOS DO PRESTADOR DE CUIDADOS
Os enfermeiros constituem os profissionais que contribuem mais significativamente para a obtenção de ganhos em saúde. Desta forma, eles ocupam um lugar de destaque na preparação do PC, pois são detentores da oportunidade de desenvolver e amplificar os seus conhecimentos e competências, respondendo às suas necessidades.Assim, os enfermeiros são aqueles que mais e maior oportunidade têm para munir os PCs de um conjunto de conhecimentos, competências e recursos, que aprovem um bom desempenho na arte do cuidar; desta forma a transição reproduzir-se-á de forma personalizada, estabilizando num padrão positivo ou saudável (PETRONILHO, 2006).
É frequente, o enfermeiro não dar prioridade à promoção da saúde e ao aconselhamento, o que os leva a falhar inúmeras vezes ao encararem a sua relação com o PC como sendo estritamente profissional.
Como tal, os cuidados de enfermagem devem basear-se “na prevenção da doença, na promoção dos processos de readaptação, procurando a satisfação das necessidades humanas fundamentais, com a máxima independência na realização das actividades de vida, procurando a adaptação funcional do cliente aos défices e a adaptação a múltiplos factores, frequentemente através de processos de aprendizagem do cliente” (PADILHA, 2006).
Assim, consideramos pertinente abordar o processo de enfermagem dirigido ao ensino/aprendizagem do PC, que inclui: avaliação das necessidades, diagnóstico, planeamento, intervenção, avaliação.
O objectivo final do plano de cuidados desenvolvido pelo enfermeiro para o PC deve direccionar-se para fomentar o seu sentimento de confiança para prestar cuidados necessários e seguros, expandido a sua visão de como pensa desenvolver as capacidades e competências requeridas.
Os enfermeiros devem ser capazes de gerir o nível e a quantidade de informação que ensinam consoante o nível cognitivo do PC, tendo em conta que devem investir nos quatro domínios existentes ao nível da aprendizagem: perceptual, cognitivo, afectivo e psicomotor (BRERETON e NOLAN, 2002).
Assim sendo, e para uma maior qualidade da competência dos PCs, os enfermeiros devem actuar:
· Na prevenção da doença, através do recurso a processos de ensino-aprendizagem ao receptor e ao PC, permitindo-lhe a aquisição de competências cognitivas e capacidades que facilitem, decidir e adoptar comportamentos potenciadores da saúde e qualidade de vida (PADILHA, 2006);
· Nos processos de readaptação à doença, permitindo aos receptores e PCs encontrarem estratégias que lhes permitam aceitar a doença ou não o fazendo, adoptando uma outra, que lhes permitam gerir o quotidiano sem deprimir, mantendo uma auto-estima positiva (PADILHA, 2006);
· Na continuidade do regime terapêutico proposto, mantendo a esperança do receptor e /ou PC, percebendo estes, a existência de suporte formal e informal, capaz de responder às suas necessidades (PADILHA, 2006);
· Na satisfação das necessidades humanas fundamentais, através da implementação de processos de ensino aprendizagem, aos receptores e PCs, permitindo-lhes a aquisição de capacidades para assegurarem o auto-cuidado, ou na incapacidade da sua consecução, diligenciar em articulação com os recursos existentes, modalidades de apoio formal para a satisfação das necessidades do receptor e/ou do PC (PADILHA, 2006).
Desta forma, a informação que o enfermeiro deve fornecer ao PC é relevante e tem por objectivo permitir que este adquira as competências necessárias para uma prestação de cuidados adequada às condições de saúde do receptor.
Segundo PADILHA (2006) as áreas de maior dificuldade para os PCs são falta de conhecimento sobre a medicação, falta de conhecimento para o auto-cuidado, desconhecimento dos recursos da comunidade e falta de suporte formal, sendo estas as áreas sensíveis aos cuidados de enfermagem.
Tendo em conta tais estudos, surge então a necessidade da transmissão de informação de enfermeiros para PCs de uma forma mais eficiente e como tal, os enfermeiros devem ter em conta factores intrínsecos e extrínsecos, referentes ao PC, adequando a informação fornecida.
Os PCs são sensíveis às reacções dos profissionais e as fracas/más reacções não só aumentam os níveis de stress mas também inibem a procura por uma futura assistência por parte dos profissionais. Um melhoramento da atitude dos profissionais perante o cuidador tem o potencial não só de reduzir os níveis de stress, como de um reconhecimento da sua contribuição no aumento da satisfação no cuidar.
Nesta perspectiva foram identificadas 4 principais deficiências na interacção dos cuidadores com os profissionais: falta de conhecimento, falta de treino de competências, falta de suporte emocional e falta de suficiente e regular descanso. Tendo em conta estes quatro factores é na área emocional que os profissionais se devem focar, dado que o facto dos cuidadores se sentirem úteis e verem que a sua tarefa é devidamente apreciada baixa os seus níveis de stress (NOLAN e GRANT, 1989).
Concluindo, de acordo com PADILHA (2006) os enfermeiros têm a competência de avaliar, identificar, planear, executar e proceder à avaliação final das necessidades em cuidados da pessoa, assim como, uma adequada informação e preparação dos PCs, auxiliando ao longo do exercício do papel. Nunca esquecendo que “os cuidadores querem ser tratados como colegas, como cooperadores e serem valorizados e informados pelo trabalho que está a ser feito.” (NOLAN e GRANT, 1989).
5-Visita domiciliária
A enfermagem domiciliária consiste em prestar cuidados de enfermagem de qualidade a utentes no seu ambiente domiciliar, numa base intermitente ou parcial. Tem como objectivo fornecer ao utente (e família) a compreensão, o apoio, o tratamento, as informações e os cuidados que necessitam para gerir com sucesso as necessidades de saúde no domicílio. Portanto, um dos objectivos fundamentais dos cuidados é encorajar a gestão do auto cuidado.
Assim, tanto o prestador de cuidados ou a família, como o meio-ambiente (incluindo os recursos comunitários) são vistos como elementos fundamentais para o sucesso do plano de cuidados.
Sabe-se que a colaboração e a autodeterminação do utente/prestador de cuidados para atingir o nível optimizado de saúde é fundamental para levar a bom termo o plano de cuidados domiciliar.
Sendo assim, o ideal é dar ênfase a uma abordagem holística dos cuidados, ou seja, ter em consideração todos os aspectos que contribuem para a recuperação do utente (RICE, 2004).
Através de uma abordagem multidisciplinar, são conseguidos cuidados de qualidade, pois oferece uma melhor orientação ao enfermeiro, que é o gestor de caso, na elaboração do plano de cuidados. Tendo em conta os processos de identificação, diagnóstico, planeamento, execução e avaliação, o plano deve:
· Prestar informações ao utente/prestador de cuidados sobre a doença ou incapacidade, bem como sobre as necessidades de ambos em matéria de cuidados de saúde, ao que devem seguir-se as recomendações para promover o estado ideal de saúde ou o melhor nível de funcionamento e a gestão do auto cuidado.
· Promover terapias de recuperação, reabilitação e terapias paliativas, pois trazem como consequência comportamentos que promovem a saúde.
· Desenvolver a competência do utente/prestador de cuidados, o seu poder de decisão e avaliação em termos de gestão do autocuidado no domicílio.
· Incentivar ajustamentos positivos por parte do utente/prestador de cuidados.
· Reintegrar utente/prestador de cuidados na família, comunidade e sistemas de apoio social (RICE, 2004).
Os cuidados de enfermagem no domicílio são uma arte e uma ciência, destinados à prestação de cuidados de qualidade ao utente no ambiente familiar e social.
A prática de enfermagem no domicílio reflecte um empenho em programas de educação contínuos, que promovem o conhecimento e uma pratica clínica especializada. A pesquisa demonstra que os cuidados domiciliários:
· São uma alternativa preferencial à hospitalização;
· Fazem chegar ao utente as linhas de orientação clínicas e decisões no que respeita às organizações que prestam assistência domiciliar que sirvam melhor os interesses públicos;
· Do ponto de vista ético, consideraram a pratica de enfermagem como algo mais que um pagamento por um serviço;
· E incentivam a força politica e solidariedade da classe de modo a poder dar resposta as necessidades da comunidade hoje, bem como no futuro (RICE, 2004).
Þ Preparação para a visita domiciliária:
A atribuição de utentes é, regra geral, determinada pela zona onde o utente reside (através do código postal, por exemplo) ou pelo tipo de serviço especializado requerido. O gestor dos serviços de apoio ao utente analisa as informações do relatório previamente recebido após a aceitação do utente, atribuindo, então, a este um enfermeiro prestador de cuidados domiciliários ou um terapeuta.
Antes da primeira visita, o enfermeiro deve estudar a informação constante no relatório para determinar o objectivo da mesma. Tanto o número de telefone de casa como a morada e quaisquer outras ordens específicas devem constar no relatório. Aconselha-se que proceda à análise do processo clínico do utente antes de efectuar a visita.
O diagnóstico médico apresentado no relatório deve ser, onde o enfermeiro se deve centrar para preparar inicialmente os cuidados a prestar. Uma vez feita a avaliação do utente e do domicílio, o desenvolvimento subsequente deve ser feito tendo em conta os diagnósticos médicos e de enfermagem. Ao elaborar o plano de cuidados, o enfermeiro deve pesquisar bibliografia profissional actualizada, manuais de procedimento e orientações, pessoas credenciadas para o efeito e recorrer a estudos de investigação.
Recomenda-se vivamente que telefone ao utente antes da visita, para o informar sobre a hora aproximada da mesma, confirmar ou esclarecer direcções, solicitar que se tomem as devidas precauções em relação a animais, caso tal se justifique, e perguntar se necessita de suprimentos médicos. Através deste telefonema pode começar a aperceber-se das necessidades do utente/prestador de cuidados e, assim, começar a delinear o plano de cuidados. Após a realização dos procedimentos anteriormente referidos, deve preparar uma mala de enfermeiro, devidamente equipada, bem como quaisquer outros suprimentos ou formulários que possa vir a necessitar (RICE, 2004).
Þ Como conduzir a visita domiciliária:
O utente que vai receber cuidados domiciliários, deve ser visto no contexto do ambiente domiciliar e da comunidade em que está inserido. O enfermeiro deve centrar a sua atenção não só nas necessidades do utente em termos de cuidados de saúde, mas também nos factores: familiar, sociocultural, económico e ambiental que possam influenciar os cuidados.
Fase de avaliação inicial:
Os dados recolhidos durante a fase de avaliação inicial são utilizados pelo médico como informação adicional para determinar o plano de cuidados geral e o plano de cuidados de enfermagem.
Recomenda-se uma abordagem holística no desenvolvimento do plano de cuidados. A fase de avaliação inicial inclui:
- Telefonema inicial;
- Entrevista;
- Registo do historial do utente (incluindo avaliação sociocultural e familiar);
- Historial em cuidados de enfermagem;
- Avaliação da medicação utilizada;
- Avaliação nutricional;
- Avaliação física (incluindo estado espiritual, mental e funcional, bem como doenças especificas ou incapacidades) (RICE, 2004).
O telefonema inicial é muito importante, pois permite obter informações que são vitais para o planeamento das visitas, ajudando assim a evitar surpresas bastante desagradáveis ao chegar a casa do utente. Permite ao enfermeiro, averiguar a situação e o estado actual de saúde do utente.
Þ Entrevista:
Esta entrevista formal, tem como objectivo recolher dados e outras informações acerca da saúde do utente. Segue, geralmente, as perguntas que constam num formulário, numa lista de verificação ou num esboço. No entanto, o enfermeiro deve estar receptivo a todas as informações fornecidas pelo utente, família ou prestador de cuidados.
Embora a entrevista inicial sirva, sobretudo, para recolher informações subjectivas a partir das respostas do utente, deve estar-se atento aos indícios não verbais. É também um passo bastante importante para o estabelecimento das relações terapêuticas entre enfermeiro, utente e prestador de cuidados.
Þ Registo do historial do utente:
Este registo é de grande importância, pois o enfermeiro faz aqui uma avaliação social e ambiental, com o objectivo de oferecer uma ideia clara do utente em casa e na comunidade, assim como também faz referência a questões sanitárias e de segurança. Para além de identificar a situação financeira e as condições de vida do utente, o enfermeiro deve ainda centrar-se em aspectos como a cooperação entre utente e prestador de cuidados em relação ao auto cuidado, bem como a existência, no domicílio e na comunidade, dos recursos necessários para a execução dos cuidados.
Aconselha-se também, que o enfermeiro proceda a uma avaliação da família com o objectivo de reconhecer todos os sistemas de apoio disponíveis para ajudar nos cuidados ao utente. Identificar o grau de instrução, estilos de comunicação e formas de reagir as situações do utente, da família e do prestador de cuidados, assim como o papel que cada um desempenha na família, é uma mais-valia. Todos estes elementos são relevantes para a elaboração do plano de cuidados.
Þ Historial dos cuidados de enfermagem:
O historial está relacionado com as respostas e percepções do utente acerca do seu estado de saúde e deve centrar-se nos sentimentos e expectativas do utente em relação as suas necessidades em cuidados de saúde. Serve ainda para ter uma ideia sobre as estratégias que o utente utiliza para enfrentar os seus problemas de saúde, bem como identificar padrões de saúde e doença anteriores, presença de factores de risco e recursos disponíveis à família e ao utente. Pode também recorrer à ajuda do prestador de cuidados para obter uma ideia completa das necessidades do utente.
Caso não seja possível ter acesso a um quadro médico completo, procure obter informações suplementares, das quais devem fazer parte uma descrição do estado actual do utente e do seu historial médico-cirúrgico, historial clínico da família e um estudo dos sistemas corporais do utente, nomeadamente as respostas sobre cada um dos sistemas corporais.
Þ Avaliação da medicação utilizada:
O enfermeiro prestador de cuidados domiciliários, deve pedir para ter acesso a todos os medicamentos do utente, mesmo aqueles de aquisição livre, pois o estudo pormenorizado da medicação dá não só a conhecer ao enfermeiro o nome do medicamento, dosagem, frequência de toma do medicamento, mas também, obter informações importantíssimas sobre os ensinos que devem ser feitos ao utente sobre a respectiva medicação. Deve determinar-se o objectivo de cada medicamento, bem como registar quaisquer reacções adversas, alergias, efeitos secundários e terapêuticos e a adesão do utente ao regime de medicação prescrito.
O enfermeiro deve verificar a medicação em cada visita de modo a aperceber-se de quaisquer alterações nas dosagens, frequência e tipo de medicação. Todos estes dados devem constar no registo do utente como tendo sido prescritos pelo médico.
Þ Avaliação nutricional:
Deve ser feito um exame nutricional ao utente em alto risco de desnutrição para avaliar o nível proteico-energético, necessidade de nutrientes específicos, complicações associadas à desnutrição ou reacções adversas de saúde relacionadas com os hábitos alimentares. O enfermeiro deve ainda avaliar se a dieta do utente é a adequada. São elementos importantes para avaliar o estado nutricional do utente, o historial dos hábitos alimentares e o peso do utente.
Þ Avaliação física:
É também um ponto importante de informação, o enfermeiro deve utilizar os seus sentidos para proceder a avaliação do utente. Pode fazer-se um exame sistemático desde a ponta da cabeça à ponta dos pés ou por sistema corporal. O enfermeiro deve estabelecer a sua própria abordagem, estando sempre pronto a adaptar os métodos de avaliação a cada utente específico.
O objectivo deste exame é a determinação de quaisquer limitações funcionais que o utente possa ter quando se desloca ou executa as actividades do dia-a-dia. Basta simplesmente, que o utente execute uma actividade simples, como por exemplo, andar ou abrir um frasco, que é o suficiente para determinar a sua capacidade funcional. Estas informações poderão ser necessárias mais tarde, como base de avaliação para o terapeuta de reabilitação.
Þ Avaliação da saúde mental e espiritual:
A avaliação da saúde mental é feita em conjunto com a avaliação física. O registo do utente pode também incluir uma avaliação espiritual, pois é um pormenor de importância vital, uma vez que aspectos como fé e esperança assumem uma grande importância nos cuidados ao utente.
Numa fase inicial, o enfermeiro prestador de cuidados domiciliários deve fazer uma avaliação física completa do utente, nas visitas posteriores poderá ser necessário avaliar apenas áreas específicas onde existam problemas. As alterações que se verifiquem nos exames posteriores devem ser anotadas no registo, o que faz com que esteja sempre actualizado.
Quando o enfermeiro transmite os resultados da avaliação física ao médico, deve em primeiro lugar, mencionar a informação que foge ao estado padrão do utente. É normal nos cuidados domiciliários encontrar utentes com sinais vitais e/ou valores de glicemia variáveis. À medida que for fazendo ajustes no tratamento prescrito, o médico pode considerar desnecessário que lhe passe informações sobre este aspecto após cada visita, assim, o enfermeiro deve solicitar a este, por escrito, orientações sobre quando quer ser informado. Estas são informações que devem constar sempre no registo médico do utente. O enfermeiro nunca deve hesitar em comunicar o médico sobre determinadas conclusões do seu relatório ou em enviar o utente para as urgências para ser examinado, quando achar que o deve fazer.
Fase de diagnóstico:
Após a realização da avaliação inicial, o enfermeiro interpreta os dados e faz o diagnóstico de enfermagem, o qual consiste num relatório claro e conciso acerca do estado de saúde do utente, que reflecte as respostas saudáveis e não saudáveis do utente e os factores de suporte para cada resposta.
Os diagnósticos de enfermagem nos cuidados domiciliários incluem, geralmente, aspectos como falta de conhecimento, intolerância a actividades e défice em auto cuidado (RICE, 2004).
Fase de planeamento:
Actualmente há a tendência, em cuidados de saúde, de fazer a fusão do plano de cuidados de enfermagem com as necessidades multidisciplinares. Para além disso, com a participação do utente a adquirir cada vez mais relevância, tornou-se prática corrente denominar este plano como plano de cuidados do utente.
Estabelecido pelo enfermeiro prestador de cuidados domiciliários e pela equipa multidisciplinar, este plano de cuidados do utente, tem por base o plano de tratamento médico, as intervenções, os resultados esperados dos cuidados e os objectivos a longo prazo (RICE, 2004).
O primeiro passo na fase de planeamento é o estabelecimento de prioridades. O enfermeiro, a equipa multidisciplinar e o utente/prestador de cuidados devem trabalhar em conjunto, com o objectivo de identificar as preocupações e necessidades imediatas do utente/prestador de cuidados. Passa-se, assim, ao diagnóstico de enfermagem e os resultados que serão esperados dos cuidados. As prioridades do utente estão em constante mudança, assim, conforme a condição deste se for alterando, devem também as prioridades no diagnóstico de enfermagem ser alteradas (RICE, 2004).
Como a frequência das visitas é limitada, o enfermeiro deve elaborar o plano tendo em conta as “necessidades básicas de sobrevivência”. Satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência do utente envolve, muitas vezes, ensinar-lhe quando deve telefonar ao médico, como deve tomar a medicação, como trabalhar com o equipamento médico e outros procedimentos dos cuidados básicos. Quando se está a planear e quando se atribui prioridade aos cuidados prestados e posteriores intervenções do enfermeiro, deve ter-se sempre em conta a opinião do utente.
O passo seguinte na fase de planeamento é o reconhecimento dos objectivos e resultados esperados dos cuidados, que devem reflectir o diagnóstico do enfermeiro e o plano geral de cuidados. Estes objectivos e resultados servem para orientar as intervenções do enfermeiro, fazendo com que as actividades decorram de acordo com o ritmo estabelecido no plano de cuidados. Tanto os objectivos como os resultados dos cuidados devem ser descritos segundo as opiniões do utente e não as do enfermeiro. Ou seja, os objectivos e resultados devem reflectir as respostas observadas no utente, não as actividades realizadas pelo enfermeiro (RICE, 2004).
Os objectivos podem definir-se como resultados de cuidados a longo prazo, que devem coincidir com a dispensa dos serviços.
Os resultados dos cuidados são exactos, mensuráveis e reflectem o caminho a percorrer até se atingir o objectivo pretendido. O utente deve ser também, encorajado a estabelecer os seus próprios objectivos e resultados esperados dos cuidados.
Execução:
Após identificação dos objectivos a curto e a longo prazo, o enfermeiro, em conjunto com o utente/prestador de cuidados e a equipa multidisciplinar, passa à identificação de intervenções, actividades, ou terapias específicas que vão ajudar o utente a atingir os resultados pretendidos. Embora sejam orientadas pelo médico e iniciadas pelo enfermeiro, as intervenções no domicílio são geralmente de natureza improvisadora. O que resulta para um utente, poderá não resultar para outro, assim sendo, as recomendações para os cuidados podem ser determinadas através de tentativas e erros (RISE, 2004).
O pôr em prática do plano de cuidados pelo enfermeiro no seu papel de gestor de caso envolve troca de informações com o utente/prestador de cuidados, planeamento de relatórios, realização de reuniões com a equipa multidisciplinar e, como defensor do utente, informar-se sobre os recursos existentes na comunidade. O enfermeiro tem como intervenções específicas uma grande variedade de procedimentos, tais como mudar pensos, administrar medicamentos, terapias intravenosas e mudar algalias.
A fase prática deve incluir a integração do plano de cuidados e do plano de cuidados do utente no ambiente do utente, estando este responsável pela gestão do auto cuidado, o qual inclui aprendizagem, avaliação e decisões pessoais para alcançar o nível optimizado de saúde. O utente obtém, assim, conhecimento, discernimento e confiança à medida que vai recebendo apoio e incentivo por parte do enfermeiro (RICE, 2004).
Fase de avaliação:
A avaliação é o quinto passo na elaboração do processo de enfermagem e serve para averiguar o sucesso do tratamento e a utilização adequada dos recursos. A avaliação possibilita determinar o progresso do utente em relação aos resultados esperados dos cuidados e objectivos a longo prazo, para além de que, fornece normas precisas para verificação da melhoria de qualidade.
Quando os objectivos ou resultados dos cuidados forem alcançados, ou for decidido que o utente já não necessita, ou já não se enquadra nos parâmetros estipulados para receber este tipo de cuidados, os serviços são dispensados (RISE, 2004).
7- AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES DO IDOSO
Os idosos com o decorrer dos anos adquirem doenças crónicas, resultando em vários graus de incapacidade. No entanto, este facto não é verdadeiro para todos os idosos. Alguns deles continuam a ser vigorosos em todos os aspectos da vida, apesar dos seus 80, 90 anos.Mas, é facto garantido que o número de idosos que apresentam alguma incapacidade de realizar as suas funções habituais aumentou nos últimos anos. Estes idosos podem ser considerados frágeis, e serão eles que precisarão de assistência e cuidados de longo prazo para continuar a poder manter uma vida independente dentro do possível (Duthie, 2002).
Para determinar a assistência necessária para a população idosa, os profissionais de saúde devem conduzir uma avaliação das necessidades dos idosos.
Avaliação da função física:
Limitações da capacidade de uma pessoa realizar actividades físicas diárias comuns são a causa mais comum da necessidade de uma assistência de maior duração (Duthie, 2002).
A avaliação da função física é parte do trabalho de diagnostico de um paciente idoso, é necessário determinar as características funcionais de um paciente e direccioná-los no plano terapêutico, sem importar quais as causas subjacentes (Duthie, 2002).
O desenvolvimento de uma abordagem útil e consistente para a avaliação da função física é devida ao trabalho de Katz e seus colaboradores que definiram as actividades de dia-a-dia (Quadro 1) e, Lawton e Brody, que definiram as actividades instrumentais do dia-a-dia (Quadro 2) (Duthie, 2002).
As actividades do dia-a-dia podem ser categorizadas como actividades de auto-cuidado pessoal, como auto-alimentação, vestir-se e despir-se; actividades que envolvam a movimentação independente, manutenção do controle urinário e função intestinal.
As AIDD envolvem a capacidade de uma pessoa manipular o seu ambiente, isto é, que seja capaz de procurar e preparar a sua alimentação, lavar a roupa e limpar a casa, ou ate mesmo ir a actividades necessárias ou desejáveis fora de sua casa (Duthie, 2002).
Uma falta de capacidade de realizar estas funções por si próprias significa que algum tipo de assistência é necessário. Na avaliação destas características é essencial não só o que a pessoa pode fazer, mas também o que ela faz com base em observações directas, relatos e registos de um observador de confiança, como um membro de família ou um profissional (Duthie, 2002).
Avaliação das funções mental, emocional e psicocomportamental:
Limitações na função mental podem resultar na perda de autonomia, que é tão grave como as perdas causadas por problemas relacionadas à função física, contribuindo para limitações nas ADD e AIDD. Perdas da função mental geralmente necessitam de tipos de assistência diferentes das necessárias para compensar as necessidades físicas (Duthie, 2002).
Diversos testes curtos para avaliar a função cognitiva, mental são amplamente usados. Cada um deles avalia a orientação do indivíduo, memória recente e passada, capacidade de fazer contas e de reproduzir uma forma geométrica. (Duthie, 2002).
É ainda útil aplicar um dos testes, com parte regular da avaliação de um idoso para identificar qualquer evidência aparente de demência. O profissional de saúde deve estar atento também a outros distúrbios mentais que podem apresentar grandes efeitos sobre a função mental, tais como a depressão, delírio e estados psicóticos paranóicos (Duthie, 2002).
Necessidades do Idoso segundo Virginia Henderson
Virginia Henderson definiu que o ser humano tem catorze necessidades básicas. A equipa de saúde, nomeadamente o Enfermeiro, aquando da avaliação das necessidades do idoso, deve ter presente, em mente, as catorze necessidades humanas básicas: respirar, comer e beber, eliminar, dormir e repousar, estar limpo e proteger os tegumentos, vestir e despir, manter a temperatura corporal, movimentar-se e manter a postura correcta, evitar os perigos e manter a integridade física e mental, comunicar-se com seus semelhantes e assumir sua sexualidade, agir de acordo com suas crenças e valores, aprender, divertir-se e ocupar-se com vistas à sua realização (Nunes, 2003).
Das catorze destacamos as seguintes:
- Respiração: Os idosos podem apresentar dificuldades a este nível devido a alterações fisiológicas e doenças já existentes. As necessidades de cuidado quanto à respiração resumem-se ao acompanhamento clínico do idoso pela equipa de profissionais de saúde, destacando-se a importância de avaliar e estabelecer condutas de acordo com os sinais e sintomas encontrados, assim como considerar os factores de risco e as doenças crónicas que interferem na função respiratória (Nunes, 2003).
- Alimentação e Hidratação: A dieta do idoso pode estar comprometida devido a ausência total ou parcial de dentes, uso de próteses inadequadas, perda de apetite, assim como a presença de doenças que afectam as necessidades nutricionais do idoso. Aos profissionais de saúde, cabe avaliar os factores que podem interferir na adequada alimentação e hidratação das pessoas idosas, fornecendo ao cuidador e ao próprio idoso, se possível, orientações quanto aos cuidados específicos em relação a essa necessidade (Nunes, 2003).
- Eliminação: Poderão ocorrer alterações a nível de incontinência urinária, fecal ou obstipação. A incontinência urinária interfere nas outras necessidades básicas, como: diminuição na ingestão de líquidos, porque o idoso tem medo de não controlar as micções; sente receio de urinar quando se mexe ou caminha; no sono, devido ao desconforto produzido por roupas de cama molhadas; no vestuário, associada ou não à aceitação ou não de usar fraldas ou outros dispositivos; na integridade da pele; na comunicação, podendo levar ao isolamento social; na temperatura corporal, associada à exposição prolongada a um leito frio e húmido. Nesse sentido, a equipe de saúde deve avaliar as alterações da eliminação urinária e fecal, investigando as condições patológicas e dar suporte aos cuidadores e aos idosos para a superação dos problemas existentes (Nunes, 2003).
- Sono e repouso: Grande percentagem dos idosos faz medicação para dormir, sendo os distúrbios de sono mais frequentes a sonolência durante o dia e a dificuldade em adormecer e manter o sono durante a noite e aqueles relacionados com problemas de saúde já existentes como DPOC, problemas cardíacos ou sequelas de fracturas. Compete à equipa de saúde diferenciar as alterações do sono relacionadas com o envelhecimento, das relacionadas com patologias associadas ao idoso que podem interferir com o seu sono (ex: demências, incontinência, dores). A equipa deve ter em conta que o idoso fica mais vulnerável aos efeitos secundários da medicação para dormir, levando à sonolência diurna, aumentando assim o risco de queda, risco esse que se aplica também a idosos com incontinência quando se levantam durante a noite. Tendo em conta estes factores, a equipa de saúde deve trabalhar com os cuidadores para se propiciar um ambiente seguro (Nunes, 2003).
- Higiene Corporal, protecção dos tegumentos, vestuário: a dificuldade na satisfação destas necessidades deve-se sobretudo à presença de patologias associadas e que alteram as suas capacidades tais como: Parkinson, hemiplegia, amputações, fracturas, relacionadas com perda de coordenação motora e força muscular. O cuidador necessita informações e conhecimentos a respeito das necessidades de higienização e promoção do conforto do indivíduo idoso. Cabe ao profissional de saúde trabalhar essas questões, nas visitas domiciliares (Nunes, 2003).
- Locomoção e Mobilidade: Os idosos apresentam limitações na mobilidade e locomoção devido aos problemas de saúde já referidos anteriormente. Os idosos tendem a manter-se na cama ou cadeira devido às suas queixas. Quando assim acontece, torna-se importante a orientação dos cuidadores em relação aos benefícios da locomoção e a atenção que devem dar às habilidades do idoso, para que possam ser estimulados a manter o máximo de autonomia e independência na realização de actividades.
- Regulação da temperatura: Segundo Mailloux-Poirier (1995) citado por Nunes (2003), os idosos são capazes de manter a temperatura dentro dos limites normais, mas têm a capacidade de adaptação a variações extremas comprometidas.
“Dessa forma, destaca-se a importância de se orientar os cuidadores no sentido de estarem atentos quanto aos recursos utilizados para manter o domicílio aquecido, o uso de roupas e calçados adequados ao conforto do idoso. Os idosos, que estão com a mobilidade e locomoção comprometidas, devem receber auxílio para se vestir e se despir, bem como na transferência para um lugar mais adequado no domicílio, quando
houver necessidade.” (Nunes, 2003).
- Evitar os perigos e manter a integridade física e mental: Os idosos apresentam um certo grau de ansiedade e stress relacionados com o receio de sofrer algum acidente. Assim, a equipa de saúde deve fazer visitas ao domicílio com vista a avaliar as condições do ambiente em que se encontra o idoso, identificando e alertando o idoso e a sua família para as situações de risco, elaborando em conjunto medidas de prevenção de acidentes.
Quadro 1:
| Avaliação das actividades do Dia-a-dia | |
| Avaliar se a pessoa pode realizar cada actividade independentemente, se ele ou ela precisa de uma supervisão parcial ou assistência, e se ele ou ela é completamente dependente dos outros | |
| Auto Cuidado Pessoal | - Auto Alimentação - Banho - Higiene Pessoal |
| Mobilidade | - Capacidade de se mover da cama para uma posição em pé ou para uma cadeira - Capacidade de andar (com ou sem equipamentos de auxilio) ou de utilizar uma cadeira de rodas |
| Continência | - Continência da urina: sempre ou raramente incontinente, ou frequentemente ou geralmente continente - Continência das fezes |
| Avaliação das actividades instrumentais do Dia-a-dia | |
| Avaliar se a pessoa pode realizar cada necessária para lidar com o seu meio ambiente independentemente ou se ele ou ela é dependente dos outros | |
| Dentro de Casa | - Cozinhando - Limpando a casa - Lavando a roupa - Uso de medicamentos - Uso de telefone - Uso de contas pessoais |
| Fora de Casa | - Compra comida, roupa, remédios, etc. - uso de transporte para viajar para actividades necessárias ou desejadas (ex: consultas clínicas, eventos religiosos ou sociais) |
Para determinar, objectivamente as necessidades da população onde nos encontramos a desenvolver o nosso ensino clínico procedemos à elaboração de um formulário, que é apresentado no Anexo I deste trabalho.
8- CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho veio colmatar alguns défices de conhecimento em relação às temáticas abordadas.
Além disso, demonstra o quanto é importante saber quais as necessidades que a população idosa apresenta, para que nós, enfermeiros, como prestadores de cuidados, possamos formular um plano de acção adequado aos problemas relatados pessoalmente por esta faixa etária.
A documentação bibliográfica encontrada foi bastante pertinente e adequada, uma vez que, proporcionou rever e aprofundar conhecimentos indispensáveis para alcançar os objectivos propostos.
Constatámos ainda, que as alterações fisiológicas, estruturais e psicológicas que afectam o idoso são bastantes e podem com o passar do tempo transformar o idoso num indivíduo com necessidade de cuidados parciais ou totais durante um longo período da sua vida.
No entanto, sabemos que a “velhice” faz parte do ciclo vital, sendo impossível ignora-la, logo resta- nos proporcionar dignidade e Qualidade de Vida na última etapa da sua existência.
Na nossa perspectiva, os objectivos propostos foram cumpridos, contribuindo para o nosso crescimento pessoal e profissional na área da Saúde do Idoso.
BIBLIOGRAFIA
ALVES, José Ferreira – Vozes da idade: desenvolvimento narrativo em gerontopsicologia. Instituto de educação e psicologia: Universidade do Minho, 1996;
BRERETON, Louise, NOLAN, Mike – Seeking : a key activity for new family carers of stroke survivors. Journal of Clinical Nursing [em linha].Vol. 11, Jan. 2002, actual. (Dez. 2007). [Consult. 3 Agosto 2008]. Disponível na Internet:URL:http://search.ebscohost.com: ;
BRITO, Luísa - A saúde Mental dos Prestadores de Cuidados a Familiares Idosos. Coimbra, Quarteto Editora, 2002;
CLARK, M.; RUBENACH, S.; WINSOR, A– A randomized controlled trial an education and counselling intervention for families after stroke. Clinical Rehabilitation [Em linha]. 2003, actual. (Dez. 2007). [Consult. 3 Agosto 2008]. Disponível na Internet:URL:http://search.ebscohost.com: ;
CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS – Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Associação Portuguesa de Enfermeiros. Versão 1. Lisboa. 2006;
COSTA, Ana Cristina – Contornos Bio-Psico-Sociais do Envelhecimento. Revista Hospitalidade. Lisboa: ano 67, nº 260, Abril-Junho 2003;
Direcção – Geral de Saúde: Plano Nacional de saúde para pessoas idosas. Lisboa, 2004;
DRAKE, Pamela [et al.]- Family, Friend, and Neighbor Child Caregivers: Results of a Statewide Study to Determine Needs and Desires for Support. Early Childhood Education Journal [Em linha]. Vol. 33 Feb. 2006, actual. (Dez. 2007). [Consult. 3 Agosto 2008]. Disponível na Internet:<URL:http://search.ebscohost.com: >.;
DUTHIE, Edmund H; KATZ, Paul R. – Geriatria Prática. Revinter, 2002;
ERMINDA, José Gomes - Processo de Envelhecimento. Manual Sinais Vitais – O idoso: problema e realidade. Coimbra: Formasau, 1999;
FEINBERG, Lynn F. - The State of the Art of Caregiver Assessment. Generations [Em linha]. Vol. 27 Inverno 2003/2004, actual. (Dez. 2007). [Consult. 2 Agosto 2008]. Disponível na Internet:URL:http://search.ebscohost.com: ;
FIGUEIREDO, Daniela; Sousa Liliana- “Cuidadores de idosos na Europa”: Um instrumento de avaliação das necessidades dos prestadores informais de cuidados a idosos. Psychologia:Coimbra nº31 (2002), p.153-159 ;
FREITAS, Elizabete Viana de Py [et al] – Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cop.2, 2002;
LADISLAS, Robert. – O Envelhecimento. Medicina e Saúde. Lisboa: Instituto Piaget, 1994;
MARQUES, Sónia Catarina Lopes – Os cuidadores informais de doentes com Acidente Vascular Cerebral. Coimbra: Formasau, 2007;
MARTINS, Teresa – Acidente vascular cerebral: qualidade de vida e bem-estar dos doentes e familiares cuidadores. Coimbra: Formasau, 2006;
MATOS, M - Comunicação e Gestão de Conflitos na Escola. Lisboa: FMH edições, 1998;
MATSUDO, S; MATSUDO, V. - Prescrição e Benefícios da Actividade Física na Terceira e Idade. Revista da Educação Física e Desporto, vol. IX, nº53. Lisboa: Horizonte, 1993;
MEIER-RUGE, – O idoso do Século XXI [em linha]. [Consult. 11 Agosto 2008]. Disponível em WWW: <URL: http://www.viver.org/idoso.html ;
NOLAN, Michael - Developing a typology of family care: implications for nurses and other service providers. Journal Of Advanced Nursing; [Em linha]. Vol. 21 (2), Feb. 1995, actual. (Dez. 2007). [Consult. 3 Agosto 2008]. Disponível na Internet:<URL:http://search.ebscohost.com:>.
NOLAN, Michael; GRANT, Gordon – Addressing the needs of informal carers: a neglected area of nursing practice. Journal of Advanced Nursing [Em linha]. Nº14 (1989, actual. (Dez. 2007). [Consult. 3 Agosto 2008]]. Disponível na Internet:URL:http://search.ebscohost.com: ;
NUNES, Lilia, M.; PORTELLA, Marilene, R. - O idoso fragilizado no domicílio: a problemática encontrada na atenção básica em saúde. Boletim da Saúde. Porto Alegre, Vol. 17, nº 2 (Jul/Dez, 2003);
PADILHA, José - Preparação da pessoa hospitalizada para o regresso a casa: conhecimentos e capacidades para uma eficaz resposta humana aos desafios de saúde. Porto, 2006;
PETRONILHO, F. - Preparação do regresso a casa, evolução de saúde do doente dependente no autocuidado e dos conhecimentos e capacidades do membro de família prestador de cuidados, entre o momento da alta e uma mês após no domicilio. Porto: 2006;
PORTUGAL, Instituto Nacional de Estatística – Destaque, informação à comunicação social: dia mundial da população 11 de Julho de 2007 [em linha], pág 5-7 Lisboa, INE, [Consult. 1 Agosto 2008]. Disponível na Internet: URL: http://www.ine.pt ;
PORTUGAL, Instituto Nacional de Estatística – Dinâmicas territoriais do envelhecimento:análise exploratória dos resultados dos Censos 91 e 2001 [em linha], Lisboa, INE, [Consult. 5 Agosto 2008]. Disponível na Internet: URL: http://www.ine.pt ;
RICE, Robyn – Prática de enfermagem nos cuidados domiciliários. Lusociência, 3ª edição, 2004;
SANTOS, Paulo - O familiar cuidador em ambiente domiciliário: sobrecarga física, emocional e social. Lisboa, 2005;
SHYU, Yea-Ing Lotus - The needs of family caregivers of frail elders during the transition from hospital to home: a Taiwanese sample. Journal of Advanced Nursing. [Em linha]. Vol. 32, Set. 2000, actual. (Dez. 2007). [Consult. 10 Agosto 2008]. Disponível na Internet:<URL:http://search.ebscohost.com: > ;
SPIRDUSO, W. - Physical Dimensions of Aging. Human Kinetics: United States of America, 1995;