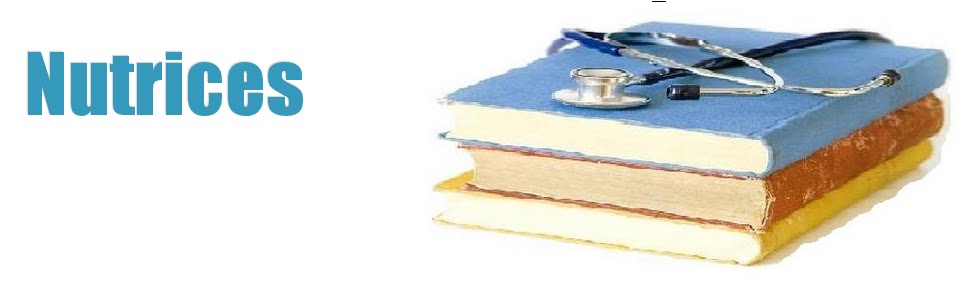Os cuidados paliativos são a resposta adequada dos cuidados de saúde para um doente que está numa situação de doença progressiva, irreversível e já numa fase terminal. O termo paliativo deriva do étimo latino pallum, que significa manto, capa.
Os tratamentos curativos tornam-se inúteis e desnecessários e devem ceder lugar aos designados cuidados paliativos. Estes consistem em “cuidados totais e activos prestados aos enfermos cuja doença já não responde ao tratamento curativo, com o objectivo de obter a melhor qualidade de vida possível até que a morte ocorra, controlando a dor e os outros sintomas e integrando aspectos psicológicos e espirituais nesses cuidados”[1].
Dito de outra forma, a Organização mundial de Saúde (1990) dirá que os cuidados paliativos são “Cuidados activos completos, dados aos doentes cuja afecção não responde ao tratamento curativo. A luta contra a dor e outros sintomas, e a tomada em consideração dos problemas psicológicos, sociais e espirituais são primordiais. O objectivo principal dos cuidados paliativos é manter a qualidade de vida a um nível óptimo, para os doentes e para a sua família”.
Estas duas definições têm em comum a afirmação de que os cuidados paliativos têm como preocupação central o alívio da dor e de outros sintomas, com a finalidade de assegurar ao doente em fase terminal a máxima qualidade de vida possível. Há ainda a importância de cuidar o doente de uma forma holística, tendo em conta os aspectos psicológicos, sociais e espirituais.
O termo paliativo deriva do étimo latino pallum, que significa manto, capa.
A partir desta reflexão e dos conhecimentos inerentes à prática de enfermagem, salienta-se os principais objectivos dos cuidados paliativos:
Þ Prestar cuidados individualizados, tendo em conta a singularidade de cada ser humano e todas as dimensões do seu ser;
Þ Prevenir a dor ou, pelo menos, torná-la tolerável, através de uma prescrição e administração contínua de analgésicos e outras medidas complementares;
Þ Aliviar outros sintomas causados pela doença ou pela medicação, como por exemplo náuseas, anorexia, diarreia ou obstipação;
Þ Oferecer apoio relacional, moral, espiritual e religioso ao doente em fase terminal e família;
Þ Contribuir para promover a qualidade de vida do doente até a morte,
Þ Apoiar a família durante o processo de morte e de luto.
Os cuidados paliativos são também conhecidos como “cuidados continuados” porque, não admitindo em circunstância alguma uma interrupção dos cuidados a prestar ao doente, devem ir gradualmente tomando o lugar dos cuidados curativos à medida que a esperança de cura vai diminuindo. A medicina curativa e a medicina paliativa não se podem excluir mutuamente. Segundo M. Gonzaléz Barón “O que terá de variar segundo os momentos evolutivos e as circunstâncias particulares de cada doente será a ponderação, a dedicação e a intensidade de cada uma destas atitudes”.
São ainda designados como “cuidados de acompanhamento” porque se mantêm sempre presentes, acompanhando toda a evolução da doença até ao termo de vida e também porque proporcionam uma constante presença de apoio à pessoa em fim de vida.
Os cuidados paliativos visam, pois, recuperar a vertente humana de cuidar que durante décadas foi esquecida. De facto, durante muito tempo assistiu-se a uma excessiva valorização dos aspectos técnicos e científicos acompanhada por uma crescente despersonalização e desumanização dos cuidados de saúde. Hoje, procura-se finalmente restabelecer o equilíbrio, associando aos conhecimentos técnico-científicos a arte de acompanhar humanamente todas as pessoas que se encontram em fim de vida.
Os “Cuidados paliativos” são também uma forma de entender e atender os doentes terminais. É uma nova especialidade de cuidados ao doente terminal, que contempla o problema da morte do homem numa perspectiva profundamente humana, reconhecendo a dignidade da pessoa no âmbito do grave sofrimento físico e psíquico que o fim da existência humana muitas vezes comporta.
Nas Unidades de Cuidados Paliativos, que são áreas assistenciais, proporciona-se uma atenção integral ao doente terminal. Uma equipa de profissionais assiste estes doentes na fase final da sua doença, com o único objectivo de melhorar a qualidade da sua vida nesta etapa final irreversível, atendendo às suas necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais do doente e da sua família.
As necessidades físicas advêm das graves limitações corporais e sobretudo da dor, especialmente em casos de cancro, já que este atinge 80% dos doentes terminais. Se os cuidados paliativos visam a diminuição da dor, esta dor deve de ser encarada de uma forma global. O profissional de saúde deve agir, sempre, à luz do respeito pela autonomia e dignidade humana, bem como do princípio da beneficência. Desta forma, torna-se essencial, não só aliviar o “sofrimento somático”, no sentido de devolver a autonomia do doente, como o “sofrimento psicológico” inerente ao significado que poderão ter os últimos momentos de vida. Este será o grande desafio ético que se coloca ao profissional de saúde.
Desta forma, para além de um conhecimento do sofrimento e das formas de o aliviar, torna-se fundamental uma atitude de disponibilidade e de solidariedade que permitam um livre desempenho de autonomia por parte do doente. Neste sentido, e à luz do princípio da beneficência, devem evitar-se meios desproporcionados de tratamento que não tragam nenhuma mais valia para a pessoa.
As necessidades psicológicas são evidentes. O doente precisa de se sentir seguro, precisa de confiar na equipa de profissionais que o trata, de ter a segurança de uma companhia que o apoie e não o abandone. Necessita de amar e ser amado.
As necessidades sociais do doente terminal não são menos importantes para atenuar esta fase tão penosa. A doença terminal causa em quem a padece dela e na sua família um intenso desgaste e não são poucos os desajustes familiares. Frequentemente, toda a atenção dos membros da família concentra-se no elemento doente e, se a sobrevivência se prolonga, o desajuste pode ser duradouro.
1. A EVOLUÇÃO DOS CUIDADOS PALIATIVOS
Os cuidados paliativos surgiram do sentimento da impotência comum aos profissionais de saúde face a doentes considerados como incuráveis e da sua preocupação em lhes prestar cuidados adequados durante o final de vida. Este desejo profundo de não abandonar os doentes em fase terminal foi crescendo à medida que os profissionais de saúde começaram a compreender que, mesmo após esgotadas as possibilidades de cura de um doente, há ainda muito a fazer por ele.
De facto, a atitude mais generalizada perante um doente incurável era, pensar que o papel do profissional de saúde terminava a partir do momento em que se reconhecesse a inexistência de possibilidades de recuperação. Em relação ao doente, acabava por se aperceber da mudança de atitudes dos profissionais de saúde, sentindo que se lhe dirigiam cada vez mais raramente, que as acções médicas perdiam empenhamento e se limitavam progressivamente à rotina, que era quase abandonado, deixado só...Fazendo crescer o desejo de morrer.
Foi a partir daqui que Cicely Saunders chamou a atenção para o facto de que, mesmo quando aparentemente já não há nada a fazer, há sempre efectivamente qualquer coisa a fazer, uma vez que quando o tratar já não é possível torna-se ainda mais importante o cuidar. Quando já não se espera a cura, resta ainda um campo imenso de actuação: aliviar a dor, tratar dos sintomas, e prestar atenção às interrogações e aspirações morais e espirituais do doente e da família, isto é, o que será definido como “cuidados paliativos”.
A institucionalização dos cuidados paliativos começou na Inglaterra, nos anos sessenta com um objectivo bastante importante: “juntar vida aos dias e dias à vida”, o que significa a promoção da qualidade de vida, eliminando sofrimentos inúteis e, consequentemente, suavizar o processo de morte.
Deve-se pois a Cicely Saunders a liderança de um esforço que tornou possível a estruturação de cuidados específicos para doentes em fase terminal, numa franca humanização dos cuidados de saúde prestados a doentes sem qualquer esperança de recuperação. Foi a fundadora do Saint Cristopher’s Hospice em Londres, uma instituição exclusivamente dedicada a doentes em fase terminal, onde estes passaram a beneficiar em simultâneo de cuidados médicos e de acompanhamento humano adequado até à morte[2].
Cicely Saunders era apologista que os doentes em fase terminal já não precisavam de cuidados curativos, mas sim de cuidados paliativos, tendo como principais objectivos o alívio da dor e o conforto do doente em fase terminal. Considerava fundamental cuidar do doente como um todo, uma vez que é também como um todo que o doente sofre. Introduziu pela primeira vez a designação de “dor total” que se refere não só a dor física, mas também ao sofrimento psicológico e espiritual que acompanha geralmente toda a dor do doente em fim de vida. Chamou ainda a atenção para o facto de esta “dor total” estar associada também ao medo, angústia e às múltiplas perdas que se sucedem, absorvendo toda a pessoa. Cicely Saunders concluiu também que o importante é impedir que o doente tenha dor e que a dose óptima de morfina para cada doente é a que lhe tira a dor de forma eficaz, mantendo-o dentro do possível acordado.
Cicely Saunders tornou-se assim, a pioneira dos cuidados paliativos e o Saint Cristopher’s Hospice tornou-se uma instituição modelo do cuidar de doentes em fase terminal. Este exemplo foi rapidamente seguido pelos Estados Unidos da América, Canadá e em vários países europeus e deu origem a um movimento ainda em expansão. Nos últimos vinte anos, continuam a criar-se unidades de saúde que proporcionam cuidados paliativos aos doentes em fase terminal, tanto para os internados em unidades hospitalares como para os que estão nas suas casas. Presentemente os cuidados paliativos são hoje reconhecidos como uma especialidade medica, pois porque cada vez mais se compreende a singularidade de um doente em fim de vida e a sua consequente necessidade de cuidados muito específicos. Este aumento de instituições especificamente dirigidas aos cuidados paliativos acontece ainda como resposta à necessidade por parte dos doentes e das suas famílias de um lugar diferente do hospital, em que existam também diferentes regimes de convívio, de visitas, de refeições, de ocupação de tempos livres e que permitam ajudar as pessoas a viver melhor os últimos dias ou momentos. “ O hospício não é um hospital, é um lugar para doentes terminais, onde uma equipa de médicos, enfermeiras, assistentes sociais, capelães e voluntários, com uma mesma filosofia sobre a morte tentam prestar os cuidados que os doentes e os seu familiares precisam na fase terminal da doença. Para eles, a morte não é uma derrota mas uma realidade da vida com o nascimento”, afirma R.V. Molins, Ética para enfermagem: um programa de formação.
2. SITUAÇÕES MAIS FREQUENTES QUE DETERMINAM A PRESTAÇAO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Podemos afirmar que uma pessoa se encontra em fase terminal quando, entre muitos, se verificam os seguintes aspectos:
Þ Existência de uma doença crónica ou incurável e de evolução progressiva;
Þ Ineficácia comprovada dos tratamentos;
Þ Esperança de vida relativamente curta
Þ Perda da esperança de recuperação
O processo que conduz à fase terminal começa habitualmente quando uma pessoa procura um médico a fim de tentar averiguar a origem das suas queixas e de restaurar a saúde e, após varias consultas e exames complementares de diagnóstico, recebe a notícia de ser “portadora de uma doença incurável”.
A partir de então a pessoa tende a viver intensamente ligada à ideia de morte iminente. A sua vida passa por muitas vezes a ser organizada em função da doença e frequentemente pode ter de alterar os seus padrões de vida habitual. Deixa de poder fazer projectos a longo prazo, absorvida pela certeza da inevitabilidade de uma morte próxima.
Ao longo do percurso da doença, a pessoa doente vai atravessando períodos de alterações extremas que podem ser de uma melhoria de sintomas e uma certa estabilização, alternando com períodos de exacerbação e progressão. A alternância de ritmo no processo de doença conducente à morte é particularmente evidente em pessoas com neoplasias, SIDA e doenças crónicas progressivas tais como a cirrose hepática, a doença pulmonar crónica obstrutiva, as doenças degenerativas do sistema nervoso central, a diabetes, a hipertensão, etc. Assim, algumas vezes passa por fases em que a pessoa se sente tão bem que acaba por se iludir com a possibilidade de cura e quase não acredita que possa estar doente, contrastando com outras em que a sua situação se mostra instável e assustadora pela sintomatologia que apresenta e em que se sente muito confusa, podendo mesmo entrar em desespero. Estas alterações de períodos de estabilidade com outros de descompensação podem manter-se durante meses, ou mesmo até anos.
À medida que a doença vai evoluindo, os períodos de agudização aumentam quer ao nível de intensidade, quer ao nível de duração. O doente começa a apresentar cada vez menos períodos de melhoria e sendo evidente o agravamento de toda a sua situação patológica. As crises tornam-se cada vez mais difíceis de suportar pela própria pessoa e mais difíceis de serem controladas pela medicina.
As limitações físicas, que normalmente acompanham a doença, vão-se também acentuando cada vez mais: a pessoa pode passar a ter dificuldade em sair sem ser acompanhada, e mais tarde pode até ter alterações da mobilidade que a levem a necessitar permanentemente da ajuda de outros. Começam depois a surgir novas sintomatologias tais como a diminuição do apetite, náuseas, perda de peso, e sobretudo, a dor que vai aumentando de intensidade, levando a pessoa à consciencialização gradual da proximidade da morte.
Os tratamentos considerados adequados começam sucessivamente a fracassar e o leque de alternativas vai-se reduzindo gradualmente. A juntar-se a ideia de incurabilidade, vem juntar-se a ideia de morte próxima e irreversível.
A expressão “doente em fase terminal” é assim, normalmente aplicada a todas as pessoas com uma doença crónica e/ou incurável e que se tornam numa fase irreversível e de agravamento dos sintomas, indícios de proximidade da morte. A morte anonimamente inevitável para todos, transmuta-se, identificando-se através do seu carácter irreversível, e tornando-se uma certeza cada vez mais próxima; ou seja, já não está num horizonte mais ou menos longínquo, mas é morte próxima, morte para breve; também já não é apenas a repetição de um evento comum, mas a sua morte, a morte daquela pessoa singular.
O prognóstico de sobrevivência torna-se, pois gradualmente mais curto, à medida que a situação do doente evidencia mau estado geral, debilidade e dependência. Assiste-se a partir daí, a um ainda mais crescente e acentuado agravamento do estado geral do doente de tal forma que a proximidade da morte se torna por demais evidente para a própria pessoa e para todos aqueles que convivem de perto com ela.
Um novo agravamento da doença pode equivaler agra à imobilidade, permanência na cama, dificuldades na alimentação, necessidade de hidratação parenteral, incontinência de esfíncteres, presença de úlceras de decúbito, infecções, dor intensa, ou mesmo insuficiência orgânica grave (renal, hepática, pulmonar ou cerebral), de acordo com a situação patológica de base.
A eventual esperança vã de recuperação, vai, assim, desaparecendo e dando lugar a um conjunto de sentimentos e manifestações muito específicos, únicos, singulares e de carácter vivencial, mas dificilmente verbalizáveis.
3. LOCAIS ONDE SE PRESTAM CUIDADOS PALIATIVOS
Apesar da pertinência da resposta advogada pelos cuidados paliativos para as questões em torno da humanização dos cuidados de saúde e do seu inequívoco interesse público, o certo é que hoje, no início do séc. XXI, este tipo de cuidados não está ainda suficientemente divulgado e acessível àqueles que deles carecem.
No nosso país, mais concretamente, podemos dizer que os serviços qualificados e devidamente organizados são escassos e insuficientes para as necessidades detectadas – basta lembrarmo-nos que o cancro é a segunda causa de morte em Portugal, e com tendência para aumentar. Além disso, importa reforçar que os cuidados paliativos são prestados com base nas necessidades dos doentes e famílias e não com base no seu diagnóstico. E não são apenas os idosos e outras pessoas com outras patologias anteriormente referidas que precisam de cuidados paliativos; o problema da doença terminal atravessa todas as faixas etárias, incluindo a infância. Estamos por isso, a falar de um grupo vastíssimo de pessoas – dezenas de milhar com toda a certeza; e de um problema que atinge praticamente todas as famílias portuguesas. Em Portugal existem 7 unidades de prestação de cuidados paliativos que, apesar dos esforços, ainda continuam a ser insuficientes:
Þ Unidade do IPO do Porto – Directora: Dra. Edna Gonçalves
Þ Equipa de suporte do Hospital de S. João – Coordenadora: Dra. Conceição Pires
Þ Unidade do Hospital do Fundão – Beira Interior – Director: Dr. Lourenço Marques
Þ Unidade do IPO de Coimbra – Director: Dr. Oscar Vilão
Þ Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde de Odivelas – Coordenação: Dra. Isabel Galriça Neto, Enf.ª Fátima Ferreira e Dra. Marília Silva
Þ Unidade da Santa Casa da Misericórdia de Azeitão – Coordenador: Dr. Jorge Maria de Carvalho
Þ Unidade da Santa Casa da Misericórdia da Amadora – Directora: Dra. Maria João Ferreira.
Além destas unidades, existe a Associação Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), que é uma associação profissional, que congrega profissionais de múltiplas áreas e proveniências, que se interessam pelo desenvolvimento e prática dos cuidados paliativos. Foi fundada na Unidade do IPO do Porto há cerca de 10 anos e que pretende essencialmente:
Þ Ser um polo dinamizador dos cuidados paliativos no nosso país e um parceiro privilegiado no trabalho com autoridades responsáveis pelo desenvolvimento destes serviços
Þ Trabalhar em sinergia com organizações que visem o desenvolvimento dos cuidados paliativos e áreas a fins em Portugal e no estrangeiro
Þ Contribuir para a credibilização e garantia da qualidade das estruturas que prestam e/ou venham a prestar cuidados nesta área
Þ Apoiar os profissionais de saúde que se queiram dedicar a esta área de saúde e fortalecer a investigação científica a desenvolver.
São estes essencialmente os objectivos desta associação que conta com a participação activa dos seus sócios para atingir estes objectivos de forma a poderem reforças e melhorar o panorama da formação e prestação dos cuidados paliativos em Portugal e, como fim último e principal, melhorar a qualidade de vida dos doentes com doença avançada, incurável e/ou progressiva, e as suas famílias.
4. EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
Os cuidados paliativos são desenvolvidos por uma equipa multidisciplinar que inclui médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outros terapeutas especializados, assistentes sociais, capelão/padre, outros especialistas, voluntários e que se estende à família do doente terminal. O objectivo principal é ajudar as pessoas em fase terminal, os seus familiares e as pessoas próximas, escutando-as e acompanhando-as de forma a encontrar um novo sentido para a vida e, simultaneamente, aliviar o sofrimento e proporcionar condições de dignidade na vida, na doença e na morte. Devido ao facto de existir uma sobreposição das atribuições, a coordenação constitui um factor importante do trabalho em equipa. Os voluntários fazem parte de muitos serviços de cuidados paliativos e constituem um importante elo de ligação com a comunidade.
Mas é o enfermeiro, o elemento desta equipa multidisciplinar que mantém uma relação mais íntima com o doente, não só por permanecer nos serviços de cuidados de saúde durante um período mais prolongado, como também porque é ele que presta mais cuidados directos ao doente. Encontra-se assim numa posição privilegiada na medida em que é o elemento da equipa que, de um modo geral, conhece melhor o doente como pessoa e todo o seu contexto familiar, económico e sociocultural, o que faz com que tenha maior possibilidade de detectar as necessidades específicas do doente e saber qual a melhor forma de lhes dar a resposta mais adequada.
Desta forma, o enfermeiro é geralmente o elo de ligação entre o doente e a restante equipa multidisciplinar, transmitindo ao médico muitos pormenores de interesse relativos ao doente, pedindo a colaboração dos outros elementos da equipa, sempre que seja necessário e explicando ao doente e à família a razão de muitos procedimentos de diagnóstico terapêuticos.
O enfermeiro ocupa sempre de alguma forma um lugar central na equipa de saúde, estabelecendo ligações entre os vários profissionais envolvidos nos cuidados aos doentes.
A chave dos cuidados paliativos é a forte ligação de confiança que se cria entre a equipa de cuidados e o doente e a família. Os doentes são tratados como especialistas na forma como se sentem e no impacto subjectivo da sua doença, e os profissionais de saúde são os especialistas no diagnóstico e nas opções de tratamento. Este elo de ligação põe em igualdade todos os elementos envolvidos e exige também respeito mútuo.
Ao se prever a perda da própria vida, há um desenrolo de respostas psicológicas semelhantes às que ocorrem quando há outro tipo de perdas: perda do emprego, amputação, divorcio, luto. Estas respostas podem aparecer não nesta sequência como em conjunto ou ate mesmo nem aparecer. As oscilações dos sentimentos do doente são frequentes. Nos doentes com cancro, as respostas por vezes são mais marcadas.
Existem 3 fases:
Þ A Ruptura que se identifica pela descrença, negação, choque e desespero e que pode durar entre dias a semanas
Þ Disforia que pode ser identificada pela ansiedade, insónia, dificuldades de concentração, cólera, culpa, ruptura da actividade, tristeza e depressão e que pode levar semanas a meses.
Þ Adaptação que surge à medida que a disforia vai diminuindo e que o doente enfrenta as implicações, estabelece novas metas, recupera a esperança com novos objectivos e reinicia as suas actividades.
A negação é um mecanismo de defesa comum. Ela significa a capacidade de omitir ou minimizar a realidade ameaçadora, ignorando-a. No entanto ela pode estar associada a ansiedade manifestada de forma não verbal.
A negação representa uma forma de doente e família se adaptarem ao facto de quererem ou não saber a verdade e o desejo de evitarem a ansiedade. Se a negação persistir e interferir com a aceitação do tratamento, os planos para o futuro e as relações interpessoais, pode ser necessário a intervenção especializada.
A cólera pode ser uma reacção de média duração adequada ao diagnóstico de uma doença grave, mas se persistir pode tornar-se num problema. Se a cólera for projectada para a família ou para os profissionais de saúde, pode alienar aqueles que queiram prestar cuidados. A cólera pode também interferir na aceitação das limitações e impedir que o doente se adapte de forma positiva à incapacidade física. Se a cólera for suprimida, o doente pode-se isolar, não colaborar e até entrar em depressão.
A ansiedade está muitas vezes relacionada com a incerteza, o medo do futuro e com a ameaça de separação dos seus entes queridos.
É importante reconhecer a depressão pois os doentes têm muitas vezes uma boa resposta aos medicamentos anti depressivos. Mas muitos doentes tentam dissimular os seus sentimentos negativos.
Problemas familiares. O cancro modifica a psicodinâmica da família, tanto para melhor como para pior. Dentro das famílias existe um conflito entre a vontade de confiar e receber apoio emocional e prático, por um lado, e o desejo de proteger os entes queridos, por outro, sobretudo quando se trata de filhos ou de pais fragilizados. A conspiração do silêncio torna-se numa fonte de tensão que bloqueia a discussão aberta sobre o futuro e sobre os preparativos para a separação. Quando não é resolvida, é frequente que as pessoas em luto sintam grandes remorsos.
5. QUALIDADE DE VIDA EM CUIDADOS PALIATIVOS
Spilker (1990) propõe um modelo da qualidade de vida que estabelece relação entre eficácia do tratamento e a qualidade de vida do doente, propondo uma relação entre estes aspectos.
O tratamento médico actua sobre a doença e o doente; as acções do sistema de saúde e os efeitos do tratamento são mais ou menos filtrados pelos valores, atitudes, crenças, julgamentos do doente e influenciarão a sua acção, nomeadamente através da influência sobre o seu estado físico e capacidades, o bem-estar psicológico, a vida social e o seu estado económico e profissional.
A qualidade de vida também está relacionada com o grau de satisfação subjectiva que a pessoa sente pela vida e é influenciada por todas as dimensões da personalidade: física, psicológica, social e espiritual. Contudo, a avaliação da qualidade de vida tende a ser afectada de forma negativa, pois as tabelas existentes medem apenas alguns dos seus aspectos e não a satisfação global subjectiva.
Basicamente existe boa qualidade de vida quando as aspirações de uma pessoa são atingidas e preenchidas pela sua situação actual. Existe má qualidade de vida quando há grande divergência entre as aspirações e a situação actual. Assim, para que se possa melhorar a qualidade de vida é preciso diminuir o afastamento entre as aspirações e o que é possível alcançar.
Segundo Chantal Couvreur (1999) para promover a qualidade de vida, o mais importante, e também o mais simples, é saber escutar os doentes para saber quais são as suas reais necessidades, as suas expectativas e os seus medos. Não serve de nada querer fazer a felicidade de alguém contra a vontade do próprio, e ainda menos quando se trata de alguém que está condenado. É na escuta que se sabe quais são as acções a realizar para responder às suas necessidades.
Uma causa profunda de perturbação da qualidade de vida é a dor, sobretudo a crónica. Para a maior parte das pessoas a primeira acção será controlar as dores e os sintomas que perturbam a sua vida diariamente. Em seguida, devolver-lhes, o máximo possível, a sua dignidade humana, cuidando da sua aparência para reduzir os efeitos da doença, penteando-os, maquiando as mulheres podendo até dar alguns conselhos de estética. A estimulação do apetite também é importante propondo pequenas refeições bem apresentadas. Mas quando tudo isto está feito é necessário escutar as necessidades menos físicas, para descobrir o que se pode melhorar na sua qualidade de vida.
Para um doente será talvez organizar tudo para que possa tornar a ver o mar, ou saber quem irá cuidar do seu animal de estimação quando ele já cá não estiver.
6. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS
As necessidades de ordem física num doente em fase terminal estão relacionadas com a situação patológica concreta e, regra geral, manifestam-se com maior intensidade à medida que o processo de doença se agrava e que os mecanismos de homeostasia do corpo vão progressivamente falhando.
A dor está habitualmente presente e o seu alívio torna-se imperioso. O desconforto provocado por outra sintomatologia como, por exemplo, as náuseas, os vómitos, a dificuldade respiratória, a incontinência de esfíncteres, ou a imobilidade, também conduz à necessidade de cuidados específicos. Podem também existir problemas adicionais relacionados com a higiene e com a nutrição, a partir do momento em que os doentes deixam de se bastar a si próprios, necessitando de ajuda nos cuidados de higiene ou na alimentação. Além disso, o doente em fase terminal pode precisar de suplementos dietéticos, uma vez que esteja desnutrido ou tenha dificuldades de deglutição. Numa fase mais avançada, quando é notória a dificuldade em mobilizar-se, o doente carece igualmente de posicionamentos e mobilizações no sentido de evitar as úlceras de pressão e as infecções.
8.4 Controlo dos sintomas
Sintomas alimentares
Anorexia é comum no cancro avançado e pode estar relacionado com estômago pequeno (pós-gastrectomia), hepatomegália, ascite.
Como tratamento deve-se ajudar a família a aceitarem e a adaptarem-se à falta de apetite do doente. Os s alimentos devem ser servidos em pequena quantidade e em pratos pequenos, escolher alimentos ao gosto do doente.
A caquexia está normalmente associada à anorexia devido a perda acentuada de peso e perda de massa muscular, e ocorre em cerca de 50% dos doentes com cancro avançado.
Tratamento: o aconselhamento dietético é importante, especialmente se existirem alterações de gosto associadas. Alguns doentes beneficiam psicologicamente com suplementos alimentares em pó ou líquidos e alguns aumentam de peso.
A obstipação é comum no cancro avançado devido ao menor consumo de alimentos e fibras, falta de exercício e aos medicamentos nomeadamente aos opióides. Devido as limitações físicas do doente e a anorexia associada, os laxantes constituem geralmente o principal meio de tratamento.
A dispepsia é o mal-estar ou dor no abdómen pós-pradial, geralmente relacionada com uma perturbação funcional ou orgânica do estômago ou duodeno. Podem estar também associadas a hepatomegália ou ascite maciça.
Tratamento: os doentes devem ser aconselhados a separarem o mais possível a ingestão de líquidos da ingestão de sólidos, e a comerem pouco muitas vezes. Os doentes com pequena capacidade de estômago podem beneficiar de um antiflatulante antes das refeições.
Náuseas e vómitos estão associados a estase gástrica, da qual resulta um atraso no esvaziamento gástrico e é comum no cancro avançado. Está também associado a obstrução intestinal, anomalias farmacológicas e bioquímicas.
Tratamento: deve-se identificar primeiro as causas mais prováveis, porque delas depende o tratamento. O tratamento baseia-se essencialmente no uso de anti-eméticos como a metoclopramida.
A obstrução do trato alimentar pode ocorrer a qualquer nível. Em qualquer dos níveis a obstrução pode ser funcional (paralítica) ou mecânica ou ambas. Pode ser parcial ou completa, transitória ou persistente.
Tratamento: o tratamento pode ser cirúrgico se o doente não tiver contra indicações para ser operado, ou o tratamento pode ser médico, no alívio dos sintomas com medicamentos. O tratamento é dirigido ao alívio das náuseas e vómitos.
8.4 Sintomas respiratórios
A falta de ar que é devida a uma atrofia dos músculos respiratórios, hipoxia doença cardíaca concomitante.
Tratamento pode ser com fisioterapia ou com terapêutica.
Os soluços são um reflexo respiratório patológico caracterizado pelo espasmo do diafragma.
Tratamento agudo: reduzir a distensão gástrica responsável por muitos casos. Tratamento com medicamentos como o dimeticone e metoclopramida.
Sintomas urinários
Os principais sintomas urinários são: aumento da frequência urinaria, urgência urinaria, urgência com incontinência, incontinência de esforço, disúria, hesitação.
O tratamento principal nestes sintomas é habitualmente farmacológico.
Outro sintoma: ascite que resulta de um desequilíbrio de líquidos na cavidade peritoneal. O tratamento é a toracocentese e farmacológico.
Sofrimento e dor
A dor e o sofrimento são experiências comuns e inevitáveis na vida de cada um e de todos nós. A dor e o sofrimento são inerentes à condição humana uma vez que, de uma forma ou de outra, aparecem no percurso da vida de qualquer pessoa, como consequência da nossa fragilidade enquanto seres biológicos e da nossa sensibilidade como seres psicológicos.
A dor é uma sensação física desagradável, regra geral localizável e normalmente decorrente de uma lesão orgânica ou de uma alteração funcional; o sentimento é um sentimento generalizado, que surge na maioria das vezes relacionado com factores que têm um impacto desagradável sobre a nossa psique. O termo “dor” é em regra utilizado como sensação física, enquanto “sofrimento” é considerado como de natureza psicológica.
A dor física é em grande parte considerada como um mecanismo de defesa e como sinal de alerta, na medida em que o seu aparecimento nos pode ajudar a evitar agressões ou lesões mais graves. É também a dor o sintoma que mais vezes decide as pessoas a procurarem o médico, levando à detecção precoce de varias situações patológicas, como uma apendicite, por exemplo. No entanto, existem dores sem qualquer significado útil como a dor fantasma após uma amputação, e dores que chegam tarde demais, como é por exemplo o caso de alguns doentes com cancro. O seu alívio não é curativo nem altera o curso da doença, e contudo não se trata necessariamente de “cuidados terminais”. O alívio dos sintomas perturbadores deve começar assim que eles surgem e não ser reservado para a fase terminal. Apesar de a dor ser considerada em geral o sintoma principal no cancro, os cuidados paliativos devem ter como objectivo a melhoria de todos os sintomas perturbadores de um doente com doença maligna.
A dor é certamente um sintoma comum do cancro que afecta cerca de 70% dos doentes. Sugeriu-se que pelo menos 50% dos pacientes em tratamento continuam a sentir dor e, apesar da franca melhoria do controlo verificada nos últimos anos, continua a ser frequentemente negligenciada em favor do controlo da doença. No entanto, o crescimento dos hospitais e a sua filosofia valorizou o controlo dos sintomas e juntamente com o crescimento das equipas de cuidados paliativos nos hospitais e na comunidade chamou a atenção para a importância deste aspecto dos cuidados dos pacientes.
A dor num doente com cancro pode ser um resultado directo do cancro mas também pode não ter qualquer relação com ele – uma característica, talvez, de doença músculo-esquelética prolongada. A dor pode surgir devido aos efeitos debilitantes da doença ou até em resultado do tratamento. A cirurgia e a radioterapia podem produzir por vezes efeitos secundários dolorosos. Muitos doentes com cancro têm várias dores de diferentes fontes ou patologias, sendo importante determinar a causa provável de cada uma, para instituir o tratamento mais adequado. É ainda fundamental determinar se a dor é agravada por um processo mental e angústia ou por outras perturbações não dolorosas.
A dor associada ao cancro é crónica na duração, geralmente não tem tendência a resolver e muitas vezes acompanha-se de muitas das características psicológicas da dor crónica. Pode existir lesão irreversível do tecido nervoso que é frequentemente uma característica de outras síndromes de dor crónica. Porém, a dor do cancro também é aguda no sentido de grande parte dela resultar da estimulação de nociceptores. É um processo de doença contínuo e progressivo que produz dor por lesão tecidular, distorção e inflamação.
8. OBJECTIVOS DO CONTROLO DA DOR
È importante determinar objectivos realistas do controlo da dor, devendo-se discuti-los com o doente sempre que possível. Pode não ser possível avaliar toda a dor do cancro, mas é quase sempre possível aliviar de alguma forma os sintomas perturbadores e melhorar a qualidade de vida. A maioria dos doentes concordaria que o primeiro objectivo seria conseguir uma noite descansada. A dor que perturba o sono é talvez a mais difícil de lidar. O próximo objectivo é geralmente aliviar a dor em repouso durante o dia. O último – e geralmente o mais difícil de atingir – é a actividade sem dor. Poderá ter de haver um compromisso entre a obtenção de uma analgesia completa em movimento e os efeitos secundários inaceitáveis dos fármacos ou de outros tratamentos. Muitos pacientes aceitam este compromisso desde que sejam tranquilizados e apoiados.
Depois de estabelecidos os objectivos do controlo da dor, é útil identificar as suas origens prováveis. Isso ajuda a determinar o tratamento mais adequado. A dor visceral e a dor profunda e latejante são geralmente melhor manejadas com opiáceos. A dor que surge no si tema músculo-esquelético, especialmente se houver um elemento de inflamação, pode ser controlada por um AINE, sozinho ou combinado com opiáceo.
A compressão ou destruição do tecido nervoso resulta por vezes de dores agudas e intensas. Também pode causar uma dor tipo queimadura, geralmente associada a disestesia e alodinia, em que estímulos tácteis normais, podem produzir uma sensação dolorosa desagradável. Estas dores podem responder melhor a um anticonvulsivante ou a um antidepressivo do que a um opiáceo ou a um AINE. A dor neurogénica e a dor óssea são por vezes relativamente insensíveis aos opiáceos, sendo fundamental pensar noutro tipo de fármacos e em terapias alternativas.
8.1 Controlo da dor nos últimos dias
Nas fases terminais da doença, a administração de medicamentos pode apresentar novos problemas. O défice de consciência e as dificuldades de deglutição ou absorção podem tornar impossível a medicação oral. Quando o tratamento é apenas paliativo, muitos fármacos podem ser suspensos e outros continuados. Geralmente será necessário continuar a dar analgésicos, uma vez que a sua retirada súbita pode provocar sintomas desagradáveis. De qualquer modo, um paciente semiconsciente continuará a precisar de analgesia, especialmente se não conseguir comunicar. Os opiáceos podem ser administrados subcutaneamente e, se necessário, pode-se adicionar antieméticos e sedativos. Os outros fármacos que afectam os sistemas cardiovascular, respiratório e gastrointestinal podem ser suspensos nesta fase.
Os cuidados dos doentes terminais envolvem bem mais do que alívio da dor. Há que prestar atenção a muitos outros sintomas, bem como aos cuidados psicológicos, sociais e espirituais dos moribundos.
8.2 Cuidar do doente moribundo. A morte
A família sempre que possível, deve estar presente nos últimos momentos, o que certamente é benéfico quer para o doente, quer para os seus familiares. De facto, o doente certamente sente-se mais tranquilo por estar acompanhado de todos os que lhe são queridos e por não ter sido abandonado a morrer sozinho. A família, pelo facto de estar presente, também vai provavelmente sentir-se com a consciência mais tranquila e prevenir sentimentos futuros que possam dificultar a vivência do luto, como por exemplo não acreditar que a pessoa morreu, ou a ansiedade por não a ter acompanhado o suficiente. No entanto, nem sempre acontece que a família esteja com a pessoa quando ela morre. Neste caso, a notícia da morte é um momento ainda mais difícil para a família, pelo que o profissional de saúde deve dá-la com compreensão humana pelo sofrimento dos familiares.
8.3 Apoio aos familiares
O contacto com a família e amigos mais próximos não deve terminar quando a pessoa morre. Deve ser dada oportunidade aos familiares de, sempre que sintam necessidade, procurarem um dos profissionais que cuidou do familiar já falecido, para simplesmente conversarem, expressarem os seus sentimentos, serem ouvidos e poderem desabafar. É muito importante que a família saiba que o luto é uma reacção normal, embora seja uma experiência devastadora em que os sentimentos de perda duram, regra geral, um período prolongado de tempo e sobretudo que sinta poder ser apoiada sempre que necessitar. Esta atitude de ajudar a família no processo de luto poderá ser utópica, mas é frequente numa unidade de cuidados especificamente destinados a doentes em fase terminal. Isto é praticado na Unidade de Cuidados Continuados no Porto, os familiares podem sempre procurar qualquer um dos elementos da equipa de saúde enquanto necessitam, sendo até encaminhados para as consultas de psiquiatria sempre que se detectam processos de luto patológico.
Perante uma perda a perda importante, como a morte de uma pessoa muito querida, inicia-se um processo de luto profundamente sentido pelos restantes membros da família, os quais permanecem durante um tempo variável imersos na sua dor, da qual vão recuperando gradualmente.
São vários os factores que podem influenciar a reacção da família à morte da pessoa. A natureza da relação mantida com a pessoa falecida tem muita importância na forma como é vivido o luto. Normalmente, quando existe uma relação já muito antiga, existem vínculos muito fortes que tornam muito difícil a separação. Por outro lado, aceitar a separação é, regra geral, mais fácil para os que mantinham uma relação forte e segura com a pessoa que morreu, do que os que tinha uma relação ambivalente. Outro factor de grande influência na forma como os familiares e amigos irão viver o luto é o tipo de morte. D facto, quando a morte é esperada, o processo de luto é geralmente mais fácil, uma vez que os familiares se vão preparando lentamente para enfrentar a morte do doente. No entanto, se for um acontecimento súbito e inesperado, normalmente desencadeia um luto intenso, muito doloroso e prolongado. A forma como cada pessoa reage à morte de um ente querido vai ainda em grande parte depender da sua história pessoal em perdas anteriores e dos mecanismos individuais utilizados para fazer frente aos problemas, ou seja, da sua capacidade para enfrentar situações de crise. Também é importante referir nos antecedentes éticos e culturais da família pois têm grande influência na duração, intensidade e expressão do luto.
S. Fliggins defende que a família tem de passar por quatro tarefas importantes de modo a superar com êxito o processo de luto: a experimentar aflição e dor, ou seja, compreender que os sentimentos e as manifestações de sofrimento pela perda de um ente querido são naturais e que não devem ser escondidos nem reprimidos; aceitar a realidade da perda, isto é, compreender que a pessoa já não existe e adaptar-se à ideia de viver sem ela; desligar-se emocionalmente da pessoa falecida depois da sua morte e transmitir esses sentimentos para outro tipo de interesses, como o trabalho a amizade de amigos ocupar os tempos disponíveis. Desta forma não se deve de abreviar ou reprimir o luto, mas sim deve ser dado tempo à família para sofrer, recordar, para expressar abertamente os seus sentimentos e preocupações e para começar a planear o futuro.
8.4 Apoio aos profissionais
Trabalhar em cuidados paliativos sujeita os profissionais de saúde a numerosos factores de stress, tais como: a comunicação das más notícias; a adaptação ao insucesso da cura médica; a exposição repetida à morte de pessoas com as quais estabeleceram uma relação, conflitos emocionais; absorção da cólera e da mágoa exprimida pelo doente e família; manter um papel obscuro na equipa de saúde; as suas crenças pessoais são sujeitas a desafios.
Os pré-requisitos do auto-cuidado incluem: sentir-se amado; auto-estima; uma imagem corporal que a pessoa aceite; imaginação; criatividade; flexibilidade; humor; compaixão; capacidade para aceitar erros e competência para corrigi-los; pronto para enfrentar desafios.
Segundo BILD, R. (1994) “ Cuidar é o resultado de um processo criativo contínuo. Se a criatividade for impedida ou desaparecer, o acto de cuidar e a esperança deixam de ser possíveis. É necessário restaurar a criatividade para restaurar a esperança.”
Para evitar o esgotamento (burnout), existem várias estratégias que ajudam a preservar a saúde emocional e física. Trabalhar em equipa partilhando decisões e responsabilidades, apoio e respeito mútuos, haja uma boa comunicação dentro da equipa, haja recursos e serviços de apoio adequados, metas que sejam possíveis de alcançar, folgas/alimentação/repouso adequados, hobbies, restauração espiritual.
Por vezes também ajuda ter um psicólogo ou psicoterapeuta no exterior que possa dar apoio. Os desafios apresentados pelos cuidados paliativos oferecem muitas oportunidades de crescimento espiritual, apesar de, na maioria dos casos se mostrarem dolorosos, tais como: enfrentarem a sua própria mortalidade; enfrentar as suas próprias limitações pessoais e profissionais; partilhar o controlo; aprender a sabes estar com os doentes e não apenas a prestar-lhes serviços; saber enfrentar o desafio às suas próprias crenças; saber gerir honestamente com as suas próprias emoções como a cólera, luto, magoa.
Trabalhar em cuidados paliativos traz também recompensas: conseguir aliviar os sintomas; facilitar a adaptação psicológica, fazer parte de uma equipa de apoio; poder inspirar-se nos doentes e nos seus familiares; desenvolvimento pessoal.
9. CONCLUSÃO
O ideal seria que todos os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham com doentes em fase terminal, interiorizassem a importância de nunca nos esquecermos da nossa condição de humanos e da nossa finitude. Assim, não recorreria mais a meios desproporcionados que só prolongam o sofrimento do doente e não mais se colocaria a hipótese de pôr fim a uma vida, como justificação para uma pretensa “falta de qualidade de vida”. Seriam utilizados apenas procedimentos proporcionados a cada situação concreta e ser-se-ia capaz de passar a “cuidar” quando já não fosse possível tratar. O doente não viveria os seus últimos dias ou meses de vida na solidão e no receio do sofrimento, pois saberia que todos os meios necessários para lhe garantir o alivio e o conforto. Seria acompanhado, apoiado e compreendido por todos os que o rodeassem e viveria com o máximo de bem-estar possível, o que lhe proporcionaria uma morte serena, sem dor e sem sofrimento.
Se um dia este sonho se tornar realidade, então a pessoa em fase terminal poderá então morrer em paz e dignidade vendo respeitados todos os seus sonhos como pessoa até ao momento da morte. Para que esse sonho se realize, é primordial que todos os profissionais de saúde, em particular os médicos e os enfermeiros, continuem a desenvolver esforços no sentido de se prestar mais atenção aos problemas que envolvem o doente em fase terminal.
[1] ANCP – Associação Nacional de cuidados paliativos, Boletim Informativo nº 1, primavera 1996, p. 2.
[2] Os hospícios já existiam desde o séc. XIX para prestar cuidados aos doentes em fase terminal mas foi Cicely Saunders que lhes deu uma outra natureza, acrescentando-lhes cuidados médicos. Cicely Saunders era enfermeira e trabalhou num hospício em Dublin-Irlanda nos anos cinquenta, onde os doentes eram acompanhados de uma forma humana e caridosa durante o processo de morrer. No entanto, verificou que não eram prestados a estes doentes cuidados médicos e considerou que estes eram também importantes. Fez então um curso de assistente social e um curso de medicina, tendo depois fundado um novo tipo de hospício onde conseguiu reunir as mais modernas tecnologias para o controlo da dor e outros sintomas e antigas formas de acompanhamento humano de doentes em fase terminal.
Elaborado por:
Sónia Alexandra Graça