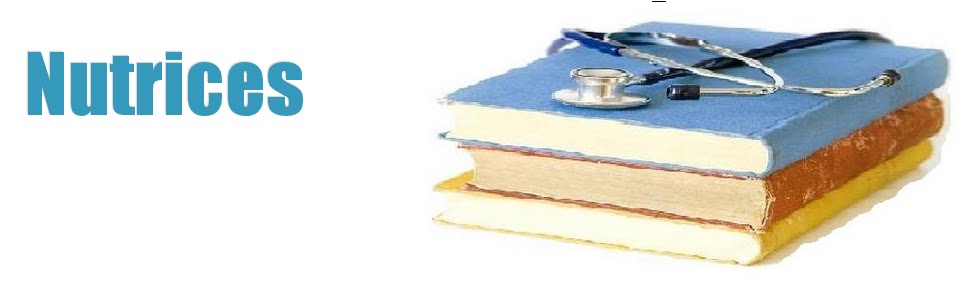A actividade mantem o normal funcionamento cognitivo e é pelo movimento que o Homem comunica, se expressa, estabelece relações e se sente útil e eficaz. (Gomes, 1998)
Mas, como refere Parada e Pereira (2003), perante o repouso completo no leito um músculo pode perder 10 a 15% da sua força em cada semana, ou 1 a 3% por dia. Logo, um paciente que permaneça alectuado durante 3 a 5 semanas pode perder metade da sua força muscular.
Por outro lado, as pessoas mais susceptíveis de desenvolverem efeitos adversos da imobilidade são os idosos.
Os idosos apresentam um risco acrescido de sindroma de desuso. Segundo a International Council of Nurses, “o Sindroma de Desuso é um tipo de Hipoactividade com as características específicas: inactividade musculoesquelética que leva a degradação dos sistemas corporais, associada a imobilização mecânica ou prescrita, dor intensa ou alteração do nível de consciência”. CIPE/ICNP po.cit, p.34
O sindroma de desuso representa uma área de intervenção autónoma para a enfermagem onde o enfermeiro de reabilitação deverá ter um papel central na definição de um programa de prevenção.
Inicialmente e de forma sucinta, neste trabalho são revistos alguns conceitos sobre a mobilidade e aspectos que distinguem a imobilidade e a inactividade. Posteriormente, são abordados alterações da mobilidade no idoso, focalizando algumas causas e consequências. Por último, são apresentados factores a considerar na avaliação, objectivos e intervenções de enfermagem atendendo ao foco de atenção privilegiado a prevenção das complicações musculoesqueléticas.
1 - REVISÃO DE ALGUNS CONCEITOS SOBRE MOBILIDADE
A saúde e bem-estar de um indivíduo depende da sua capacidade para se mover e mobilizar os membros. A mobilização de todas as partes do corpo através de movimentos coordenados e a manutenção de um bom alinhamento corporal permitem ao organismo desempenhar eficazmente todas as suas funções (respiração, circulação, regulação, eliminação, etc.). Além disso, a manutenção de uma adequada mobilização activa estimula o apetite e reduz a fadiga.
(Berger; Mailloux-Poirier, 1995)
Não pretendendo realizar uma revisão da anatomia e fisiologia do movimento extensiva e pormenorizada, no entanto considero pertinente realçar alguns conceitos e factores relativos ao movimento.
Para, Hoeman (2000) o movimento consiste na acção dos músculos sobre os ossos e as articulações e pode envolver um processo involuntário e reflexo ou um processo de escolha consciente e deliberada. O movimento normal é a capacidade que a pessoa tem de interagir com o meio de uma maneira flexível, adaptável e a habilidade para se mover presume a existência das seguintes capacidades:
- Sentir o ambiente;
- processar a informação percebida ao sentir o ambiente;
- lembrar as principais sequências do movimento e seleccionar as respostas adequadas;
- implementar a resposta motora adequada.
Segundo Berger e Mailloux-Poirier (1995), mover-se significa “mexer-se, deslocar-se, estar em movimento”. A mecânica corporal permite ao corpo mover-se e resulta do jogo articular e da contracção muscular voluntária, condicionados pela tonicidade muscular e reflexos posturais. A execução ou a produção ordenada de movimentos põe em jogo um conjunto de elementos, como os ossos, articulações, músculos, estrutura das paredes viscerais e de todos os órgãos, sistema nervoso, assim como certos factores psíquicos (atenção, vontade e autocontrolo).
O funcionamento mecânico é ao mesmo tempo dinâmico e estático. O mecanismo estático produz a postura; o mecanismo dinâmico produz o movimento. A postura é a posição que o corpo ocupa no espaço e é o resultado do equilíbrio que se manifesta no porte, movimento e no estado de repouso. O estudo da postura baseia-se em princípios físicos de gravidade e equilíbrio, assim como de anatomia e fisiologia.
Os músculos estão ligados aos ossos por tecido conjuntivo e trabalham habitualmente aos pares o que assegura a reversibilidade dos movimentos. As articulações permitem diversos movimentos tais como a flexão, extensão, abdução, adução, circundação, rotação, pronação e supinação e os músculos que contribuem para a execução desses movimentos são os flexores, os extensores, os abdutores e os adutores.
O alinhamento corporal depende da relação entre os diferentes segmentos do corpo (cabeça, tronco e membros) em relação directa com o aparelho vestibular, que ao influenciar o eixo e centro de gravidade, permite (ou não) a manutenção do equilíbrio.
Para a manutenção de um equilíbrio constante, os músculos (dorsais, torácicos, lombares, abdominais, cervicais, das coxas e pernas) estão em constante contracção e movimento pois a sua base de suporte (polígono de sustentação) é pequena e o centro de gravidade (região umbilical) é bastante elevado, tornando o equilíbrio muito instável. Estes princípios também se aplicam à posição de decúbito dorsal.
A actividade física tem benefícios incontestáveis para o organismo. É essencial para a circulação sanguínea, circulação linfática, trocas celulares e a nível do sistema neuromuscular, permite aumentar o volume, a contractilidade, a tonicidade e a força muscular promovendo a funcionalidade dos grupos musculares.
Os mesmos autores afirmam que a necessidade de se mover e manter uma boa postura, comporta quatro dimensões e cada uma compreendem diferentes factores que influenciam a sua satisfação:
1. Dimensão biofisiológica: coordenação da actividade tónica dos diferentes músculos; integridade do sistema cardiovascular; integridade do aparelho vestibular; processo de envelhecimento; doença; dor; medicamentos; deterioração sensorial e perdas de memória.
2. Dimensão psicológica: rigidez de pensamento e ansiedade.
3. Dimensão sociológica: factores ambientais, política dos estabelecimentos de saúde em matéria de prevenção das quedas; disponibilidade da rede social de suporte e conselhos dos vizinhos.
4. Dimensão cultural e/ou espiritual.
2 – IMOBILIDADE / INACTIVIDADE
Para Cruz et.al. (1997) imobilidade não existe apenas em casos de repouso no leito, paralisias, traumatismos ou perda da mobilidade muscular ou articular. Pode ter vários sentidos, objectivos e consequências, apesar de existirem semelhanças nas manifestações provocadas por imobilizações, mesmo em situações e indivíduos diferentes. E, definem inactividade como restrição ou supressão, prescrita ou inevitável, não voluntária nem desejada de movimento normal, de maior ou menor parte do corpo (imobilidade física) causado por doença, tratamento e outros factores com maior ou menor potencial de melhoria ou agravamento, que pode ter sequelas graves e efeitos secundários que aumentam a sua duração e podem contrariar a tendência para a melhoria.
Os mesmos autores citando Valdona (1984) consideram quatro tipos de inactividade que podem levar a situações de imobilidade:
- Repouso prolongado no leito prescrito para tratamento de uma doença ou lesão
- Actividade neuromuscular restrita devido a paralisia
- Permanência contínua na mesma posição (deitado ou sentado)
- Estado de imponderabilidade (viagem espacial ou simulação)
Carnevali e Brueckner (1973) citado por Cruz et al (1997), salientam que além do tipo de inactividade devemos considerar outros aspectos, que podem influenciar a imobilização, nomeadamente a área atingida (física, emocional, intelectual e social), a causa (doença, tratamentos, factores próprios do indivíduo e seu meio), a extensão (que pode variar entre doentes ou situações diferentes no mesmo doente), a duração (limitação), a orientação (da mudança) e as sequelas (consequências da duração e orientação).
Por outro lado, a imobilização pode manifestar-se apenas num segmento isolado (articulação ou membro) ou pode afectar todo o organismo (acamamento). (Horta, L., 1992)
Caso não sejam tomadas medidas adequadas durante a imobilidade, gera-se um ciclo vicioso. A imobilização leva a uma redução da actividade muscular e sequente redução da capacidade funcional do sistema músculo-esquelético. Esta, leva a um agravamento da imobilidade que conduz a uma redução da capacidade funcional do sistema cardiovascular e de outros sistemas orgânicos, a um descondicionamento e a um agravamento dos efeitos da inactividade. (Delise 1998)
Parada e Pereira (2003) também abordam o ciclo vicioso da inactividade e acrescentam que esta pode ser resultante do sedentarismo (inactividade crónica) ou motivada por uma intercorrência que obrigue ao alectuamento prolongado (inactividade aguda). Além disso, designam por descondicionamento o conjunto de alterações fisiológicas induzidas nos vários sistemas orgânicos pela inactividade física e que são reversíveis com o restabelecimento da actividade.
Mas, a imobilidade tem consequências a nível dos doentes e a nível económicas, podendo implicar segundo Horta (1992), aumento do tempo de internamento, maior utilização dos serviços, maior dependência nas AVD (com maior dependência de terceiros), necessidade de maior apoio familiar e maiores custos sociais.
Gomes (1998) indica dois factores que contribuem para a origem das complicações da imobilidade: a perda da posição vertical e a ausência de exercício.
3 - ALTERAÇÕES DA MOBILIDADE NO IDOSO
Os idosos são um grupo de risco e todos os seus problemas de dependência relacionados com a necessidade de mobilização e manutenção de uma boa postura, são do tipo potencial. (Berger e Mailloux-Poirier, 1995)
Os mesmos autores, referem que as transformações músculo-esqueléticas e neurológicas associadas ao envelhecimento afectam a mobilidade e a postura, com diminuição do equilíbrio, do tonus muscular e do porte, o que não significa perda de capacidade de se movimentar e problemas de dependência.
Por outro lado, alterações fisiológicas próprias do processo de envelhecimento, tais como, redução do débito cardíaco, diminuição da capacidade vital do aparelho respiratório, redução da eficácia dos mecanismos termoreguladores afectam a capacidade de fazer exercício e realizar actividades.
Causas
A ideia que os indivíduos mais susceptíveis de desenvolver os efeitos adversos da imobilidade são os idosos, é comum à maioria dos autores consultados. Parada e Pereira (2003) apontam três factores que contribuem de forma significativa para essa maior susceptibilidade:
- Alterações resultantes do processo de envelhecimento
- Múltiplas patologias frequentemente encontradas nesta faixa etária (osteoporose, doença cardíaca, etc.)
- Falta de apoio social e familiar, que contribui para um isolamento e inactividade progressiva.
Além dos factores biofisiológicos que podem afectar a satisfação da necessidade de se mover e manter uma boa postura, algumas doenças crónicas do sistema músculo-esquelético, sistema cardiovascular, sistema nervoso e aparelho respiratório estão na origem da restrição da actividade, nomeadamente:
- problemas que afectam directamente a mobilidade, tais como, problemas cardiovasculares e respiratórios que reduzem a oxigenação dos tecidos, diminuem a tolerância à actividade. A eliminação ineficaz de produtos e consequente fadiga e acumulação de líquidos nos tecidos limitam os movimentos. A artrite e reumatismo afectam cerca de 50% da população idosa e causam restrição de actividade. Também podem ocorrer distúrbios do metabolismo ósseo e alterações musculares que originem fraqueza geral do esqueleto e deformações irregulares.
- problemas que afectam a motivação, como por exemplo a intolerância psicológica resultante da incapacidade para controlar ou coordenar movimentos e ainda intolerância de origem psico-emocional (depressão, ansiedade) podem alterar a mobilidade.
- problemas iatrogénicos, nomeadamente realização de técnicas terapêuticas evasivas, reacções medicamentosas, acidentes e quedas e complicações decorrentes da imobilidade, desnutrição, dificuldade na eliminação vesical e intestinal, são também problemas que para a inactividade. (Berger e Mailloux-Poirier, 1995)
Consequências
Para Parada e Pereira (2003) as principais consequências adversas a nível músculo-esqueléticas são a atrofia e fraqueza muscular, as contracturas e a osteoporose. Refere ainda que com o repouso completo no leito um músculo pode perder 10 a 15% da sua força em cada semana, ou 1 a 3% por dia. Logo, um paciente que permaneça alectuado durante 3 a 5 semanas pode perder metade da sua força muscular.
Berger e Mailloux-Poirier (1995) apontam os seguintes efeitos da imobilidade e da inactividade sobre o sistema músculo-esquelético:
- A imobilidade prolongada afecta o comprimento dos músculos durante o repouso;
- Toda a articulação que deixa de suportar pesos, durante um longo período de tempo, perde a faculdade de efectuar movimentos;
- Toda a limitação da amplitude dos movimentos desencadeia uma alteração das funções da articulação e do músculo que activa a articulação;
- A musculatura perde a sua força.
Para Hoeman (2000) quando uma pessoa é incapaz de mover uma parte do corpo ou a sua totalidade em consequência de doença, acidente ou método de tratamento, podem ocorrer, num curto prazo, numerosas complicações:
- Cardiovasculares: hipotensão ortostática, sobrecarga cardíaca e formação de trombos;
- Respiratórias: diminuição de movimentos respiratórios, diminuição do movimento de secreções e as alterações no equilíbrio de dióxido de carbono
- Metabólicas: actividade catabólica acelerada que leva a uma rápida destruição celular e deficiência proteica
- Osteoporose, contracturas e zonas de pressão
- Cálculos renais e infecção das vias urinárias
- Alterações hormonais, padrões do sono e sistema imunitário
- Desequilíbrio psicossocial.
4 - SINDROMA DE DESUSO
De acordo com o enunciado anteriormente, os idosos apresentam um risco acrescido de sindroma de desuso.
Segundo a International Council of Nurses, “o Sindroma de Desuso é um tipo de Hipoactividade com as características específicas: inactividade musculoesquelética que leva a degradação dos sistemas corporais, associada a imobilização mecânica ou prescrita, dor intensa ou alteração do nível de consciência”. CIPE/ICNP po.cit, p.34
O sindroma de desuso representa uma área de intervenção autónoma para a enfermagem onde o enfermeiro de reabilitação deverá ter um papel central na definição de um programa de prevenção.
Embora entendendo que este programa de reabilitação deve estar dirigido para a prevenção da degradação dos vários sistemas corporais, iremos apenas abordar as acções de enfermagem dirigidas à prevenção das complicações musculoesqueléticas.
Avaliação
Os elementos necessários para avaliação da necessidade de se mover e manter uma boa postura são: estado da função motora (massa muscular, mobilidade das articulações, postura e marcha e coordenação neuromuscular), qualidade e tipo de actividade física, doenças, medicamentos, atitude psicológica, ambiente e outros factores (idade, hábitos, utilização de suportes de reeducação, dor e debilidade). (Berger e Mailloux-Poirier, 1995)
Hoeman (2000), por sua vez, descreve que a avaliação física de enfermagem do movimento inclui uma impressão geral (aparência, postura, assimetrias, etc), amplitude geral e específica do movimento, tono e força muscular, reflexos de Golgi do tendão, sentido de propriocepção e de posição, coordenação do equilíbrio e avaliação da marcha.
Objectivos
Os objectivos que se seguem são direccionados para a prevenção das complicações musculoesqueléticas devendo ser estabelecidos e acordados mutuamente com os utentes e família:
- Prevenir as complicações associadas à diminuição ou ausência de movimento
- Aumentar a força muscular e a mobilidade
- Manter e aumentar a independência em actividades que exigem desempenho motor
- Prevenir as lesões ou traumatismos durante a actividade
- Usar correctamente e consistentemente os dispositivos compensatórios, se for caso disso
- Participar em actividades sociais e ocupacionais.
Intervenções de enfermagem
As intervenções da enfermeira de reabilitação para ajudar o utente a maximizar o potencial de mobilização na elaboração de um programa de reabilitação são:
Promoção da Mecânica Corporal
Determinar o nível de compreensão do utente sobre a mecânica corporal. Encorajar e envolver o utente na execução dos movimentos e exercícios terapêuticos. Orientar o utente para evitar movimentos e posições inadequadas. Orientar o utente sobre a necessidade de manter uma postura corporal correcta. Monitorizar a melhoria da postura corporal do utente. Facultar informações sobre possíveis causas posicionais de dor nos músculos ou nas articulações.
Promoção do exercício
Um programa de exercícios baseado no estado geral da pessoa e tenha como finalidade evitar as contracturas ou atrofia e manter o tono, força e função muscular. Mas, as precauções de segurança são fundamentais na execução dos movimentos e devem ser envolvidos o utente e família, de forma a poder ser delegado responsabilidades e ser integrado como uma actividade de vida diária. Os exercícios terapêuticos devem compreender:
- Exercícios activos
- Exercícios isométricos
- Biofeedback e estimulação eléctrica
- Actividades na cama: Virar, Puxar para cima na cama, Encorajar a participação do utente no movimento e actividades para sair da cama.
Posicionamento
As variáveis que influenciam a frequência do posicionamento são o conforto, a quantidade de movimento espontâneo, o edema, a perda sensorial, o estado global físico e menta e o tempo.
Ao posicionar e virar o utente, a enfermeira tem uma oportunidade excelente para ensinar os posicionamentos ao indivíduo e família, fazendo-os demonstrar as operações e eventualmente partilhar com eles a responsabilidade da preparação para a alta
- Posições básicas: decúbito dorsal, decúbito lateral, decúbito ventral, posição semi-ventral e posição de sentado.
- Auxiliares de posicionamento: almofadas, rolos trocanterianos, suportes de pés, rolos de mão, talas, cunha ou almofada de abdução.
- Manutenção da estabilidade (coluna vertebral) do posicionamento: cama de stryker e camas mecânicas.
Massagem Simples
Examinar o utente de forma a procurar possíveis contra-indicações. Determinar o grau de conforto psicológico do paciente com o toque. Seleccionar a(s) área(s) do corpo a ser(em) massajada(s). Preparar um ambiente confortável e aquecido sem distracções. Colocar o utente numa posição que facilite a massagem. Executar a massagem atendendo aos pré-requisitos (calor húmido antes da massagem, expor apenas a área a ser massajada, usar loção ou óleo, etc). Massajar, usando movimentos contínuos, simétricos e ritmicos. Encorajar o utente a concentrar-se nas boas sensações da massagem. Avaliar e documentar as respostas à massagem.
Ensino: Habilidade Psicomotora
Demonstrar a habilidade ao utente. Oferecer orientações claras, tipo passo-a-passo. Orientar o utente sobre as razões para o desempenho da habilidade na forma especificada. Posicionar o utente de forma adequada. Oferecer informações escritas ou sessões práticas, se necessário. Oferecer tempo adequado para o domínio da tarefa. Observar o utente na demonstração de retorno da habilidade. Oferecer informações sobre os recursos auxiliares disponíveis que possam ser usados para facilitar o desempenho da habilidade necessária, quando adequado. Incluir a família/pessoas significativas, quando adequado.
5 - CONCLUSÃO
Quando o utente fica imobilizado ou “preso” à cama, a responsabilidade da enfermeira de reabilitação nas intervenções preventivas é manter o potencial para uma eventual mobilização.
A enfermeira deve conhecer todas as dimensões biopsicossociais associadas à necessidade de se mover e manter uma boa postura, de forma a ajudar a satisfação desta necessidade quando a pessoa não puder.
As numerosas pessoas que envelhecem com uma incapacidade e as que têm as incapacidades e doenças crónicas relacionadas com a idade constituem grupos relativamente recentes mas que estão a emergir.
Na reabilitação geriátrica, há diferenças importantes que exigem especial atenção das enfermeiras de reabilitação. Ao reconhecerem que a doença crónica e as alterações relacionadas com a idade são irrevogáveis e muitas vezes progressivas, as enfermeiras de reabilitação devem promover o maior nível de independência possível ao longo do continuum dos cuidados.
No entanto, a capacitação, independência, escolha e tomada de decisão, dignidade, auto-estima e actualização são valores muitas vezes ignorados nos idosos. De facto, a própria natureza dos programas e serviços limita os idosos e promove a dependência. Por exemplo, quando a enfermeira não dispõe do tempo necessário para ajudar o beneficiário a deslocar-se até à cadeira ou a dar alguns passos, e ao aceitar que permaneça na cama à mínima dificuldade de locomoção, está a prejudicá-lo e não a ajudá-lo a promover a sua autonomia. (Berger e Mailloux-Poirier, 1995)
Sendo assim, é necessário um acompanhamento holístico do utente e um programa de reabilitação dirigido à prevenção da degradação dos vários sistemas corporais, promovendo a motivação, mobilidade e autocuidado.
- Suportar o corpo em posições anatomicamente correctas e funcionais
- Usar adequadamente, os dispositivos mecânicos e os posicionamentos
- Posicionar de acordo com um programa regularmente estabelecido
- Ensinar programas de exercícios terapêuticos para manter a mobilidade articular e o tono muscular
- Ensinar actividades de transferência
- Ensinar programas preparatórios para a marcha e de pré-marcha
- Ensinar actividades em cadeiras de rodas
- Transferir as responsabilidades de prevenção e manutenção para o utente e família. (Hoeman, 2000)
De seguida, serão identificadas intervenções que constam na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC, 2004). A decisão de escolha e selecção pretendem ser adequadas e direccionadas para o foco de atenção em enfermagem e que está relacionada com as principais complicações inerentes à imobilidade no idoso.
Problema/Foco: Alto Risco de Sindroma de Desuso
Intervenções:
– esta intervenção visa acima de tudo prestar atenção e agregar sentido
Acompanhamento holístico
ENVELHECIMENTO E COMORBILIDADE
“Assim o problema essencial do envelhecimento não é apenas tratar o funcionamento biológico-orgânico em declínio, mas também a forma de se adaptar ao meio e permitir uma vida o mais funcional possível – trabalhar para recuperar ou compensar as funções biológicas alteradas” (Trieschmann, 1987).
Os membros destes grupos sofrem muitas vezes de comorbilidade, tendo mais de uma doença crónica ou incapacitante.
Gomes (1998) também refere que as pessoas idosas sofrem de uma falta real de movimento e a imobilidade encontra na geriatria o seu tempo de eleição. Do mesmo modo, Saraiva (1996) afirma que a imobilidade encontra no idoso um terreno de particular eleição.
CONCLUSÃO
Quando o utente fica imobilizado ou “preso” à cama, a responsabilidade da enfermeira nas intervenções preventivas é manter o potencial para uma eventual mobilização.
O enfermeiro deve conhecer todas as dimensões biopsicossociais associadas à necessidade de se mover e manter uma ao postura, de forma a ajudar a satisfação desta necessidade quando a pessoa não puder.
As numerosas pessoas que envelhecem com uma incapacidade e as que têm as incapacidades e doenças crónicas relacionadas com a idade constituem grupos relativamente recentes mas que estão a emergir.
5 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA A MOBILIDADE
Os diagnósticos de Enfermagem para os utentes com movimentos ou mobilidade alterados ou comprometidos são os seguintes:
- Compromisso da mobilidade dos membros superiores, relacionado com a fraqueza muscular, paralisia, edema ou dor articular, degeneração óssea ou muscular, movimento involuntário ou ausência de uma extremidade.
- Compromisso da mobilidade dos membros inferiores, relacionado com conhecimento insuficiente sobre as próteses, não adesão ao plano de cuidados, falta de apoio por um membro da família, fundos insuficientes ou falta de transporte para seguir o tratamento.
- Compromisso do equilíbrio e da coordenação, relacionada com a instabilidade do tronco, fraqueza muscular, paralisia, repouso prolongado na cama e perda ou diminuição da visão.
- Padrão de marcha disfuncional, relacionada com fraqueza muscular, paralisia, descoordenação, movimentos involuntários, fractura de um membro, falta de conhecimentos, medo e dependência. (Hoeman, 2000)
A enfermeira em gerontologia, não dispõe de qualquer poder em relação ao envelhecimento fisiológico, mas pode agir sobre o envelhecimento funcional. Por exemplo, quando não dispõe do tempo necessário para ajudar o beneficiário a deslocar-se até à cadeira ou a dar alguns passos, e ao aceitar que permaneça na cama à mínima dificuldade de locomoção, está a prejudicá-lo e não a ajudá-lo a promover a sua autonomia. (Berger e Mailloux-Poirier, 1995)
De uma forma sucinta, Gonçalves e Garcia (1995) apresentam o seguinte quadro que ilustra os efeitos do envelhecimento nos diferentes sistemas e órgãos.
SISTEMA/ORGÃO | EFEITOS DO ENVELHECIMENTO |
Respiratório | â elasticidade da parede torácica â tónus dos músculos da respiração â reflexo e deficiência da tosse |
Cardiovascular | espessamento do endocárdio e válvulas cardíacas á rigidez sistema arterial formação placas ateroscleróticas |
Gastrointestinal | â produção de enzimas e sucos â mobilidade e peristaltismo atrofia da mucosa gástrica hipotonia muscular â capacidade de absorção |
Músculo-esquelético | atrofia muscular â mobilidade articular desmineralização óssea alterações posturais |
Nervoso | â número de células â fluxo sanguíneo cerebral á tempo de reacção a estímulos externos â memória e alterações da personalidade |
Genito-urinário | â fluxo sanguíneo renal â estimulação nervosa â tonicidade da bexiga alteração da capacidade de esvaziamento da bexiga â lubrificação vaginal |
Órgãos dos sentidos | â acuidade em todos os sentidos â acomodação à luz degeneração das vias auditivas |
Endócrino/Metabólico | â utilização de insulina â linfócitos e anticorpos |
Tegumentar/pele | â tecido subcutâneo â secreções sebáceas â fluxo sanguíneo periférico perda de cabelo |
Quando uma pessoa é incapaz de mover uma parte do corpo ou a sua totalidade em consequência de doença, acidente ou método de tratamento, podem ocorrer, num curto prazo, numerosas complicações e Hoeman (2000), identifica algumas medidas preventivas para cada uma delas:
- Cardiovasculares (hipotensão ortostática, sobrecarga cardíaca e formação de trombos)
Medidas Preventivas:
- Exercícios passivos e activos na amplitude de movimento
- Exercícios isométricos
- Actividades de autocuidado
- Evitar manobras de Valsalva
- Alterar a posição de horizontal para vertical
- Respiratórias (diminuição de movimentos respiratórios, diminuição do movimento de secreções e as alterações no equilíbrio de dióxido de carbono)
Medidas Preventivas:
- Virar regularmente o utente
- Encorajar a tossir e a suspirar
- Efectuar percussões no tórax e drenagem postural
- Ensinar a utilizar músculos abdominais, diafragma e intercostais
- Exercícios de tosse.
- Metabólicas (actividade catabólica acelerada que leva a uma rápida destruição celular e deficiência proteica)
Medidas Preventivas:
- Proporcionar refeições pequenas e frequentes e da preferência do utente
- Dar suplementos proteicos, se necessário
- Aliviar sintomas decorrentes da estimulação contínua do S.N. parassimpático.
- Osteoporose, contracturas e zonas de pressão
Medidas Preventivas:
- Exercícios terapêuticos
- Vigiar a posição e alinhamento corporal
- Vigiar situação da pele
- Educação do utente e família.
- Cálculos renais e infecção das vias urinárias
- Alterações hormonais, padrões do sono e sistema imunitário
- Desequilíbrio psicossocial.
3.1 - Prevenção de complicações associadas à imobilidade
Embora o repouso na cama tenha sido uma prescrição comum para tratar toda a espécie de doenças e perturbações ao longo da história, ele não é mais uma panaceia para as doenças. O repouso no leito beneficia o tratamento a curto prazo dos problemas musculoesqueléticos, como os que resultam de traumatismos, perturbações degenerativas, doenças reumatológicas, infecção ou doença congénita. (Hoeman, 2000)
Gomes (1998), também faz referência ao axioma de que a melhor cura é a que se faz na cama, como atitude protagonizada na maioria das vezes, apesar de inadequada.
Quando uma pessoa é incapaz de mover uma parte do corpo ou a sua totalidade em consequência de doença, acidente ou método de tratamento, podem ocorrer, num curto prazo, numerosas complicações e Hoeman (2000), identifica algumas medidas preventivas para cada uma delas:
- Cardiovasculares (hipotensão ortostática, sobrecarga cardíaca e formação de trombos)
Medidas Preventivas:
- Exercícios passivos e activos na amplitude de movimento
- Exercícios isométricos
- Actividades de autocuidado
- Evitar manobras de Valsalva
- Alterar a posição de horizontal para vertical
- Respiratórias (diminuição de movimentos respiratórios, diminuição do movimento de secreções e as alterações no equilíbrio de dióxido de carbono)
Medidas Preventivas:
- Virar regularmente o utente
- Encorajar a tossir e a suspirar
- Efectuar percussões no tórax e drenagem postural
- Ensinar a utilizar músculos abdominais, diafragma e intercostais
- Exercícios de tosse.
- Metabólicas (actividade catabólica acelerada que leva a uma rápida destruição celular e deficiência proteica)
Medidas Preventivas:
- Proporcionar refeições pequenas e frequentes e da preferência do utente
- Dar suplementos proteicos, se necessário
- Aliviar sintomas decorrentes da estimulação contínua do S.N. parassimpático.
- Osteoporose, contracturas e zonas de pressão
Medidas Preventivas:
- Exercícios terapêuticos
- Vigiar a posição e alinhamento corporal
- Vigiar situação da pele
- Educação do utente e família.
- Cálculos renais e infecção das vias urinárias
- Alterações hormonais, padrões do sono e sistema imunitário
- Desequilíbrio psicossocial.
Gomes (1998), refere que prevenir a imobilidade no idoso é procurar que esteja sempre ocupado favorecendo-lhe um “emprego personalizado”, sendo um grande desafio que se coloca a enfermeiros, tanto hospitalares como comunitários,
BIBLIOGRAFIA
BERGER, Louise; MAILLOUX-POIRIER, Danielle – Pessoas idosas: Uma abordagem global. 1ª Edição. Lisboa: Lusodidacta. 1995. ISSN 972-95299-8-7.
CONSELHO INTERNACIONAL DE ENFERMEIRAS – Classificação internacional para a prática de enfermagem. 2.ª ed. Lisboa: Associação Portuguesa de Enfermeiras, Versão Beta 2, 2003.
CRUZ, Arménio Guardado et al – Técnicas de Reabilitação II. 1ª Edição. Coimbra: Formasau 1995. ISSN 972-96680-7-B.
DELISA, Joel A. et al – Tratado de medicina de reabilitação: princípios e prática. 3.ª ed. Barueri: Manole, 2002. ISBN 85-204-1052-9.
GOMES, Clara de Assis C. Araújo – A saúde do idoso: Um olhar sobre a (I)mobilidade. Sinais Vitais. Coimbra. ISSN 0872-8844, n.º 20 (1998), p.17-19.
GONÇALVES, Mª Teresa F.; GARCIA, Luís Miguel A. – Efeitos da imobilidade prolongada no idoso. Nursing. Lisboa. ISSN 0871-6196, Ano 8, n.º 93 (1995), p.16-21.
HOEMAN, Sirley P. – Enfermagem de Reabilitação: Aplicação e Processos. 2ª ed, Lisboa, Lusociência, 2000. ISBN 972-8383-13-4.
MARTINS, Rosa M. Lopes – Enfermagem de Reabilitação: Uma variável chave na promoção da saúde dos idosos. Sinais Vitais. Coimbra. ISSN 0872-8844, n.º 46 (2003), p.55-58.
MCCLOSKEY, Joanne C.; BULECHEK, Gloria M. – Nursing intervention classification (NIC). 3.ª ed. Porto Alegre
PARADA, Fernando; PEREIRA, Cristina – Da imobilidade ao recondicionamento ao esforço: imobilidade – bases fisiopatológicas. Geriatria. Lisboa. ISSN 0871-5386, V 15, n.º 153 (2003), p.36-45.
SARAIVA, João – Síndrome da Imobilização: uma entidade muitas vezes “esquecida”. Revista de Saúde Amato Lusitano. Lisboa. ISSN 0873-5441, Ano 1, n.º 3 (1996), p.41-45
SOUSA, António; ABREU, Filomena; PORTUGAL, António – O Doente com Alterações Músculo-Esquelético. Revista Centro Hospitalar de Coimbra. Coimbra. n.º 18 (2002), p.6-10
Trabalho interdisciplinar realizado no âmbito do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação 2005 – 2007, por Ana Morais
Trabalho interdisciplinar realizado no âmbito do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem de Reabilitação 2005 – 2007, por Ana Morais