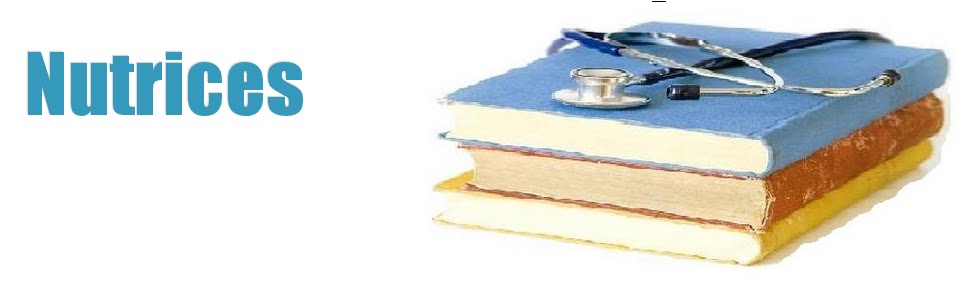1 - INTRODUÇÃO
Para que a profissão de enfermagem cresça, é muito importante aperfeiçoar a prestação dos cuidados. Para tal, o enfermeiro tem que possuir conhecimentos sobre a criança e as situações clínicas que possam ocorrer, o que vai permitir um melhor planeamento de cuidados individuais e actuar da melhor forma na execução dos mesmos perante cada criança.
Como alunos do 3º. Ano/2º.semestre da E.S.Enf.Viseu, a frequentar o ensino clínico VII, que decorre no Centro de Saúde de Mortágua, propusemo-nos a realizar um trabalho acerca de “O que preocupa os pais?”. Assim, neste estudo iremos abordar a febre, vómitos, diarreia e convulsões, uma vez que são estas as situações clínicas que mais ocorrem nas crianças, levando frequentemente os pais às urgências. Estas ocorrências constituem uma das principais causas de morbilidade no meio infantil, pelo que se torna importante conhecê-las bem, de forma a que se possam prestar melhores cuidados e elucidar os pais sobre as condutas que devem adoptar, e em que casos deverão estes recorrer às urgências pediátricas.
Assim, pretendemos atingir os seguintes objectivos:
- Aprofundar conhecimentos sobre a febre, vómitos, diarreia e convulsões;
- Identificar os mecanismos desencadeadores dos quadros clínicos;
- Identificar as respectivas causas;
- Conhecer as manifestações clínicas e complicações das situações em causa;
- Elaborar cuidados de enfermagem em cada uma das situações;
- Avaliar progressivamente o estado da criança;
- Melhorar a prestação de cuidados a crianças com as situações clínicas descritas;
- Elucidar os pais sobre, quais as medidas a tomar, e quais as situações em que deverão levar os seus filhos às urgências pediátricas;
Para uma melhor compreensão e análise, optámos por organizar este trabalho em quatro capítulos:
- Capítulo I – Febre
- Capítulo II – Vómitos
- Capítulo III – Diarreia
- Capítulo IV – Convulsões
Para a realização deste trabalho e para atingirmos os objectivos a que nos propusemos, tornou-se necessária a recolha de informação. A metodologia utilizada para a realização deste trabalho baseou-se na pesquisa bibliográfica e pesquisa on-line.
2 - FEBRE
A febre é o sintoma mais frequente e o principal motivo da procura de cuidados médicos de pediatria, constituindo muitas vezes, motivo de ansiedade para os pais. Desaparece, habitualmente, com a cura da doença que lhe deu origem.
Embora não seja uma doença nem constitua por si só um diagnóstico, ela começa a tornar-se preocupante, quando se prolonga sem que possa ser explicada.
Se, num bom número de situações, a febre é clinicamente a consequência duma afecção bem aparente ao médico, outras vezes há, e são frequentes, que não é possível conhecer a sua etiologia.
É muitas vezes o primeiro sinal detectável, e por vezes o único, raramente passando despercebida dada a mudança de comportamento da criança.
É geralmente aceite que a temperatura normal, não superficial, pode variar aproximadamente entre 36,2 e 37,8ºC. Estes valores variam de criança para criança e também conforme as várias horas do dia, o exercício físico, as refeições e o calor ambiente. (FIGUEIREDO, 1985)
2.1 - CONCEITO
A febre, segundo os conhecimentos de que se dispõe actualmente, corresponde a um equilíbrio termoregulador, estabelecido a um nível de temperatura mais elevado que o normal. (MANSO, 1986)
Considera-se febre, temperatura superior a 38ºC. (DUARTE, 1988)
2.2 – concepções dos pais acerca da febre
As concepções dos pais acerca da febre estão, muitas vezes, associadas com preconceitos, transmitidos normalmente pela tradição, frequentemente mistificados. As atitudes dos pais em relação à mesma reflectem estas concepções.
Cerca de 53% dos pais consideram febre, temperaturas inferiores a 38ºC; 66,6% opinaram que temperaturas inferiores a 40ºC podem ser por si só perigosas para as crianças. 31,5% acreditam que o termómetro pode subir a valores iguais ou superiores a 42ºC, se a criança febril fosse deixada sem tratamento.
21% dos pais consideram a meningite o principal perigo da febre. 37% acreditam que as complicações da febre podem surgir para temperaturas inferiores a 40ºC.
34% dos pais procuram baixar a temperatura aos seus filhos, quando ela é inferior a 38ºC. 75% dos pais acordam os seus filhos, durante a noite, para lhes baixar a temperatura. Os métodos mais utilizados para baixar a temperatura consistem na utilização do paracetamol e no despir a criança.
Cerca de 70% dos pais responderam que apenas algumas vezes é necessário a administração de antibióticos quando a criança tem febre, afirmando cerca de metade (50,7%), que é a presença de «infecção» que deve ditar a sua administração. (DUARTE, 1988)
2.3 - REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura corporal depende de um balanço entre a produção e a perda de calor.
A produção de calor ou termogénese decorre da actividade metabólica da massa celular activa, que não deve ser inferior a um mínimo designado por metabolismo basal. É no fígado e músculos voluntários que a maior parte do calor é produzido. Se houver necessidade de maior produção de calor, a actividade muscular pode aumentar até ao arrepio, calafrio ou até contractura persistente.
A perda de calor, ou termólise, faz-se por várias vias, principalmente pela superfície corporal: por convecção e evaporação. É pela variação do volume de sangue circulante na superfície do corpo que se processa o principal método de regulação de calor. Assim, uma circulação rica na pele e tecido celular subcutâneo, concomitante com um aumento de sudação, concorrem para elevar as perdas de calor. Pelo contrário, há vasoconstrição periférica para conservar calor e diminuir as perdas. A regulação da temperatura corporal, integrando os vários processos físicos e químicos, para a produção ou perda de calor, é função dum centro cerebral que se situa no hipotálamo. Este centro de termoregulação depende:
1. da temperatura do sangue que perfunde esse centro.
2. impulsos recebidos dos termoreceptores periféricos.
(FIGUEIREDO, 1985)
2.4 - PATOLOGIA DA FEBRE
A febre é consequência de uma infecção ou inflamação, ocasionadas por uma grande variedade de microorganismos (bactérias, vírus, fungos, etc) e por muitas reacções inflamatórias (lesões tecidulares, enfartes, malignidade, reacções antigénio-anticorpo). Nestas situações, produzem-se substâncias pirogénicas, que vão alterar o controle da temperatura central.
Os pirogéneos podem agrupar-se em duas categorias:
· Pirogéneos exógenos – exteriores ao organismo, tais como as produzidas pelos agentes infecciosos.
· Pirogéneos endógenos – os macrófagos activados quer por pirogéneos exógenos, quer por factores endógenos vão libertar os pirogéneos endógenos que entram em circulação e actuam no hipotálamo, no centro de termoregulação, para fazer diminuir as perdas de calor e elevar a sua produção, provocando a subida da temperatura corporal, a febre.
(FIGUEIREDO, 1985)
(FIGUEIREDO, 1985)
A maioria das doenças infecciosas provoca febre. Ela é um facto positivo que ajuda ao restabelecimento da infecção pois vírus e bactérias não suportam temperaturas elevadas.
2.5 - TRATAMENTO DA FEBRE / MEDIDAS A TOMAR
A febre só por si não requer tratamento se for igual ou inferior a 38ºC, excepto na criança com convulsões, ou outra síndrome de disfunção cerebral.
Contudo, há que não ignorar os possíveis malefícios da febre: desconforto, perturbações digestivas, elevação do trabalho e da frequência cardíaca, convulsões, delírio, etc.
O objectivo da acção do enfermeiro, perante uma criança febril, será procurar estabelecer o diagnóstico da doença febril subjacente, excluir uma doença grave, aliviar o desconforto associado com a febre, manter a criança hidratada oferecendo líquidos, diminuir o risco de convulsões febris, nas crianças susceptíveis, vigiar o estado geral e fazer o encaminhamento para o médico.
Deve-se explicar o porquê das atitudes a tomar, pois só assim se consegue minorar a ansiedade dos familiares. Há que esclarecer sobretudo:
a) que a intensidade da febre geralmente não é proporcional à gravidade da doença;
b) que os agentes etiológicos mais frequentes são os vírus;
c) que as complicações mais frequentes da hipertermia são:
1) disfunção cerebral aguda sem convulsão;
2) perda excessiva de água que leva à hipernatrémia com risco de convulsões e de derrame sub-dural.
(MENDES, 1980)
(MENDES, 1980)
2.5.1 - Avaliação da Temperatura
Até aos 5 anos a temperatura deve ser avaliada inicialmente na «axila» (previamente seca); caso seja superior a 37,2ºC deve registar-se a temperatura rectal. Nas crianças com idade superior a 5 anos regista-se a temperatura axilar, uma vez que a avaliação da temperatura oral não é muito usual, no nosso país. (DUARTE, 1988)
2.5.2 - Conduta terapêutica
Actualmente podemos constatar a necessidade da promoção de programas visando a informação dos pais acerca da febre e das atitudes a ter perante as mesmas.
Em linhas gerais, esta orientação, deverá atender aos itens seguintes:
1) Recomendar o uso de antipiréticos, só se a temperatura exceder os 38ºC e a criança demonstrar desconforto.
2) Promover o arrefecimento físico, desagasalhando a criança e arrefecendo o ambiente. Evitar a utilização de água fria ou álcool no arrefecimento físico da criança, pois podem provocar o coma. Eles geram desconforto, desencadeiam o arrepio e condicionam vasoconstrição, que se traduzem, respectivamente, em produção de calor e compromisso da termólise, com consequente aumento da temperatura corporal.
3) Elucidar sobre situações que quando presentes numa criança febril, deverão levar à procura de cuidados médicos, tais como: menos de 3 meses (excepto se for após a vacina), febre igual ou superior a 40ºC, febre há mais de 72 horas, febre que volta após 24 horas de apirexia, choro inconsolável, dificuldade em acordar, confusão ou delírio, convulsões, rigidez do pescoço, manchas roxas na pele, respiração difícil que não melhora após limpeza nasal.
4) Encorajar a ingestão de líquidos.
5) Não administrar antibióticos se não indicados pelo médico.
(MENDES, 1980)
2.5.3 - Antipiréticos
A utilidade dos antipiréticos nos estados febris advém da sua capacidade de actuação sobre o centro termoregulador, baixando neste o ponto de equilíbrio térmico.
No caso de a temperatura não baixar, deve dar-se à criança:
1) Paracetamol, quer em forma de soluto ou, para melhor comodidade de administração, sob a forma de supositórios. A dose é também, neste caso, estabelecida em função do peso (15 mg/kg) e deve ser administrado de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas.
2) Ibuprofeno, este só deve ser administrado após os 6 meses de idade. A dose deve ser de 5 a 10 mg/kg, de 8 em 8 horas.
Este tratamento não é sistemático e assenta sobretudo na apreciação do médico.
3 - VÓMITOS
Os vómitos na criança são outro dos principais motivos de recorrência aos serviços de urgência. Surge assim a necessidade de os pais diferenciarem os diferentes tipos de vómito, quais as suas causas, quais os sinais de alarme e ainda as atitudes a tomar perante uma crise de vómitos.
3.1 - CONCEITO
Antes de mais é necessário diferenciar três conceitos fundamentais: náuseas, regurgitação e vómitos.
Náusea é uma sensação desagradável de vontade de vomitar. Geralmente é sentida na parte superior do abdómen. Varia em intensidade e pode ou não ser seguida de vómito.
Regurgitação é definida como expulsão não-forçada de alimentos e secreções do esófago ou do estômago pela boca. Não se observa a presença de náuseas ou esforço abdominal na eliminação dos alimentos.
Nas primeiras semanas de vida, muitos bebés regurgitam uma ou mais vezes por dia, pouco tempo após a amamentação. Denomina-se regurgitação fisiológica a situação na qual a criança não apresenta outros sintomas, a evolução ponderal é normal e a diminuição gradativa das regurgitações ocorre ao longo do tempo, cessando por volta dos sete a oito meses de idade. Refluxo gastroesofágico fisiológico e erros de técnica alimentar são as causas mais comuns de regurgitação no lactente.
Vómito é a expulsão forçada de alimentos e secreções do tracto gastrointestinal alto pela boca, acompanhada por contracção intensa dos músculos abdominais. Representa um método destinado a eliminar substâncias agressivas do tracto gastrointestinal superior. (ZUCCOLOTTO e GOMES, 2001)
3.2 - Fisiopatologia
O vómito é provocado pela descida violenta do diafragma e a constrição dos músculos abdominais com relaxamento do cárdia gástrico, forçando o conteúdo gástrico de volta para o esófago. Este processo é coordenado no centro bulbar do vómito, o qual é influenciado directamente pela enervação aferente e indirectamente pela zona do gatilho quimiorreceptora e centros superiores do sistema nervoso central (SNC). Muitos processos agudos ou crónicos podem causar vómitos. Os vómitos são afectados por vários estímulos podendo estes ser de origem física, química ou psíquica.
Após a estimulação do centro do vómito inicia-se o reflexo que desencadeia as seguintes respostas:
1. inspiração profunda;
2. o osso hióide e a laringe elevam-se. Abrindo o esfíncter esofágico superior;
3. a abertura da laringe fecha;
4. eleva-se o véu do palato, fechando as coanas superiores;
5. o diafragma e os músculos abdominais contraem-se violentamente, comprimindo fortemente o estômago e aumentando a pressão intra-gástrica;
6. o esfíncter esofágico inferior relaxa-se;
7. o conteúdo gástrico é forçado para fora do estômago, passando através do esófago e da cavidade oral para o exterior – vómito – acto reflexo que se processa em resposta aos vários estímulos.
3.3 - Etiologia
O vómito pode ser a principal queixa que leva a criança ao médico ou aparece como parte do quadro clínico de diversas doenças, com importância variável no conjunto dos sintomas. Assim, como são muitas as situações e doenças que determinam esse sintoma, o conhecimento das faixas etárias em que predominam, facilita a abordagem diagnóstica da criança.
Fonte: WWW.ids-saude.org.br/medicina
1.8 Complicações dos vómitos
Quadro 1 - Causas de vómitos por faixa etária
No primeiro mês de vida
5.1. Quadros obstrutivos congénitos ou adquiridos ou quadros inflamatórios do esófago, piloro ou intestino 5.2. Doença metabólica (erros inatos do metabolismo) 5.3. Doença endócrina (hiperplasia congénita da supra-renal Lactente1. Regurgitação fisiológica 2. Refluxo gastroesofágico fisiológico 3. Técnica alimentar inadequada 4. Doença do refluxo gastroesofágico associada ou não à hérnia do hiato 5. Enteroparasitoses (giardíase) 6. Outras: 6.1. Quadros obstrutivos congénitos ou adquiridos ou quadros inflamatórios do esófago, piloro ou intestino 6.2. Doença metabólica (erros inatos do metabolismo) 6.3. Doença endócrina (hiperplasia congénita da supra-renal Pré-escolar1. Cinetose 2. Sub-oclusão ou oclusão intestinal por ascaris 3. Hepatite viral 4. Síndrome do vómito cíclico 5. Vómitos psicogénicos 6. Gastrite erosiva secundária 7. Úlcera péptica secundária | Escolar
Adolescência
Em qualquer idade
1.1.infecções respiratórias 1.2.tosse 1.3.gotejamento retronasal e secreção faríngea
2.1. gastroenterite aguda 2.2. hérnia inguinal encarcerada 2.3. intoxicação alimentar 2.4. esofagite 2.5. pancreatite 2.6. colecistite
3.1. litíase 3.2. pielonefrite aguda 3.3. uremia – insuficiência renal crónica 3.4. tubulopatias
4.1. meningite, encefalite
5.1. cetoacidose diabética
6.1. intoxicação medicamentosa acidental 6.2. efeito colateral de algumas drogas, como sulfato ferroso, antibióticos e outras |
Fonte: WWW.ids-saude.org.br/medicina
3.4 - história clínica
A colheita de dados é extremamente importante, pois irá fornecer, por si só, a maioria dos elementos de orientação. É mesmo, na maior parte dos casos, essencial para o diagnóstico.
Desta forma, a anamnese inicia-se com a diferenciação entre vómito verdadeiro e a regurgitação gástrica. No vómito verdadeiro o doente expele a maior parte do conteúdo gástrico enquanto que na regurgitação isso não acontece, estas são eliminações de pequenas quantidades de alimento logo após a sua ingestão.
Após esta diferenciação é também importante identificar o tipo de vómito, as suas circunstâncias (data, modo como surgiu, contexto e factores favorecedores – regime alimentar, horários e influência da posição), as características do vómito (conteúdo – alimentar ou bilioso, a quantidade, a frequência e ritmo em relação às refeições), os sinais e sintomas associados e a sua repercussão sobre o estado geral, nomeadamente na evolução ponderal da criança.
O interrogatório permite às vezes concluir que se trata, com frequência, não de vómitos verdadeiros mas sim da rejeição de resíduos mal digeridos.
O exame clínico é também muito importante, deve ser completo, cuidadoso e bem feito. Contudo, convém insistir sobre três pontos:
1. apreciação da repercussão dos vómitos sobre o estado geral, o estado de hidratação e o estado trófico da criança.
2. exame atento do abdómen: verificar se há um aumento do volume, se está livre ou se apresenta ondulações peristálticas.
3. o último ponto, por vezes esquecido, mas rico em ensinamentos, é o de observar a criança a beber e observar também o comportamento mãe-filho.
3.5 - Tipos de Vómito
De acordo com as circunstâncias em que ocorre e de acordo com as suas características, o vómito pode ser classificado de diferentes maneiras.
3.5.1 - Quanto às circunstâncias em que ocorre:
· Vómito ocasional: quando a criança apresenta um bom estado geral e mantém o apetite, embora vomite uma a duas vezes por dia. Geralmente encontra-se associado a uma má técnica e movimentos inapropriados durante as refeições.
· Vómito persistente: geralmente significa uma alteração que deve ser vista pela pediatria, pois este tipo de vómito provoca desidratação e desequilíbrio hidroelectrolítico, que podem levar à morte da criança se não tratada.
3.5.2 - Quanto às suas características:
· A êmese pós-pandrial é comum nas crianças com gastroenterite aguda, mas também pode indicar obstrução intestinal.
· O vómito pós-tussígeno é comum nas afecções como a asma e a coqueluche.
· O vómito em jacto, que aparece a partir do 15º dia de vida pode estar associado a estenose pilórica ou lesão cerebral.
· A presença de bílis no vómito nunca é “normal” e sempre sugere a possibilidade de uma lesão obstrutiva, especialmente em lactentes.
· A presença de sangue no vómito pode indicar hemorragia digestiva, embora se deva sempre diferenciar o sangue propriamente dito, de substâncias com as quais ele pode ser facilmente confundido.
· O vómito castanho, semelhante a borras de café é resultante da digestão parcial do sangue pelos sucos gástricos. Este sangue pode ter origem no estômago ou ter sido deglutido do nariz, boca ou garganta.
· O vómito com odor fecal indica obstrução gastrointestinal inferior, sendo de natureza grave.
3.6 - sinais e sintomas
Quando o vómito é a principal ou única manifestação, inicialmente, é preciso caracterizar se o quadro é ocasional ou persistente.
No quadro agudo, o vómito pode ser a manifestação clínica inicial, mas logo aparecem outros sintomas que permitem definir o diagnóstico como nos casos de gastroenterite aguda viral, bacteriana ou por enteroparasitose, intoxicação alimentar e hepatite viral.
Assim, deve-se sempre questionar os pais quanto a sintomas gastrointestinais associados, tais como, náuseas, diarreia e obstipação.
Outros sintomas que devem ser pesquisados incluem: febre, cefaleia, disúria, dor no flanco e queixas ginecológicas.
3.7 - tratamento
3.7.1 - Vómitos ocasionais
Para o tratamento inicial do quadro agudo de vómitos, sem etiologia definida e sem outros sinais ou sintomas de gravidade, recomenda-se pausa alimentar de curta duração, por uma ou duas horas, mantendo-se a oferta de líquidos, água e chás, em pequena quantidade, que são melhor tolerados quando gelados ou à temperatura ambiente. Em seguida inicia-se a reintrodução da dieta adequada para a idade, em pequena quantidade e a intervalos menores do que o habitual. Quando o vómito se associa à diarreia e desidratação mantém-se a pausa alimentar durante a fase de reidratação e não devem ser administrados antieméticos.
Os antieméticos podem ser utilizados nos casos em que se conhece a etiologia do vómito, como no caso de amigdalite aguda, otite média aguda, sinusite e, em alguns casos de cinetose. Estes devem ser utilizados com cautela, dado que podem mascarar os sintomas, dificultando assim o diagnóstico precoce.
Os antieméticos mais utilizados são o dimenidrinato e a metoclopramida.
3.7.2 – Vómitos persistentes
Para os lactentes nos quais são identificados erros de técnica alimentar, são feitas as orientações adequadas e marcada nova consulta para verificar a evolução do quadro e a aderência às orientações.
Para as crianças com suspeita de refluxo gastroesofágico (RGE) a abordagem terapêutica visa a melhoria dos sintomas, a prevenção dos processos aspirativos pulmonares e a instalação ou a progressão da esofagite.
As medidas terapêuticas a adoptar são:
· É fundamental a tranquilização dos pais, explicando-se a normalidade da situação. Geralmente as medidas posturais são suficientes para diminuir a sintomatologia (decúbito lateral elevado a 45-60º, evitando-se a posição de bruços para dormir, evitar o uso de roupas apertadas, bem como a manipulação das crianças após as refeições).
· Na reavaliação, se não houver melhoria significativa dos sintomas, deve-se verificar, primeiramente, se houve adesão adequada da família em relação ao decúbito elevado e, nesses casos, instituir tratamento dietético. Alguns alimentos devem ser evitados por diminuírem a pressão do esfíncter inferior do esófago, como chás, café, chocolate, frutas cítricas, gema de ovo, alimentos gordurosos e fritos. No entanto, deve-se ter o cuidado de avaliar o valor proteico, calórico e vitamínico resultante da dieta proposta, para que não haja prejuízo nutricional da criança. Dessa forma, antes de se excluir, por exemplo, a gema de ovo, deve-se ter o cuidado de verificar a possibilidade de a substituir por outro alimento de valor nutritivo semelhante. Água e sumos cítricos não devem ser oferecidos às refeições, para diminuir a distensão estomacal.
· Numa nova avaliação, se não houver melhoria clínica significativa, apesar de as medidas adoptadas estarem a ser feitas de modo correcto, pode-se instituir o tratamento medicamentoso, com reavaliação posterior. Se houver melhoria clínica, o tratamento medicamentoso deve ser mantido por pelo menos oito semanas e as medidas posturais e dietéticas, mantidas até seis meses após o desaparecimento dos sintomas.
Quadro 2 – Condutas nas crianças com quadros clínicos graves de vómitos
Quadros graves | Conduta |
1. vómitos biliares 2. vómitos fecalóides 3. vómitos com sangue vivo 4. suspeita de intoxicação medicamentosa 5. ingestão de corpos estranhos ou de produtos químicos | 1. não dar antieméticos 2. não dar antibióticos 3. manter jejum 4. procurar imediatamente ajuda médica |
ZUCCOLOTTO e GOMES, 2002
1.8 Complicações dos vómitos
Os vómitos podem apresentar-se associados tanto a complicações mecânicas como metabólicas, apesar de estes servirem ocasionalmente para expulsar material nocivo do estômago.
As complicações metabólicas dos vómitos resultam de um desequilíbrio hidroelectrolítico, por perda de água e electrólitos no material vomitado. Isto acarreta alcalose metabólica e hiponatrémia.
O acto de vomitar produz uma tensão nos músculos abominais e em alguns doentes, no pós-operatório pode provocar a abertura da incisão, deiscência da mesma ou hemorragia. Os vómitos são especialmente perigosos em doentes anestesiados, pessoas em coma e bebés, uma vez que pode haver aspiração do conteúdo para os pulmões. Esta aspiração pode causar asfixia, atelectasia ou pneumonia.
3.9 – intervenções de Enfermagem
Quando bem planeada, a assistência de enfermagem assume grande importância na neutralização de efeitos negativos sobre o doente que atravessa um quadro de vómitos. Essa assistência tem que ser ajustada aos problemas individuais de cada um.
Assim sendo, os cuidados que devem ser prestados são:
1. investigar os episódios de vómitos:
1.1.duração;
1.2.frequência;
1.3.quantidade e aparência do vómito;
1.4.medidas de alívio.
2. instituir medidas que protejam e dêem conforto à criança:
2.1.proteger contra o risco de aspiração;
2.2.verificar a higiene da criança e do ambiente (agradável).
3. reduzir e eliminar os estímulos nocivos:
3.1.dor
3.1.1. planear o atendimento de forma a que os procedimentos dolorosos não ocorram antes das refeições;
3.1.2. medicar a criança para a dor meia-hora antes das refeições, de acordo com as ordens médicas;
3.2.fadiga:
3.2.1. ensinar ou auxiliar a criança a descansar antes das refeições;
3.3.odor:
3.3.1. diminuir ou eliminar os odores nauseantes;
3.3.2. ensinar os pais a evitar cozinhar alimentos de odor forte (fritos e peixe)
4. diminuir a estimulação do centro dos vómitos:
4.1.mudar lentamente de posição, a fim de reduzir o impulso do nervo vestibular;
4.2.proporcionar uma boa higiene oral após o vómito;
4.3.ensinar a criança a praticar uma respiração profunda e a deglutição voluntária para suprimir o reflexo dos vómitos;
4.4.ensinar a criança a sentar-se após comer, mas não se deitar;
4.5.restringir os líquidos às refeições;
4.6.ingerir alimentos frios.
5. proporcionar alimentos que estimulem o apetite e aumentem o consumo de proteínas:
5.1.manter boa higiene oral antes e depois da ingestão de alimentos;
5.2.oferecer refeições pequenas e frequentes;
5.3.organizar as refeições de forma a que sejam servidos os nutrientes mais ricos em proteínas/calorias.
5.4.ensinar a:
5.4.1. ingerir alimentos secos ao levantar;
5.4.2. evitar alimentos excessivamente doces, gordurosos, fortes ou fritos;
5.4.3. beber lentamente;
5.4.4. ingerir bebidas frias.
6. iniciar a educação para a saúde e os encaminhamentos, conforme indicados:
6.1.ensinar à criança e à família a técnica de preparação dos alimentos em casa para maior ingestão nutricional;
6.2.evitar ingerir alimentos preferidos durante os períodos de náuseas e vómitos;
6.3.praticar exercícios leves, por exemplo caminhar.
4 – DIARREIA
A diarreia é provavelmente a principal causa de morbilidade infantil no mundo.
A diarreia em si, não constitui uma doença, é antes um sinal de distúrbio de origem variada e resulta de desordens que comprometem as funções digestivas, secretórias e de absorção.
4.1 - Conceito
Uma definição e identificação precisa do que constitui a diarreia, representa um problema, já que há grandes variações na função intestinal de criança para criança.
A diarreia, tendo em conta a maioria dos autores, é definida como:
- Um aumento brusco do número de dejecções (> 3 por dia);
- Mudança na consistência das fezes com aumento do seu conteúdo líquido;
- Podem apresentar-se com cor esverdeada contendo muco ou sangue;
- Geralmente é acompanhada por urgência, desconforto peri-anal e/ou incontinência;
É assim, uma importante manifestação clínica de alterações no transporte hídrico e electrolítico pelo tracto alimentar.
A diarreia, relativamente frequente na infância, é motivo de grande preocupação nesta faixa etária.
4.2 - Classificação
A diarreia pode ser dividida em aguda ou crónica, e as consequências fisiológicas variam consideravelmente em relação à sua intensidade, duração, sintomas associados, idade da criança e as induções nutritivas antes do início da diarreia.
4.2.1 - Diarreia Aguda
A diarreia aguda, uma alteração súbita na frequência e consistência das fezes, geralmente de duração limitada (tendo uma duração média de 4 a 10 dias), é mais frequentemente causada por um processo inflamatório de origem infecciosa, mas pode também ser resultado de uma reacção à ingestão de substâncias tóxicas e exageros alimentares. O sintoma é potencialmente sério porque pode causar acidose e desidratação relativamente rápidas.
A diarreia pode associar-se a infecções fora do tracto alimentar, como, por exemplo, doenças transmissíveis, infecções do tracto respiratório e urinário, ou a tensões emocionais. A maioria dos episódios de diarreia é autolimitada e cede sem tratamento específico, desde que a desidratação resultante não crie uma complicação séria.
4.2.2 - Diarreia Crónica
A diarreia crónica resulta da passagem de fezes amolecidas, em maior frequência, por um período superior a duas semanas. Associa-se mais vulgarmente a desordens de má absorção, defeitos anatómicos, motilidade intestinal anormal, reacção de hipersensibilidade (alérgica) ou uma resposta inflamatória.
Um outro tipo de classificação, defendida por vários autores, quer isoladamente, quer em associação com a classificação anterior, encontra-se no quadro seguinte:
Quadro 3: Classificação da diarreia
Classificação | Número de dejecções não moldadas em 24horas |
Leve | |
Moderada | |
Grave | > 6 e com outros sintomas associados |