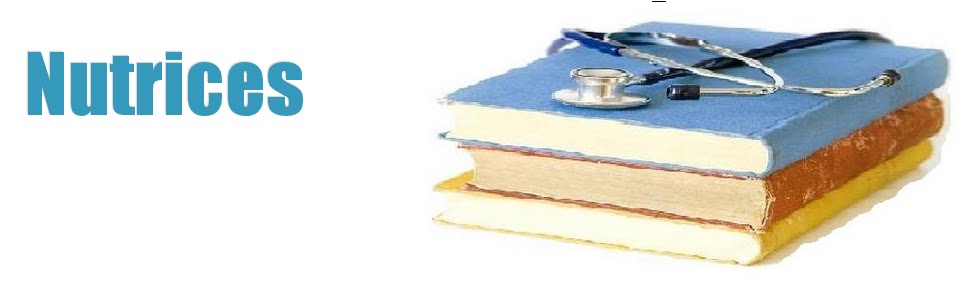Apesar das doenças a nível oral atingirem praticamente toda a população portuguesa, constituindo um grave problema de Saúde Pública, muito poucas pessoas estão sensibilizadas para avaliarem a sua importância. Não foi ainda desmistificada a crença de que sofrer de doenças dentárias é natural e inevitável, como se os dentes não merecessem os mesmos cuidados que dispensamos a outras partes do corpo, (Direcção Geral de Cuidados de Saúde Primários cit in BATALHA, 2001).
Segundo MALVITZ (1982) a Saúde Oral é a ciência e a arte de prevenir e controlar as doenças orais e promover a saúde oral através de esforços comunitários organizados. É aquela forma de prática dentária que serve a comunidade como utente em detrimento do individual. Está relacionada com a Educação da Saúde Oral à comunidade, com a investigação dentária aplicada e com a administração de um grupo responsável pelos programas de saúde oral, assim como com a prevenção e controlo das doenças orais ao nível da comunidade.
A preocupação com a saúde oral não surge apenas nos dias de hoje, muito pelo contrário. Segundo um artigo da Revista SAÚDE e BEM-ESTAR (2000), as primeiras escovas de dente que se conhecem remontam a muitos milhares de anos atrás e chamavam-se “paus ou varas de mascar” sendo construídos com pequenos ramos de arvore, que esmagavam numa das extremidades, para que ficassem filamentos de madeira suficientemente suaves para serem suportados pelas gengivas, mas ao mesmo tempo eficazes para limpar os dentes. Eram ferramentas ásperas com um efeito muito semelhante ao dos palitos. Alguns nativos da Austrália e de África ainda utilizam estas escovas rudimentares para manter a sua higiene oral.
Há vários milénios atrás, os chineses e posteriormente os romanos e gregos manifestaram um grande interesse em conservar uma adequada higiene oral. Há 5.000 anos, os sábios chineses acreditavam que a cárie era causada por larvas de cor branca e cabeça negra, que podiam ver-se quando era extraído um dente. Nessa altura os tratamentos incluíam purgantes, massagens, bochechos dentais e papas feitas geralmente com alho picado e sal que se aplicavam no ouvido oposto ao lado da cara afectado pela dor de dentes.
Os primeiros romanos também tinham as suas próprias preferências no que toca à higiene oral: Plino, o Jovem (61-113 d.C), afirmava que utilizar o tronco central de uma pena de abutre poderia causar halitose, enquanto que o uso de um pico de porco- espinho era aceitável pois tornava os dentes mais firmes.
Os gregos eram muito mais avançados: no século III a.C., Aristóteles sugeriu a Alexandre, o Grande que massajasse os seus dentes todas as manhãs, com um fino pano de linho ligeiramente áspero.
A utilização do linho para limpar os dentes foi documentada em finais de 1602, quando William Vaughan escreveu os seus quinze conselhos para preservar a saúde dentária referindo que para manter os dentes brancos e protegidos a boca deve ser limpa depois de cada refeição; sendo aconselhavél dormir com a boca ligeiramente aberta e, durante amanhã, friccionar os dentes com um pano de linho (tanto a parte interna como a externa).
No século XV, escovar os dentes era largamente aceite, até alguns filósofos como Rhodes, começarem a defender que não se devia escovar os dentes com o garfo mas sim com qualquer outro instrumento limpo para evitar danificar os dentes.
Apesar da sua má reputação no que se refere à higiene oral, foram os ingleses que fizeram chegar à nossa civilização, em 1780, a primeira escova de dentes moderna: o cabo era feito de osso e os filamentos enrolados em buracos.
A escova de dentes chegou aos Estados Unidos em 1880 - os ossos das patas do gado constituíam um material excelente para fabricar os cabos; os filamentos feitos de pêlos de porco inseriam-se manualmente numa das extremidades destes cabos, em orifícios realizados para tal.
A primeira escova de dentes com filamentos arredondados de nylon foi criada em 1950.
No século XX, a humilde escova de dentes alcançou novos cumes e em 1969 a Oral-B Classic TM viajou até à Lua: Neil Armstrong utilizou-a uns minutos antes de realizar o seu histórico passeio lunar.
Actualmente as escovas de dentes são também elas, fruto da tecnologia moderna: existem escovas com filamentos que se descolam com o uso e indicam quando se deve mudar de escova; escovas que incorporam filamentos micro-texturizados, que limpam com toda a superfície do filamento; escovas com cabos ergonómicos e filamentos de variadas inclinações de forma a uma maior eficácia aquando da limpeza, etc.
Relativamente à saúde oral em Portugal, e de acordo com a Associação Portuguesa de Saúde Oral (2002), Portugal cumpre apenas no papel as normas europeias relativas à Saúde Oral, o que significa que as verbas que o Ministério da Saúde tem aplicado nos Programas de Saúde Oral nos últimos 15 anos têm sido infrutíferas, essencialmente por déficit de bases técnicas e científicas. Segundo esta associação, os níveis de Saúde Oral permanecem estagnados há mais de 10 anos.
RAMOS (2002) referiu que a ordem dos médicos dentistas apresentou um documento de reflexão e análise do sector, no qual Portugal apresenta “os mais baixos índices” de saúde oral da união europeia tendo apresentado também as suas metas e objectivos para o período de 2002-2006 ao presidente Jorge Sampaio: integração de médicos dentistas no serviço nacional de saúde, participação das autarquias em programas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de situações de urgência.
Como refere a revista TESTE SAÚDE (2000) o Serviço Nacional de Saúde dispõem de poucos profissionais para tratamento dos dentes da comunidade, sendo o recurso às consultas privadas a única alternativa, por vezes não muito viável dado os elevados preços praticados.
Decorridos quase três anos, a mesma revista (2002) publica outro artigo dizendo que há apenas a registar o alargamento do Programa de Promoção de Saúde Oral nas Crianças e Adolescentes a todo o país e a criação dum programa de saúde oral para crianças e adolescentes deficientes, que incluem o ensino da escovagem, a administração de flúor, a aplicação de selantes e o tratamento das cáries já existentes.
Acrescenta ainda que de acordo com uma publicação da Direcção Geral da Saúde (Março de 2001) há 115 profissionais a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde (53 dentistas/estomatologistas e 62 higienistas orais) a maioria dos quais a trabalhar na região de Lisboa e Vale do Tejo. No Alentejo existe um dentista e cinco higienistas, e o Algarve conta somente com quatro higienistas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) fixou metas para que todos os países conseguissem elevar a um mais alto nível a Saúde Oral das populações; no que concerne às metas fixadas no nosso país pelo Ministério da Saúde para o ano de 2002 podem referir-se as seguintes: que 50% das crianças estejam isentas de cáries aos 6 anos; aos 12 anos a prevalência de cárie tenha um índice de dentes CPO inferior a 3; que 40% da população escolar até aos 12 anos tenha acesso assistência médica dentária, além disso os profissionais de saúde, educadores e professores deverão possuir formação em saúde com destaque para a importância do flúor, alimentação equilibrada e higiene oral na prevenção da cárie (BATALHA, 2001).
Nos programas de saúde oral do Serviço Nacional de Saúde é sobretudo acentuada a ideia de prevenção da doença oral. Os cuidados a prestar são gratuitos, de acesso livre e numa primeira fase vão contemplar jovens até aos 12 ou 16 anos, no entanto, “não podemos deixar de fora os casos gritantes, de necessidade dramática” lembra Acácio Couto Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Saúde Oral e médico dentista (Jornal Notícias de Viseu, 2002). A ideia é fazer com que, por exemplo, cada criança de cada escola que adira ao programa “tenha a sua boca limpa e que os pais tenham conhecimento da condição da boca dos filhos” acrescenta ainda Acácio Jorge.
Segundo o Jornal Notícias de Viseu (2002) D. António Monteiro, Bispo de Viseu diz-nos: “Não é com doentes e ignorantes que pode haver promoção das comunidades (...) a saúde das populações começa pela boca, pelo que os autarcas deveriam preocupar-se mais com este dado” na abertura do Congresso Internacional de Saúde Oral, que decorreu durante os dias 27, 28 e 29 de Outubro de 2002 nas instalações da Universidade Católica de Viseu – Medicina Dentária. Refere que é pela boca que maiores e mais graves problemas podem ocorrer, pondo em risco a “qualidade de vida da pessoa”.
Tendo este tema suscitado o nosso interesse e tendo em conta que cada vez mais nos dias de hoje, a prestação de cuidados não se compadecer com uma actuação empírica, julgamos ser relevante fornecer novos elementos para a compreensão desta problemática, permitindo aos profissionais de saúde uma actuação sustentada, que lhes permita agir de forma profiláctica. Pretendemos que a nossa actuação enquanto enfermeiros assuma cada vez mais um importante papel tanto a nível investigativo como preventivo em prol da melhoria da prestação dos cuidados de saúde.
Para FORTIN (1999), a investigação científica é um meio através do qual se torna possível a resolução de problemas ligados ao conhecimento dos fenómenos do mundo real em que vivemos, desenvolvida de forma ordenada, sistemática e rigorosa, permitindo descrever, explicar e predizer factos, acontecimentos ou fenómenos.
A investigação é de suprema importância para se conseguir sensibilizar as populações para a promoção da saúde, facilitando a adopção de estilos de vida saudáveis. Para um aumento dos conhecimentos é necessária uma pesquisa contínua de modo a obter-se um conhecimento mais exacto dos fenómenos permitindo o aperfeiçoamento e adequação de métodos e técnicas, tendo como objectivo obter um melhor nível de vida na comunidade.
Nesta perspectiva e após efectuar uma pesquisa bibliográfica e deparado com a inexistência de estudos neste campo, entendemos ser pertinente estudar quais os factores que influenciam a saúde oral nos adolescentes.
Um dos aspectos fundamentais na investigação é a formulação de objectivos, pois estes são os guias orientadores do nosso trabalho. Já FORTIN (1999, p.100) define o objectivo de um estudo como um “enunciado declarativo que precisa as variáveis chave, a população alvo e a orientação da investigação”.
Para a realização deste estudo definimos os seguintes objectivos:
· Analisar a saúde oral dos adolescentes do ensino secundário do distrito de Viseu;
· Analisar a influencia de alguns factores (sócio demográficos, familiares, físicos e mentais), que interferem na saúde oral;
· Analisar a existência de relação entre as determinantes da saúde (os padrões alimentares e qualidade de vida) e a saúde oral dos adolescentes do ensino secundário do distrito de Viseu
Do ponto de vista pessoal, definimos como objectivos:
· Desenvolver e aprofundar conhecimentos relativos ao processo de investigação;
· Compreender melhor a importância da investigação na melhoria dos cuidados de enfermagem;
· Obter novos conhecimentos no âmbito do tema, no sentido de uma melhor prestação de cuidados.
Com vista a atingir os nossos objectivos entendemos ser pertinente colocar as seguintes questões de investigação:
· Será que as variáveis sócio-demográficas, (o sexo a idade, e o local de residência) influenciam a saúde oral dos adolescentes?
· Qual a influência das variáveis sócio-familiares, (nível sócio-económico, qualidade de vida e padrões alimentares) na saúde oral dos adolescentes?
· A variável psicológica, (autoconceito) influencia a saúde oral dos adolescentes?
No decorrer de um processo de investigação, a fundamentação teórica assume crucial importância, devendo fundamentalmente abordar os conceitos em estudo. Através desta é possível aprofundar conhecimentos e orientar no sentido da selecção das variáveis a estudar.
Este trabalho encontra-se dividido em duas partes:
1. Fundamentação teórica, abordando temas alusivos à Saúde oral bem como, à adolescência, incidindo, sobretudo na fundamentação os temas correspondentes às variáveis em estudo.
2. Metodologia e análise, apresentação e discussão dos resultados do estudo.
Falar de Saúde Oral exige procedermos a uma revisão anatomofisiógica da cavidade oral de modo a compreendermos de uma forma mais precisa, todos os fenómenos patológicos nela decorrentes. Daí ser o primeiro tema desenvolvido neste capitulo do trabalho.
As periodontopatias são alterações se fazem sentir pela presença dos microorganismos constituídos na placa, suas toxinas, enzimas e produtos metabólicos actuando sobre os tecidos moles da gengiva, provocando o surgimento do processo inflamatório.
Como refere, TODESCAN cit. In LASCALA (1997) convém esclarecer neste momento, que a cárie dentária e as periodontopatias têm características próprias, entre si; divergem em alguns pontos e em outros são coincidentes, isto facilita a compreensão dos métodos preventivos para uma maior parte da população e possibilita uma vasta área de acção para a Promoção da Saúde.
Para uma melhor compreensão do impacto das patologias da cavidade oral na saúde, sua prevenção e tratamento, torna-se necessário analisarmos mais aprofundadamente os mecanismos de etiopatológicos apontados como factores desencadeantes de doenças da boca. Segundo CARRANZA cit in LASCALA (1997), a procura de factores envolvidos na etiologia da doença periodontal tem sido, ao longo dos tempos, preocupação prioritária em Odontologia.
Surgem diversas propostas de classificação da etiologia da doença periodontal. Uma constante em todas as classificações refere-se sempre a um factor local irritante aos tecidos periodontais e a um eventual factor sistémico.
DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997) descrevem os factores etiológico das doenças periodontais através da seguinte classificação: factores locais e factores sistémicos. Os factores locais, são os agentes situados sobre os dentes, sendo considerados como os principais elementos responsáveis pela doença periodontal. Podem, genericamente, ser classificados em determinantes, predisponentes, modificadores e iatrogénicos. Os factores sistémicos para DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), constituem toda e qualquer alteração metabólica provocada por uma doença sistémica ou modificação fisiológica transitória, possuindo a possibilidade de interferir no desenvolvimento da doença periodontal, como por exemplo a diabetes, discrasias sanguíneas, osteoporose, SIDA, etc, poderão ser considerados factores adjuvantes de patologia da cavidade oral.
Placa bacteriana é uma película que se forma diariamente sobre os dentes, a partir da saliva, que é habitada por bactérias da cavidade oral, estando estas em constante multiplicação. As bactérias da placa bacteriana provocam a cárie dentária e a doença das gengivas. Segundo FREIRE (2002), esta é o inimigo numero um dos nossos dentes, sendo a base principal no desenvolvimento da maioria das doenças da cavidade oral e define-a como uma massa esbranquiçada, que se forma diariamente, colonizada por bactérias, e encontra-se fortemente aderida à superfície das gengivas e dentes. Por isso, o factor determinante da doença periodontal surge a partir da placa bacteriana, constituída de microorganismos de diferentes espécies e formada a partir dos mesmos presentes na cavidade oral, segundo THElLADE cit in LASCALA (1997). Nesta linha de pensamento, procuramos de uma forma sucinta, descreve-la com o objectivo de proporcionar, alguns conhecimentos básicos, capazes de levar a compreender que a prevenção tanto da doença periodontal como da cárie dentária reside essencialmente no controle da placa bacteriana.
A cárie dentária para HARRIS et aI, cit in LASCALA (1997), é definida como um processo infeccioso e transmissível, de origem externa, levando a uma destruição dos tecidos dentais duros, por ácidos produzidos pelos microorganismos da placa bacteriana, tendo como consequência a formação de uma cavidade a nível dentário. A produção de ácidos resultantes do metabolismo dos hidratos de carbono inicia-se entre cerca de quinze a vinte minutos após a ingestão de alimentos originado a formação de placa bacteriana e desta o processo de desenvolvimento de cárie dentária. Daí ao longo deste trabalho abordarmos de uma forma abrangente um tema respeitante à higienização oral como a principal arma na prevenção das periodontopatias.
Segundo LASCALA (1997), estudos revelam que a cárie é predominante na juventude e jovens adultos, até mais ou menos aos vinte e cinco anos de idade, apesar de seus índices serem variáveis. Esta acarreta com complicações: obsesso dentário, fractura do dente, infecções, sensibilidade dentária e incapacidade de mastigação.
Na continuidade das patologias da cavidade oral referimos ainda a gengivite e o periodontite como sendo uma doença que envolve os tecidos gengivais comprometendo o cório e a parede gengivaI do sulco. As alterações consistem em ulceração e proliferação do epitélio e a concomitante perda das fibras colagéneas do corium da gengiva apresentando como factor etiológico enzimas produzidas por microorganismos da placa bacteriana que provocam um processo inflamatório, ( STHAL cit in LASCALA, 1997). Segundo MEDLINE PLUS (2002), esta desenvolve-se sobretudo durante a puberdade e durante as primeiras etapas da idade adulta, devido aos factores hormonais e hábitos de higiene oral. Apresenta como principais sinais e sintomas gengivas que se apresentam sensíveis ao tacto bem como sangram com facilidade. Esta sintomatologia constitui um verdadeiro indicador de saúde oral, tendo sido usado na construção da escala de saúde oral.
O tártaro é também abordado ao longo do nosso trabalho. Baseado em Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002), tártaro é uma substância que resulta da calcificação da placa bacteriana que se infiltra gradativamente entre a gengiva e o dente levando à destruição dos filamentos responsáveis pela fixação dentária e por conseguinte a sua perda.
Como referido pelo mesmo autor (2002), a formação do tártaro, também conhecido como “pedra”, tem lugar aquando da deposição dos minerais na placa que não foi removida pela escovagem e utilização do fio dental regularmente. Este depósito cria uma ligação coesa que só pode ser removida por um dentista. O tártaro é também considerado um indicador para a avaliação da saúde oral.
Para uma compreensão e avaliação da saúde oral consideramos importante fundamentar-nos um pouco acerca de quais as medidas preventivas mais adequadas e impeditivas do estabelecimento de doenças ou minimizantes dos danos por elas causados, daí dedicarmos grande parte da nosso trabalho à prevenção e motivação na clinica odontologia. Segundo LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997), o primeiro objectivo da prevenção e tratamento da doença periodontal é conseguir uma cavidade bucal livre de bactérias tendo como finalidade principal manter a dentição natural por meio da perpetuação do estado de saúde das estruturas bucais, isto porque, experimentalmente demonstrou-se que o processo inflamatório da gengiva pode ser controlado pela remoção da placa bacteriana dos dentes. Como tal abordamos ao longo desta temática, técnicas de higiene oral motivação e instrução dos doentes, tipos de escovagem, formas de higiene oral e padrões alimentares. Alguns destes elementos são intervenientes na formação da nossa escala de saúde oral.
Após abordamos temas relacionados com a saúde oral, dedicamos uma parte do trabalho à adolescência, visto o nosso estudo estar relacionado com a mesma (saúde oral nos adolescentes).
A adolescência é um estádio definido pelo cessar da infância, num extremo, e a entrada na idade adulta, no outro, a adolescência necessita de uma elucidação mais precisa (McKINNEY, 1986). Adolescente é um termo usado para se referir a um indivíduo cuja a idade se situa entre o final da infância (por volta dos 13 anos) e começo da idade adulta (a partir dos 19 anos). A adolescência inicia-se com as mudanças fisiológicas da puberdade e termina com a obtenção a nível social do estatuto de adulto (McKINNEY, 1986).
As mudanças fisiológicas e psicológicas produzem-se num ritmo diferente, consoante os indivíduos; assim, num grupo de jovens com a mesma idade coexistem situações fisiológicas e psicológicas diferentes, que o adolescente não compreende como normais tornando-se para ele uma fonte de inquietação e de comportamentos de imitação para preservar a conformidade com o grupo (CORDEIRO, 1979).
Resumindo os principais aspectos do crescimento e desenvolvimento físico durante este período podemos citar os seguintes:
· Incremento anual em estatura e peso;
· Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários durante a puberdade: nas raparigas encontra-se associado ao início da menstruação e nos rapazes, com a produção de sémen;
· Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários (McKINNEY, 1986).
A identidade deve satisfazer as necessidades inter e intrapessoais de coerência, estabilidade e síntese do adolescente sendo indispensáveis para a adaptação ás mudanças e para evitar o surgimento de perturbações da personalidade (DURON e PAROT 2001). A adolescência é um estádio em que existe uma necessidade normal de reencontro do adolescente consigo próprio em substituição dos laços afectivos infantis que o ligam aos pais por outras relações mais adultas, é conhecida crise da adolescência, que é uma crise de desenvolvimento e de procura de identidade própria. Esta maturação passa por uma contestação dos hábitos, costumes e mitos dos adultos numa procura de si próprio e de uma sociedade mais humana (CORDEIRO, 1979).
Os distúrbios de ordem psicológica ou emocional ocorrentes durante a adolescência, podem induzir liberação de adrenalina a tal ponto que provocam a nível gengival uma vasoconstrição, podendo ser um elemento activo no processo de desenvolvimento de determinadas patologias da cavidade oral. (SHANNON cit in LASCALA, 1997). Segundo MCGRATH (2002) a saúde oral é importante em termos de aparência, conforto e bem-estar, permite satisfazer uma necessidade humana básica (“comer”), promover a autoconfiança bem como o convívio social e relacionamentos amorosos como são característicos da adolescência.
Segundo DIAS (2003) a saúde oral é considerada como essencial para a qualidade de vida, existindo a necessidade de tratamento odontológico visto que a energia necessária para a manutenção de todos os processos vitais é proveniente de uma alimentação equilibrada, onde a cavidade oral tem uma importância fundamental. Visto também a qualidade de vida ser uma das variáveis em estudo no nosso trabalho, estabelecemos um paralelismo entre a qualidade de vida e saúde oral.
No que se refere à segunda parte desta monografia apresentamos a metodologia utilizada bem como a análise de dados, apresentação e discussão dos resultados do estudo.
Para FORTIN (1999, p.372), a metodologia é “o conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a elaboração do processo de investigação científica. Também é a secção da investigação que descreve os métodos e as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação”.
Neste sentido, procuramos descrever de uma forma clara o percurso realizado na efectivação deste estudo, possibilitando assim uma visão global e objectiva do trabalho. Ao longo desta parte apresentamos os objectivos e conceptualização do nosso estudo bem como o esquema de investigação por nós idealizado, as hipóteses formuladas e respectiva justificação, a variável dependente, (saúde oral nos adolescentes) e independentes, sócio-demográficas (idade, sexo, local de residência e ano de escolaridade), sócio-familiares, (nível sócio-económico, padrões alimentares e qualidade de vida) e psicológicas, (autoconceito).
Dada a dimensão da população em estudo recorremos a uma amostra que para POLIT e HUNGLER (1995) “ é um subconjunto de entidades que compõem a população”. A amostra deve-se comportar como a população ou possuir características análogas devendo por isso ser representativa da população em estudo para permitir a extrapolação dos dados para a população em geral.
Nesta perspectiva, a amostra que serve de base para a realização do nosso estudo é formada pelos alunos a frequentar o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade no distrito de Viseu, com escolha de algumas turmas de escolas secundárias dos 24 concelhos deste distrito aos quais foram aplicados os questionários.
A amostragem utilizada é não probabilística por conveniência (intencional), dado que nem todos os elementos da população possuem a mesma possibilidade de serem seleccionados, tendo sido retirada uma amostra intencional de cada subgrupo da população (FORTIN, 1999). Para a realização do nosso estudo optamos pela elaboração e aplicação de um protocolo constituído por um questionário e escalas. FORTIN (1999) diz que este protocolo permite traduzir os objectivos de um estudo, medir as variáveis, controlar os dados e os enviesamentos para que a informação se torne rigorosa, fidedigna e válida.
No tratamento dos dados recorremos a estatística descritiva e analítica. Na parte descritiva foram utilizadas, frequências absolutas e percentuais, medidas de tendência central (média (X), moda (Mo)), medidas de dispersão, desvios padrão e coeficiente de variação.
Assim, no que respeita à estatística analítica utilizámos, para testarmos as hipóteses apresentadas, teste Kolmogorov-Sminorv como teste da normalidade da distribuição da variável dependente, teste t de Student para amostras independentes, correlação de PEARSON e análise de variância (ANOVA) também para amostras independentes, para a hipótese 1. Relativamente à hipótese 2 e 3, foram utilizadas correlações de PEARSON.
Em última instância, no sentido de permitir a concentração do maior número possível de informação no menor espaço, visualização dos fenómenos através da representação material figurada e facilitar uma melhor comparação dos dados na apresentação dos resultados do nosso estudo, optámos por reproduzir os dados organizados em tabelas e gráficos.
PARTE I
2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No decorrer de um processo de investigação, a fundamentação teórica assume uma importância fundamental, devendo fundamentalmente abordar os conceitos em estudo. Através desta é possível aprofundar conhecimentos e orientar no sentido da selecção das variáveis a estudar.
2.1 - Anatomia e Fisiologia
2.1.1 - Cavidade Oral
Também designada por boca, a cavidade oral é delimitada anteriormente pelos lábios, posteriormente pela fauce, lateralmente é delimitada pela malar, superiormente pelo palato e a zona inferior por uma zona muscular.
Segundo SEELEY et al (1997), a boca pode ser dividida em duas zonas; a entrada, denominada por vestíbulo, que é a zona entre os lábios, região malar e os alvéolos onde estão inseridos os dentes; e a cavidade oral propriamente dita, que se encontra entre os alvéolos dentários. A cavidade oral apresenta-se revestida por um epitélio de descamação estratificado, que serve para a protecção da abrasão.
2.1.2 - Lábios e Região Malar
SEELEY et al (1997), descreve os lábios como pregas musculares, cobertas internamente por mucosa e por epitélio de descamação estratificado no exterior. Comparando com o epitélio da pele, a camada epitelial que reveste os lábios é relativamente fina e menos queratinizada, por este motivo, é mais transparente do que o restante epitélio da superfície do corpo. A cor avermelhada ou rosa que observamos nos lábios deve-se à cor dos vasos sanguíneos subjacentes, exactamente devido ao facto deste epitélio ser relativamente transparente, mesmo que aquele seja muito pigmentado.
As regiões malares moldam as paredes laterais da cavidade oral, são constituídas por uma camada interior de epitélio de descamação estratificado e uma camada exterior de pele. O músculo bucinador e a almofada adiposa da região malar são os responsáveis pela formação da região malar.
Os lábios e as regiões malares adquirem extrema importância em todo o processo da mastigação e da fala, auxiliam a manusear os alimentos na boca e a mantê-los em posição, ao mesmo tempo que os dentes os esmagam ou despedaçam. São ainda responsáveis pelo auxílio na fala, nomeadamente no pronunciar palavras, de acordo com SEELEY et al (1997).
2.1.3 – Língua
2.1.4 – Dentes
Um adulto normal contém 32 dentes distribuídos por duas arcadas dentárias, a arcada maxilar e mandibular. Os dentes possuem uma distribuição simétrica na metade esquerda e direita em ambas as arcadas. Assim podemos dividir os dentes em quatro quadrantes: superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. Em cada quadrante estão presentes dois dentes incisivos, um central e outro lateral, um canino, o primeiro e segundo pré-molares, e o primeiro, o segundo e o terceiro molares. Os terceiros molares são os denominados por dentes do siso. Em determinados indivíduos com a boca pequena, o terceiro molar pode não ter espaço para irromper na cavidade oral e mantém-se embutido dentro da mandíbula. São denominados de dentes inclusos, SEELEY et al (1997).
| |||||||||
 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
 |
Os dentes do adulto são denominados de definitivos ou segunda dentição. A maior parte destes são substitutos dos primeiros dentes denominados de dentes primários ou deciduais.
| |||
|
Para SEELEY et al (1997), cada dente é constituído por uma coroa, com uma ou mais cúspides, pelo colo e pela raiz. No interior de cada dente, na zona central, existe a cavidade polpar, espaço que está preenchido por vasos sanguíneos, nervos e tecido conjuntivo constituindo no seu conjunto a polpa do dente. O canal radicular é constituído pela parte da polpa que penetra na raiz. Os vasos sanguíneos e os nervos saem e entram na polpa através do foramén ou buraco apical, que se encontra na extremidade de cada raiz. A dentina é um tecido vivo, celular e calcificado que circunda a cavidade polpar. A dentina da coroa dos dentes é revestida por uma substância acelular e sem vida, muito dura que se chama esmalte. Este protege os dentes da abrasão e dos ácidos produzidos pelas bactérias da boca. A nível da raiz, o dente está envolvido por uma substância celular muito semelhante ao osso, o cimento, que desempenha um papel fundamental na fixação dos dentes ao maxilar.
 | |||
|
Os dentes estão encaixados nos alvéolos ao longo da crista alveolar do maxilar e da mandíbula. Tecido conjuntivo fibroso denso e epitélio de descamação estratificado revestem as cristas alveolares constituindo a gengiva. A sustentação dos dentes é realizada pelos ligamentos periodontais presentes nos alvéolos cujas as paredes são revestidas pela membrana periodontal, SEELEY et al (1997).
Os dentes desempenham um papel muito importante na mastigação e têm também grande interferência na fala.
De acordo com um relatório da SPEMD (2001), foi feita uma análise separada do grupo etário dos 8 aos 16 anos, em subgrupos (8 a 12 e 13 a 16 anos), que demonstrou que o aumento do número de dentes cariados, perdidos ou restaurados aumentou significativamente do subgrupo mais jovem para o subgrupo mais velho. Quanto ao número médio de dentes permanentes cariados e restaurados verificou-se uma relação inversa com o aumento da idade, devido à perda de dentes devido a cárie e doença periodontal. O número de dentes presentes também diminui com a idade, como é de esperar. As diferenças encontradas entre os sexos não são significativas, no entanto as mulheres tendem a possuir um número ligeiramente superior de dentes restaurados e perdidos.
2.1.5 - Palato e Amígdalas Palatinas
SEELEY et al (1997), refere que o palato é constituído por duas partes, o palato duro e o palato mole, sendo o palato duro a parte anterior óssea e o palato mole a parte posterior, não óssea, constituído por músculo-esquelético e tecido conjuntivo. A úvula é formada pela projecção do bordo posterior do palato mole.
As amígdalas palatinas estão localizadas nas paredes laterais da orofaringe (fauce).
2.1.6 - Glândulas Salivares
De acordo com KUTCHAI (1993), para o tamanho que possuem, as glândulas salivares produzem um fluxo de saliva prodigioso. A taxa máxima em humanos é cerca de 1ml por minuto por grama de glândula. As glândulas salivares tem uma taxa elevada de metabolismo e alto fluxo sanguíneo.
Segundo SEELEY et al (1997), existem diversas glândulas salivares distribuídas pela cavidade oral. Temos três pares de grandes glândulas multicelulares, as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. Além deste tecido glandular agregado, existem inúmeras glândulas tubulares espiraladas na língua, região malar e lábios, sendo em parte através da secreção destas glândulas que é possível manter a humidade da cavidade oral e iniciar o processo da digestão.
As glândulas salivares de maior dimensão, são todas elas constituídas por glândulas alveolares compostas ramificadas, com cachos de alvéolos parecidos com cachos de uvas. Produzem secreções serosas diluídas, ou secreções mucosas e espessas, por isso a saliva é uma combinação de fluidos serosos e mucosos.
As maiores glândulas são as parótidas. Estão localizadas mesmo à frente do ouvido em cada lado da cabeça. São glândulas serosas e produzem principalmente saliva aquosa. Os canais parotídeos abrem-se na face anterior da glândula, atravessam a face lateral do músculo masseter e o músculo bucinador, entrando na cavidade oral junto ao segundo molar superior.
As glândulas submaxilares são mistas apresentando mais alvéolos serosos do que mucosos. A partir destas glândulas abre-se um canal que atravessa anteriormente e em profundidade a membrana mucosa do pavimento da cavidade oral e que se abre na boca, junto ao freio da língua. Cada glândula pode ser palpada e percebida como uma massa macia ao longo do bordo inferior da metade posterior da mandíbula, SEELEY et al (1997).
As mais pequenas dos três maiores pares são as glândulas sublinguais. São mistas e, apesar de terem alguns alvéolos serosos, são principalmente constituídas por alvéolos mucosos. Encontram-se imediatamente por baixo da membrana mucosa do pavimento oral. Não têm canais individuais bem definidos, como as glândulas submaxilares e as parótidas, abrem-se no pavimento oral através de l0 a 20 pequenos duetos.
2.2 - DOENÇAS PERIODONTAIS
No caso das periodontopatias, as alterações se fazem sentir pela presença dos microorganismos constituídos na placa, suas toxinas, enzimas e produtos metabólicos actuando sobre os tecidos moles da gengiva, provocando o surgimento do processo inflamatório.
Convém elucidar nesta oportunidade que sobre o ponto de vista da Periodontia dividimos o "Periodontum" em tecidos de protecção que representam a gengiva propriamente dita e os de sustentação que envolvem o ligamento periodontal, o osso e o cimento radicular, quando nos a situações gengivais, isto quer dizer que somente os tecidos da gengiva estão envolvidos nas alterações; quando dito periodontal, pelo menos um dos tecidos de sustentação está comprometido no processo (LASCALA et aI., 1997).
Segundo LASCALA, (1997) os dois flagelos da Odontologia são representados pela cárie dentária e as periodontopatias. Se elas não existissem, pouco, ou quase nada, restaria para as manobras terapêuticas da clínica preventiva e curativa.
Como refere, TODESCAN cit. In LASCALA (1997) convém esclarecer neste momento, que a cárie dentária e as periodontopatias têm características próprias, entre si; divergem em alguns pontos e em outros são coincidentes, isto facilita a compreensão dos métodos preventivos para uma maior parte da população e possibilita uma vasta área de acção para a Promoção da Saúde.
Para uma melhor compreensão do impacto das periodontopatias na saúde oral, sua prevenção e tratamento torna-se necessário analisarmos mais aprofundadamente as mais frequentes e com maior influencia na saúde em geral.
2.2.1 - Etiopatogenia das Doenças Periodontais
Segundo CARRANZA cit in LASCALA (1997), a procura de factores envolvidos na etiologia da doença periodontal tem sido, ao longo dos tempos, preocupação prioritária em Odontologia. O tártaro foi considerado, ao longo de muito tempo, como responsável directo pela instalação da doença periodontal. A observação de tal relacionamento ocorria em virtude de que a remoção do tártaro propiciava o abrandamento dos sinais e sintomas de inflamação. No entanto, a recidiva da inflamação fazia-se a curto prazo, e de facto muito rapidamente, podia ser novamente observado tártaro.
Surgem diversas propostas de classificação da etiologia da doença periodontal. Uma constante em todas as classificações refere-se sempre a um factor local irritante aos tecidos periodontais e a um eventual factor sistémico.
DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997) descrevem os factores etiológicos das doenças periodontais através da seguinte classificação: factores locais e factores sistémicos.
Factores Locais
Podemos referir que os factores locais, são os agentes situados sobre os dentes, sendo considerados como os principais elementos responsáveis pela doença periodontal. Podem, genericamente, ser classificados em determinantes, predisponentes, modificadores e iatrogénicos.
Factores determinantes: o principal factor determinante da doença periodontal é a placa bacteriana, segundo FREIRE (2002), esta é o inimigo numero um dos nossos dentes. Esta define placa bacteriana como uma massa esbranquiçada, que se forma diariamente, colonizada por bactérias, e encontra-se fortemente aderida à superfície das gengivas e dentes. O sulco gengival e os espaços interdentários são os locais onde a placa se acumula em maior quantidade. Portanto, o factor determinante da doença periodontal ocorre por conta da placa bacteriana, constituída de microorganismos de diferentes espécies e formada a partir dos mesmos presentes na cavidade oral, segundo THElLADE cit in LASCALA (1997).
Factores predisponentes: são os factores que, directa ou indirectamente, facilitam a acumulação da placa bacteriana, ou dificultam sua remoção mecânica, facilitando a instalação e progressão da doença periodontal. Temos então como factores que ocorrem com maior frequência:
a) Calculo dentário (tártaro). É, sem dúvida, o principal factor, cuja eliminação depende da intervenção do dentista. Este será abordado posteriormente no decorrer deste trabalho.
b) Anatomia dentária e forma do arco. Neste contexto podem ser incluídos o mau posicionamento e o apinhamento dos dentes como elementos que de alguma maneira dificultam a higiene oral. O apinhamento nos incisivos inferiores permanentes é observado em 60% dos adolescentes aos 14 anos, e pode ocorrer antes da erupção dos terceiros molares segundo BAER e BENJAMIM cit in LASCALA (1997).
Dentro deste factor é importante ressaltar a fase de substituição da dentição decídua onde temporariamente é possível a detecção de fragmentos de dente decíduo em esfoliação, favorecendo a retenção de placa ou impedindo uma correcta higienização devido à sensibilidade dolorosa segundo SARIAN cit in LASCALA (1997).
Segundo a mesma autora as cavidades provocadas pela cárie, se consideradas como anatomia dentária alterada, são tidas como factores predisponentes devido à retenção de placa bacteriana, e em função de dor ao estímulo físico, por dificultarem ou impedirem a higiene oral.
Para KORNMAN e LOE cit in LASCALA (1997), a literatura recente destaca a importância do conhecimento da anatomia dentária, realçando a presença de projecções de esmalte, pérolas de esmalte e sobretudo a existência de depressões, sulcos e concavidades além de furcas em faces de determinados dentes. Isto significa que o conhecimento prévio destas áreas, tidas como retentoras da placa bacteriana e de difícil acesso à higiene oral, permite ao dentista, identifica-las, alertando o paciente para um melhor cuidado nestas zonas.
C) Anatomia do periodonto de protecção. Segundo LASCALA (1997), algumas vezes, a extensão de gengiva inserida é suficiente, porém, a presença de freios, inserções musculares e bridas têm a sua inserção muito próxima à gengiva marginal e papilar, tornando o vestíbulo raso, o que se traduz em dificuldades para a higienização da área. O problema torna-se então mais grave quando este facto ocorre em áreas de gengiva inserida insuficiente ou mesmo inexistente.
A retracção gengival ou afastamento da gengiva em relação ao dente e podem ocorrer com alguma frequência, devido ás bridas, inserções musculares e os freios de lábio, favorecendo ainda mais a deposição de placa bacteriana.
D) Respiração bucal. De prevalência significativa na dentição decídua, mista e permanente, deve ser objecto de atenção. A exposição ao ar dos dentes e gengiva, provavelmente leva a uma evaporação do componente líquido da placa bacteriana dificultando sua remoção através da higiene oral segundo CARRANZA cit in LASCALA (1997). A fibrose gengival típica pode levar a uma reacção inflamatória crónica devido à placa bacteriana e ao ressecamento produzido sobre os tecidos gengivais, baseado em SARIAN cit in LASCALA (1997).
Factores modificadores: Para TODESCAN cit in LASCALA (1997), são os factores locais que alteram o curso de evolução da doença periodontal, contribuindo para o agravamento dos efeitos produzidos pelos microorganismos. Uma força de oclusão anormal (traumatismo), deve ser considerada como factor de grande importância quando este origina um processo de inflamação.
Outros factores podem ser mencionados, como hábitos parafuncionais, indirectamente actuando como trauma de oclusão, briquismo, alteração da deglutição, além da colocação de corpos estranhos (lápis, caneta, etc.) entre os dentes, frequentes na infância e na adolescência, segundo SARIAN cit in LASCALA (1997).
Segundo PREBER, et al, cit in LASCALA (1997), o fumo em especial tem sido considerado droga capaz de alterar resposta tecidual, sendo visto como factor modificador local, Parece que mesmo em pacientes dotados de boa higiene oral, caso seja fumador, ocorrerá perda óssea em maior proporção. A nicotina tanto a nível local como em nível sistémico exerce uma actividade vasoconstritora, o que leva a crer que a mesma modifique o mecanismo de defesa, dificultando a diapedese dos neutrófilos para o sulco gengival. Ressalte-se que parece haver uma correlação entre severidade de doença periodontal e quantidade de cigarros fumados diariamente.
Factores iatrogénicos. São os factores etiológicos provenientes do tratamento dentário incorrecto, quer por negligência, incompetência, imprudência profissional, ou por alguma situação anatómica inerente ao paciente, que impede o dentista de executar um trabalho adequado. Os factores iatrogénicos estão relacionados, de certa forma, com os factores predisponentes. Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), pode então citar-se:
a) Adaptação e acabamento cervical das restaurações e coroas de aço: a má adaptação de coroas protectoras, coroas de aço, incrustações ou restaurações com excesso a nível cervical favorece a retenção de placa bacteriana. Especialmente nos espaços interproximais impedindo a livre circulação do fio dentário ou da escova interproximal.
b) Nível em que termina o tratamento cervical: de modo geral, exceptuando condições estéticas, admite-se que restaurações ou próteses que penetrem no interior do sulco gengivaI tornam-se factores iatrogénicos em função da dificuldade de higienização nestas áreas. Sendo sempre recomendável tratamento cavitário supragengival ou, no máximo, a nível da borda da gengiva marginal.
c) Contorno das restaurações: Assume-se actualmente ser preferível uma menor convexidade que um sobrecontorno nas restaurações, uma vez que este funciona como modificação anatómica facilitando a retenção de placa bacteriana. Também um sobrecontorno proximal exagerado reduz as ameias e dificulta a higiene além de comprimir a papila gengival.
d) Superfície das restaurações: Quanto mais lisa e polida for a superfície maior é a dificuldade da deposição de placa bacteriana. Por esta razão, deve-se optar, sempre que possível, por materiais restauradores que permitam um melhor polimento. As restaurações plásticas quando sofrem processo de solubilização superficial, ou restaurações metálicas após corrosão, proporcionam maior retenção de microorganismos, sendo aconselhada portanto a sua substituição. Segundo FEIST e DUARTE cit in LASCALA (1997). Estudos efectuados no sentido de procurar verificar uma correlação entre tipo de material restaurador (resinas, amálgamas, porcelana, silicatos) revelam que independentemente do material, o importante é que a superfície seja lisa o suficiente para facilitar o controle da placa bacteriana.
e) Excesso oclusal das restaurações: Um excesso de restauração oclusal provoca um contacto prematuro podendo então desencadear um trauma de oclusão, o que pode levar ao aparecimento de uma iatrogenia. Apesar de ser possível uma adaptação fisiológica pode ocorrer no entanto, lesão a nível de periodonto de sustentação. Torna-se importante então a verificação da ausência de interferências dentro dos limites dos movimentos mandibulares no tratamento de reconstrução dentária oclusal.
f) Aparelhos ortodônticos: Estes poderão actuar de maneira iatogênica quando não são bem planeados, podendo actuar de forma iatrogênica tanto sobre o periodonto de protecção, dificultando a sua manutenção pela higiene oral, como sobre o periodonto de sustentação, induzindo reabsorções ósseas não compensadas por neoformação. A retenção de placa bacteriana pode ainda ser favorecida pela colocação de bandas e bráquetes. De acordo com ATACK cit in LASCALA (1997), quase sempre o problema periodontal é transitório e reversível quando terminado o tratamento ortodôntico. Para DIAMANTI e KIPIOTI cit in LASCALA (1997), Este facto está relacionado com as alterações transitórias da microbiota oral durante o uso de aparelho ortodôntico fixo, pois há um aumento na proporção de Prevotella intermedi.
Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), o facto de o paciente não ser informado acerca da etiologia e dos recursos existentes para se prevenir ou interceptar a doença periodontal, apresenta-se como o maior factor iatrogénico.
Outros factores locais irritativos. De acordo com LASCALA (1997), Indirectamente relacionados à doença periodontal, podem ser observados:
a) Matéria alba: composta de células epiteliais descamadas, leucócitos, restos alimentares e bactérias de baixo potencial patogénico.
b) Impacção alimentar: é a compressão mecânica constante sobre o tecido gengival, especialmente devido à ausência ou incorrecção de superfície de contacto entre os dentes.
d) Higiene oral traumática: ocorre quando há um uso excessivo e traumático da escova, do palito ou do fio dentário, resultando numa agressividade sobre a gengiva e o dente. É comum a observação de retracções gengivais na vestibular do hemiarco superior esquerdo, visto ser normalmente a partir desta área que se inicia e com mais vigor a escovagem.
e) Irritações térmicas e químicas: estas poderão ocorrer acidental ou propositadamente durante a fase de tratamento dentário, ou quando o paciente utiliza medicação tópica. A utilização indiscriminada de produtos tidos como benéficos à gengiva é comum, na realidade estes apresentam-se mais como irritantes que anti-inflamatórios, como anunciado na publicidade.
f) sobremordida: quando os dentes inferiores (devido à condição oclusal) são levados a ocluírem no tecido gengival palatino, traumatizando-o.
Factores Sistémicos
Para DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), toda e qualquer alteração metabólica provocada por uma doença sistémica ou modificação fisiológica transitória possuem a possibilidade de interferir no desenvolvimento da doença periodontal. Actualmente não existe nenhuma evidência ou estudo, quer em animais ou humanos, de que doenças ou estados sistémicos sejam capazes de iniciar uma doença periodontal, estes apenas poderão agravá-las.
De acordo com DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), podemos mencionar várias doenças mais frequentemente apontadas como agravantes da doença periodontal, como sendo:
a) Diabetes: o paciente diabético apresenta uma alta susceptibilidade às infecções, como é conhecida. O espessamento dos capilares que ocorre no diabético está na origem das alterações a nível periodontal, dificultando a migração leucocitária, assim como a presença de glicose no fluido gengival promovendo meio nutritivo para microorganismos, além de alteração no potencial de neoformação do colágeno. De acordo com TERVONEN cit in LASCALA (1997), as respostas teciduais ao tratamento periodontal básico (higiene oral e raspagem) em pacientes diabéticos controlados é a igual à que é observada em pacientes normais.
b) Discrasias sanguíneas: como diversas formas de anemia, a leucemia, a hemofilia, agranulocitose, púrpura trombocitopénica, bem como alterações drásticas nos componentes celulares sanguíneos podem levar a um agravamento de uma doença periodontal preexistente. Pelo facto de estas doenças poderem ser congénitas e aparecerem em qualquer faixa etária deverá exigir uma atenção especial dos técnicos na anamnese.
c) SIDA: Síndroma da imunodeficiência adquirida interfere de uma forma dramática na resposta tecidual periodontal, contudo, existem casos em que não ocorre nenhuma alteração ou agravamento das condições periodontais. Segundo GENCO e LOE cit in LASCALA (1997), os sinais clínicos da gengivite necrosante aguda, inclusive com a exposição do osso alveolar o que não ocorre usualmente, aparecem como a manifestação periodontal clínica mais comum.
d) Osteoporose: Apesar de não existirem estudos especificamente dirigidos para encontrar uma correlação entre doença periodontal e pacientes portadores de osteoporose, existem contudo, evidências clínicas de que tal alteração sistémica não interfere no processo tanto da evolução da doença periodontal quanto da resposta ao tratamento, segundo GENCO e LOE cit in LASCALA (1997).
e) Hereditariedade: NARDIN cit in LASCALA (1997), afirma que apesar da ideia leiga existente de que as doenças periodontais tenham um carácter hereditário, isto não acontece. Esta ideia enganosa, imaginada pelo doente, surge devido ao de facto de ser elevada a prevalência desta doença. Existem determinados tipos de doença periodontal (periodontite juvenil, periodontite da pré-puberdade) onde pode haver um aspecto genético relacionado à alteração na actividade de neutrófilos.
Segundo LASCALA (1997), os estados sistémicos caracterizam-se por mudanças transitórias, normalmente associadas com alterações hormonais e também outros factores como: medicamentos, nutrição e deficiência vitamínica, distúrbios psicológicos e emocionais e o fumo. As principais modificações provocadas por alterações hormonais ocorrem nas seguintes situações: puberdade, menstruação, gravidez, uso de anticoncepcionais e menopausa. De uma forma geral, são descritas alterações a nível de conjuntivo e epitélio.
Na gravidez a nível gengiva dá-se uma diminuição na espessura do epitélio, devido ao facto de ocorrer retenção de água e sais nos tecidos, que somada ao aumento de vascularização e à diminuição de queratinização leva a que esta adquira um aspecto clínico mais avermelhado e flácido. Esta alteração provoca mais frequentemente o aparecimento de granuloma piogênico no tecido gengival, o que deu origem à nomenclatura típica de estados fisiológicos como gengivite gravídica, épulis gravídico e tumorou granuloma gravídico, de acordo com SARIAN cit in LASCALA (1997).
Para LASCALA (1997), as pesquisas com o objectivo encontrarem correlação entre variações hormonais femininas e a doença periodontal são conflitantes, devendo-se este facto à dificuldade clínica de se detectar gengiva histologicamente normal. De qualquer maneira a tendência é de se admitir que o factor hormonal por si só é incapaz desencadear doença periodontal.
Através de observações clínicas é possível demonstrar que, ocorrem alterações de comportamento no indivíduo, principalmente na puberdade e gravidez, o qual negligencia sua higiene oral. Em situações como esta não há dúvida que a reacção inflamatória dos tecidos gengivais aos agentes irritantes locais se torna mais evidente. Contudo, pacientes com gengiva clinicamente normal e com baixo índice de placa bacteriana não apresentam com gengivite típica nos períodos de alteração hormonal. Estudos microbiológicos demonstraram maior presença de Prevotella intermédia em pacientes grávidas, provavelmente devido ao aumento de progesterona e estrogénio no fluido gengival, considerados nutrientes para certos tipos de microorganismos, segundo KORNMAN e LOESCHE cit in LASCALA (1997).
Relativamente à influência medicamentosa como elemento agravante da doença periodontal, há que referir os anticoncepcionais, em que o mecanismo é igual ao descrito anteriormente, isto é, estes medicamentes podem agravar alterações periodontais já existentes. De acordo com KNIGHT, et al cit in LASCALA (1997), pacientes sob efeito de anticoncepcionais e que possuem uma higiene oral deficitária apresentam-se com gengivite mais acentuada quando comparadas a pacientes que não estejam sob os efeitos de anticoncepcionais.
O difenil-hidantoinato de sódio apresenta-se como a mais conhecida influência medicamentosa sobre os tecidos periodontais. Este induz um aumento na formação do colagéneo gengival, caracterizando a chamada hiperplasia gengival dilantínica. SEYMOUR e HEASMAN cit in LASCALA (1997), refere a existência de outras substâncias, como nifedipina, ciclosporina, diltiazen, verapamil, com efeitos colaterais atingindo o tecido gengival. Estas actuam no processo de hiperplasia gengival levando a uma resposta alterada frente à placa bacteriana, alternando entre aspecto crónico (gengiva fibrosa), e aspecto agudo (gengiva flácida),
Outros factores que podem agravar a doença periodontal já estabelecida são o desequilíbrio na nutrição ou deficiência vitamínica. Segundo GENCO e LOE cit in LASCALA (1997), uma deficiência acentuada nas vitaminas A e C pode levar à modificação ou aceleração da evolução da inflamação preexistente, uma vez que a vitamina C é elemento importante na formação do colágeno, assim como a vitamina A na regeneração e manutenção do epitélio.
Os distúrbios de ordem psicológica ou emocional podem induzir liberação de adrenalina que provocam a nível gengival uma vasoconstrição, podendo ser um elemento activo no processo de desenvolvimento da gengivite necrosante aguda. SHANNON cit in LASCALA (1997) refere a observação da presença de corticosteróides em maior quantidade na secreção urinária de pacientes portadores de gengivite necrosante aguda, quando comparados a pacientes normais. Segundo CLAFFEY cit in LASCALA (1997), parece haver simultaneamente nestes pacientes uma queda na quimiotaxia de neutrófilos devido a um defeito celular intrínseco, o qual se revela de uma forma transitória durante o estado agudo.
Relativamente à influência sistémica do fumo, nomeadamente a nicotina, KARDACHI, et al cit in LASCALA (1997) relatam o aparecimento local e sistémico de catecolaminas em resposta à acção da nicotina. Referem que a superposição desta catecolaminas àquela originada do stress ocasione redução no fluxo sanguíneo gengival, promovendo, assim, necrose papilar. O facto de que os indivíduos que fumam, normalmente aumentarem a quantidade de cigarros fumados por dia quando confrontados com situações de stress, leva a que haja um somatório de efeito sistémico reflectindo uma condição local. Actualmente, os estudos clínicos e epidemiológicos demonstram que o fumo seja uma importante variável que afecta a prevalência e progresso da periodontite do adulto, da periodontite refractária e sobretudo da gengivite necrosante aguda. De acordo com um estudo realizado por PREBER e BERGSTROM cit in LASCALA (1997), foi possível demonstrar que existe uma reparação deficiente e menor redução de bolsa periodontal após cirurgia, em pacientes fumadores quando comparados a não fumadores.
Resumindo, podemos apresentar o seguinte quadro com a classificação dos factores etiológicos das doenças periodontais.
|
FACTORES LOCAIS | ||
| DETERMINANTES Microorganismos (Placa bacteriana) PREDlSPONENTES Tártaro Anatomia dentária e forma do arco Anatomia do periodonto de protecção Respiração oral Dentes decíduos em esfoliação | IATROGÉNICOS Adaptação e acabamento cervical de restaurações Nível em que termina o tratamento cervical Contorno das restaurações Superfícies das restaurações Excesso oclusal das restaurações Aparelhos ortodônticos | |
| OUTROS FACTORES Matéria alba Impacçáo alimentar Higiene oral traumática Irritações térmicas e químicas Sobremordida | ||
| MODIF!CADORES Factores traumatizantes Hábitos parafuncionais Drogas (fumo, álcool, etc.) | ||
FACTORES SISTÉMICOS | ||
| DOENÇAS Diabetes Discrasias sanguíneas SIDA Osteoporose Hereditariedade | ESTADOS SISTÉMICOS Puberdade Menstruação Gravidez e anticoncepcionais Medicamentosos Nutrição e deficiência vitamínica Distúrbios psicológicos e emocionais Fumo |
|
2.2.2 - Placa Bacteriana
Relativamente à placa bacteriana procuramos, de uma forma sucinta, descreve-la com o objectivo de proporcionar, alguns conhecimentos básicos, capazes de levar a compreender que a prevenção tanto da doença periodontal como da cárie dentária reside essencialmente no controle da placa bacteriana.
Placa bacteriana é uma película que se forma diariamente sobre os dentes, a partir da saliva, que é habitada por bactérias da cavidade oral, estando estas em constante multiplicação. As bactérias da placa bacteriana provocam a cárie dentária e a doença das gengivas, (DIAS, 2002).
Como já referido anteriormente, segundo FREIRE (2002), esta é o inimigo numero um dos nossos dentes. Placa bacteriana é definida como uma massa esbranquiçada, que se forma diariamente, colonizada por bactérias, e encontra-se fortemente aderida à superfície das gengivas e dentes. Por isso, o factor determinante da doença periodontal surge a partir da placa bacteriana, constituída de microorganismos de diferentes espécies e formada a partir dos mesmos presentes na cavidade oral, segundo THElLADE cit in LASCALA (1997).
Placa bacteriana pode ser definida como um acúmulo bacteriano não mineralizado que se fixa fortemente às superfícies duras encontradas na cavidade oral (dentes, aparelhos protéticos, materiais restauradores, implantes, etc.). DAWES cit in LASCALA (1997) descreve a placa bacteriana como sendo uma substância fisicamente estável sobre o dente, que se torna impossível de ser removida através da simples lavagem com água. A sua estrutura inclui uma matriz orgânica derivada de proteínas salivares e polissacarídeos extra celulares, assim como células epiteliais, no entanto 75% de seu volume é composto por bactérias, leucócitos e macrófagos, SANZ e NEWMAN cit in LASCALA (1997).
Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), é conhecido já há muito tempo a significativa correlação entre a presença de microorganismos da cavidade oral e o aparecimento de processos patológicos sobre o dente e o periodonto.
Podemos afirmar que o agente etiológico responsável tanto pela cárie quanto pela doença periodontal está representado pelos microorganismos. Este facto foi demonstrado através de trabalhos experimentais levados a cabo em animais, permitindo observar que a cárie e doença periodontal desenvolvem-se na dependência de um conjunto de factores, no entanto na ausência de microrganismos seria impossível desenvolver-se qualquer doença.
Na cavidade oral em condições de normais, abrigam-se, centenas de diferentes espécies de microorganismos entre bactérias, vírus, fungos e protozoários. Todos estes microorganismos estão em contacto com o ambiente oral desde que nascemos, onde poderão instalar-se ou simplesmente ser eliminados. O conjunto de microorganismos na fase inicial da vida é ainda muito limitado, sofrendo alterações ao longo do tempo e desenvolvimento do indivíduo, de acordo com as modificações na flora oral. Nomeadamente a erupção dentária.
De acordo com SCHONFELDH cit in LASCALA (1997), os microorganismos, residem em quatro principais ecossistemas da cavidade oral: o epitélio oral, o dorso da língua, a superfície dentária supragengival e subgengival e o epitélio subgengival. Todos estes locais possuem características físico-químicas distintas (temperatura, pressões variáveis de oxigénio, concentração de iões hidrogénio, disponibilidade de nutrientes), favorecendo, deste modo, diferentes associações microbianas.
DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), descreve como microbiota oral toda população de microorganismos, em que cada espécie ocupa diferentes nichos, na dependência de suas necessidades nutritivas e metabólicas. Podemos entender então a microbiota oral, de uma forma genérica, como espécies que se permitem sobreviverem isoladamente, e espécies cuja sobrevivência está muito dependente da associação a outras espécies. Este cenário descrito tem como um bom exemplo a placa bacteriana.
A placa bacteriana assume-se seguramente o factor mais importante no desenvolvimento da doença periodontal, a partir do momento em que trabalho experimental levado acabo em humanos, veio comprovar uma correlação positiva entre o desenvolvimento de gengivite e a presença da placa bacteriana. Por outro lado, foi possível estabelecer claramente a sua fundamental importância na origem da cárie dentária, a partir da observação de que bactérias acidogénicas e acidúricas encontravam-se na placa bacteriana tanto em humanos como em modelos experimentais, LOE cit in LASCALA (1997).
Logicamente a simples presença da placa bacteriana por si só não é responsável pelo aparecimento destas doenças. Tornam-se pois também muito importantes as respostas do hospedeiro, quando existe uma relação de equilíbrio entre microbiota-hospedeiro estamos perante uma condição saudável da cavidade oral, por outro lado o desequilíbrio manifestado por uma das partes determinará o aparecimento da doença.
2.2.2.1 - Mecanismo de Formação
Para GIBBONS e VAN HOUTE cit in LASCALA (1997) actualmente a teoria referente ao mecanismo de formação da placa bacteriana que reúne mais consenso, refere-se à presença prévia da chamada película adquirida. Esta é caracterizada pela deposição selectiva de glicoproteínas salivares, o que ocorre num período relativamente curto. Sobre a superfície dentária polida após cerca de uma hora, dá-se o recobrimento pela película, cuja espessura aumenta gradativamente permitindo, após cerca de 10 a 20 horas, o começo da colonização por bactérias. Determinadas espécies bacterianas, tais como Streptococcus sangllis e Actinomyces viscosus, possuem aderentes que podem mediar sua adesão às glicoproteínas salivares. Quando isto ocorre a nível da saliva, os microorganismos tendem a aglutinar-se. Não obstante, se estes microorganismos estiverem em contacto com a película adquirida, poderão, aderir à superfície da mesma e, desta maneira, à superfície dentária.
De acordo com DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), as diversas espécies bacterianas obedecem a uma deposição sequencial sobre a superfície dentária. Vários trabalhos vieram demonstrar este facto, tanto para a placa bacteriana supragengival, quanto para a placa bacteriana subgengival. THElLADE cit in LASCALA (1997) demonstrou que até o vigésimo segundo dia a placa em formação é constituída de 70% de cocos e bastonetes Gram-positivos e 30% de Gram-negativos. Entre o segundo e quarto dias há o aparecimento de fusobactérias e filamentosos na proporção de 7% e, finalmente, entre quarto e o nono dias, surge espirilos e espiroquetas no total de 2%. RITZ cit in LASCALA (1997), já em 1967, observou as percentagens de vários microorganismos em diferentes etapas depois da limpeza da superfície dentária. As bactérias predominantes na placa bacteriana desde a fase inicial de colonização são os estreptococos, mas, com o aumentar do tempo, a microbiota altera-se gradualmente dando condições para a colonização de espécies Gram-negativas. Quando concluída a maturação final da placa bacteriana, por volta do centésimo segundo dia, será muito pouca a diferença notada na sua composição, embora os números absolutos de microorganismos tendam a aumentar.
De acordo com os estudos de SOCRANSKY e BRECX cit in LASCALA (1997), estima-se que após o início da formação da placa bacteriana, o tempo e geração média (tempo que as bactérias levam para dobrar de número), é de aproximadamente de três horas. Desta forma, é possível afirmar que um microorganismo, durante as primeiras 24 horas, tem a possibilidade de se multiplicar até um total de 256 microorganismos. Alguns destes poderão desprender-se da matriz da placa e consequentemente serem eliminados pela saliva, enquanto os outros permanecem como parte da placa bacteriana.
No seu estágio final de maturação, a placa bacteriana, possui o potencial de desencadear o aparecimento da gengivite, de acordo com LOE et al cit in LASCALA (1997). A simples remoção da placa bacteriana nesta etapa traz como resultado a reversibilidade do processo inflamatório para as condições de saúde iniciais.
2.2.2.2 - Tipos de Placas Bacterianas
CARRANZA cit in LASCALA (1997), descreve, a possibilidade de existir dois tipos de placa bacteriana, em que cuja composição sofre algumas alterações principalmente de acordo com a concentração de oxigénio. Temos segundo este autor a placa bacteriana supragengival e subgengival.
Placa bacteriana supragengival
Como já descrito anteriormente, a placa supragengival forma-se a partir da película adquirida proveniente de glicoproteínas salivares. Os primeiros microorganismos a surgir são do tipo aeróbio, e à medida que a placa vai se tornando mais espessa, dá-se uma substituição destes por espécies microaerófilas e em seguida anaeróbios estritos ou facultativos.
A característica patogénica principal da placa bacteriana supragengival encontra-se no facto de, havendo uma alta porcentagem de Streptococcus mutans, induzir a cárie em superfícies lisas dos dentes. Este fenómeno é explicado pelo facto deste microorganismo, permanecer em íntimo contacto com a superfície dentária, pois é anaeróbio facultativo, (MENAKER cit in LASCALA (1997).
Placa bacteriana subgengival
Esta desenvolve-se sobretudo a partir de microorganismos da placa supragengival nas proximidades do sulco gengival. É no entanto possível, pelo menos teoricamente, que ocorra um desenvolvimento da placa bacteriana subgengival a partir de outros microorganismos advindos da cavidade oral, de acordo com KHO et al cit in LASCALA (1997).
Parece não haver possibilidade de glicoproteínas salivares adentrarem ao sulco gengivaI íntegro e neste caso as propriedades da película adquirida adviriam do fluido gengival. A formação da placa bacteriana subgengival dá-se de uma forma semelhante ao da supragengival. LISTGARTEN et al cit in LASCALA (1997), mostra, através da análise da mesma em humanos, uma proliferação horizontal em relação ao dente, procedida de um aprofundamento vertical. Segundo ZAMBON et al cit in LASCALA (1997), após uma semana os microorganismos filamentosos aparecem em maior número e as espiroquetas são predominantemente encontrados na terceira semana.
A placa bacteriana subgengival possui uma maior quantidade de microorganismos anaeróbios em função do baixo potencial de oxiredução do sulco gengival, em relação à placa supragengival.
A placa bacteriana subgengival é eminentemente dotada de características patogénicas que facilitam o desenvolvimento da doença periodontal. No entanto, a presença de Streptococcus mutans permite o início do desenvolvimento de cáries.
Fundamentado em DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), admite-se que no decorrer da vida de um indivíduo possa ser possível adquirir-se microorganismos de potencial patogénico variável caracterizando uma placa bacteriana com maior ou menor agressividade tanto sobre os tecidos periodontais como sobre a estrutura dentária.
Sendo assim, podemos entender a placa bacteriana como sendo uma estrutura heterogénea e variável de indivíduo para indivíduo. Para um mesmo indivíduo, sua composição pode variar na dependência de factores locais reguladores da microbiota, bem como em função sobretudo de factores anatómicos de retenção e de potencial de oxiredução.
A possibilidade de variações relacionada com a presença ou ausência de microorganismos com maior ou menor potencial patogénico tem originado a ideia de que a doença periodontal caracterize-se por períodos variáveis de agravamento dos sinais e sintomas. Assim, o indivíduo experimentaria, ao longo da vida, períodos ora de exacerbação ora de remissão em relação às possíveis actividades da placa bacteriana, compensada ora pela presença de microorganismos, ora pelos factores de defesa locais ou sistémicos do indivíduo.
|
| CARACTERÍSTICAS | SUPRAGENGIVAL | SUBGENGIVAL |
| Reacção de Gram | Predominância de espécies Gram-positivas | Predominância de espécies Gram-negativas |
| Morfotipos | Cocos, bastonetes, filamentosos e espiroquetas | Predominância de bastonetes e espiroquetas |
| Metabolismo | Facultativos com alguns anaeróbios | Predominância de anaeróbios |
| Fonte de energia | Fermentam carboidratos | Formas proteolíticas |
| Motilidade | Firmemente aderidas à superfície dentária | Aderência menos pronunciada |
| Tolerância pelo hospedeiro | Pode causar cárie e gengivite | Pode causar gengivite e periodontite |
|
2.2.3 - Cárie Dentária
Segundo LASCALA (1997), carie é a destruição dos dentes provocada pelas bactérias da placa bacteriana.
A cárie dentária pode ser definida como a desintegração gradual patológica e dissolução do esmalte do dente e dentina com eventual envolvimento da polpa dentária, como resultado da interacção de vários factores, segundo PEDROSO (1998). Factores estes que desenvolveremos mais á frente.
Para HARRIS et aI, cit in LASCALA (1997), cárie dentária é definida com um processo infeccioso e transmissível, de origem externa, levando a uma destruição dos tecidos dentais duros, por ácidos produzidos pelos microorganismos da placa bacteriana, tendo como consequência a formação de uma cavidade a nivel dentário.
Para SHELY et al (1997) a cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa e multifactorial, isto é, determinada por vários factores sendo alguns destes: A presença de bactérias na cavidade oral, placa dentária (restos alimentares células epiteliais descamadas, proteínas etc...) e por um hospedeiro susceptível (pessoas com condições orais propicias ao crescimento e desenvolvimento de bactérias e sua consequente acção).
2.2.3.1 – Etiopatogenia
Em termos etiológicos a carie dentária surge da presença e actuação da placa bacteriana.
Segundo MENAKER, et al cit in LASCALA (1997) há uma correlação positiva entre a presença do Streptococcus mutans e a existência de cárie. Contudo, mesmo na ausência deste microorganismo, pode ocorrer o início e desenvolvimento da cárie, envolvendo, provavelmente, outros microorganismos acidogénicos. O Streptococcus mutans produz ácido a partir da sacarose e mesmo a partir de glicose e frutose, mais rapidamente que o Actinomyces viscosus, possuindo ainda a propriedade de ser ácido úrico, ou seja, de sobreviver em meio ácido. Desta maneira, o S. mutans pode ser considerado, o principal microorganismo a induzir cárie dentária isto através da destruição, de uma forma gradativa do esmalte dentário, da dentina e em ultima instância com comprometimento do nervo e dos vasos sanguíneos dentários, (MEDLINE PLUS, 2002).
Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), o Actinomyces viscosus tem propriedades acidogénicas menores, não iniciando cárie de esmalte, porém, exerce notável influência em superfície de cemento radicular, por ser este menos mineralizado. Esse facto é comum, e ocorre em consequência do desenvolvimento de bolsa periodontal, quando o cemento fica sujeito também à influência de toxinas bacterianas.
Os Actinomyces viscosus e Streptococcus mutans, Gram-positivos, anaeróbios permanecem na camada mais interna da placa bacteriana em íntimo contacto com a superfície dentária.
Sabe-se que o açúcar consiste num forte agravante, pois através dele ocorre uma acidulação pelo desdobramento das moléculas de hidratos de carbono, sobre as superfícies dentárias, por outro lado, tem a capacidade de, atravessando a espessura da placa bacteriana, propiciar alta concentração de sacarose para estes microorganismos levando assim à sua multiplicação.
Sendo assim a cárie é um processo de desmineralização relativamente lento, que se inicia a partir de uma descalcificação superficial do esmalte representado clinicamente par manchas e formação de cavidades dentárias.
|
Tempo
Destruição da estrutura dentária
Cárie Dentária
2.2.3.2 - Etapas no Desenvolvimento das Cáries
Segundo , existem as seguintes etapas de desenvolvimento da cárie:
Placa Bacteriana
A placa bacteriana desenvolve-se a pós a ingestão de alimentos, principalmente aqueles que contem hidratos de carbono. Segundo Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002), a produção de ácidos resultantes do metabolismo dos hidratos de carbono inicia-se entre cerca de quinze a vinte minutos após a ingestão de alimentos.
Cárie Incipiente
A cárie incipiente ou mancha branca surge no estádio inicial da cárie, antes de se formar a cavidade dentária propriamente dita. Nesta fase a cárie pode ser remineralizada sem restauração.
|
 | |||
|
Cárie de Esmalte
Quando o ácido produzido pelas bactérias dissolve o esmalte dos dentes provocando uma pequena cavidade temos a cárie de esmalte. Até este estágio a cárie não causa nenhuma dor.
| |||
 |
|
Cárie de Dentina
Após ultrapassar o esmalte (que é bastante duro) a cárie avança mais rapidamente na dentina e passa a causar dor.
|
Infecção Pulpar / Abcesso
Em um último estágio, a cárie evolui até alcançar totalmente a polpa, causando muita dor e podendo originar abcessos (bolsas de pus) no tecido ósseo abaixo da raiz do dente. Neste estágio é necessário o tratamento de canal.
 | ||
|
2.2.3.3 - Incidência
Segundo LASCALA (1997), estudos revelam que a cárie é predominante na infância; juventude e jovens adultos, até mais ou menos aos vinte e cinco anos de idade, apesar de seus índices serem variáveis. Após, o que, a prevalência das gengivites e periodontites aumentam os seus índices até os sessenta anos. É bom lembrar que estes índices sofrem variações sensíveis ao longo do tempo, e que dependendo da técnica usada, das condições clínicas, dos objectivos, da experiência profissional e dos critérios, nem sempre os resultados espelham a verdade numérica dos levantamentos efectuados.
Baseado na SPMED (2001), 59% das crianças entre os dois e os sete anos apresentavam um passado de cáries e apenas 14% das crianças entre os oito e os dezasseis anos já tinham recebido um ou mais selantes de fissuras.
Ainda de acordo com este relatório da SPEMD (2001), foi feita uma análise separada do grupo etário dos 8 aos 16 anos, em subgrupos (8 a 12 e 13 a 16 anos), que demonstrou que o aumento do número de dentes cariados aumentou significativamente do subgrupo mais jovem para o subgrupo mais velho, sendo ainda de realçar a diminuição acentuada, para menos de metade, da proporção de participantes isentos de cárie.
Pode-se ainda verificar menor prevalência de cárie entre os participantes que habitavam áreas urbanas, em relação aos residentes em áreas suburbanas ou rurais. Neste grupo etário foi ainda possível verificar uma menor proporção de participantes do sexo feminino isentos de cárie.
A SPEMD (2001) analisou ainda a distribuição de dentes cariados, restaurados, perdidos e sãos na população adulta (maiores de 17 anos), tendo verificado que o número mais elevado de dentes cariados foi encontrado nos adultos com nível de escolaridade primário, o qual apresentou também, o menor valor médio de dentes restaurados, o maior número de dentes perdidos e o menor número de dentes presentes sãos. Um padrão semelhante foi encontrado relativamente a zonas rurais.
2.2.3.4 - Sintomatologia
Segundo MEDLINE PLUS (2002), os sinais e sintomas da cárie dentária são:
· Dor nos dentes, sobretudo após a ingestão de doces, bem como ingerir bebidas ou alimentos demasiadamente quentes ou frios;
· Cavidades ou até mesmos orifícios nos dentes, dependendo da fase evolutiva da patologia.
2.2.3.5 - Tratamento
As estruturas dentárias destruídas pela cárie não se regeneram, sem se recorrer ao tratamento, tratamento este que tem como principal objectivo evitar a evolução da doença, bem como retardar e evitar as suas complicações, nunca esquecendo que a melhor arma para o seu tratamento é a educação adequada no que se refere aos cuidados aos dentes, em prol da prevenção de eventuais maleitas, baseado em MEDLINE PLUS (2002),
Nos dentes afectados, elimina-se a estrutura cariada com o uso de uma broca dentária, no sentido de, posteriormente reconstruir a referida estrutura com materiais de prata, ouro, porcelana e resina composta. Estes últimos dois tipos de materiais são aplicados sobretudo nos dentes anteriores, isto pelas suas semelhanças com a aparência natural do dente. Segundo MEDLINE PLUS (2002), muitos profissionais consideram que as amalgamas e manterias de ouro e prata devem ser aplicados nos dentes posteriores, pelo facto de serem mais fortes e resistentes, tendo também a grande tendência a utilizar resina composta.
Outro material bastante utilizado pelos dentistas na recuperação dentária é a coroa, aplicando-se quando as cáries são de grande extensão na estrutura dentária. Por outro lado devido ao elevado nível de obturação do dente e sua debilidade, aumenta o risco de ruptura do mesmo.
Recorre-se em última instância recorre-se a uma forma de tratamento denominada por endodontia que, segundo SEELY (2002), é efectuada quando a carie atinge a região central do dente incluindo o nervo os vasos sanguíneos e tecidos, ou seja, a polpa do dente. Esta é removida e colocado material selante, podendo posteriormente recorre-se uma coroa no sentido da reestruturação do dente.
2.2.3.6 - Complicações
Segundo MEDLINE PLUS (2OO2), o processo de cárie dentária acarreta algumas consequências, como sendo:
· Abcesso dentário;
· Factura do dente;
· Aumento da sensibilidade dentária;
· Dificuldade e/ou incapacidade de mastigação.
2.2.4 - Gengivite e Periodontite
Para STHAL cit in LASCALA (1997), é uma doença que envolve os tecidos gengivais comprometendo o cório e a parede gengivaI do sulco. As alterações consistem em ulceração e proliferação do epitélio e a concomitante perda das fibras colagéneas do corium da gengiva.
A gengivite encontra na placa bacteriana, quer seu principal agente agressivo, quer o agravante etiológico de outros tipos de lesões. Podendo apresentar reacções agudas e ou crónicas que são as mais comuns, causadas pela presença e actuação da placa, para LOE et al. cit in LASCALA (1997).
Segundo Revista Bebé d`Hoje (2000), a gengivite e periodontite são patologias que afectam os tecidos que envolvem e suportam os dentes podendo e envolver todo a área periodontal (periodontite), tecidos que rodeiam o dente, a gengiva, o osso, e outros tecidos responsáveis por manter a firme posição dos dentes nos maxilares.
A periodontite é uma lesão infecto-inflamatória que envolve os tecidos de sustentação dos dentes, causando uma bolsa periodontal e a perda da inserção conjuntiva, do osso alveolar e do cimento radicular (LASCALA, 1997).
Acreditou-se que as periodontites se originavam a partir das gengivites. Hoje sabe-se que são doenças distintas, e que muitas formas de periodontite não exibem as manifestações da inflamação gengival, como por exemplo, na periodontite juvenil.
Já a periodontite de adulto, acredita-se ser uma decorrente natural da evolução de uma gengivite, pode apresentar as características próprias desta. O momento da transformação de uma em outra é de difícil identificação histopatológica e impossível do ponto de vista clínico.
Segundo NEWMAN cit in LASCALA (1997), na etiologia das periodontites existem várias entidades ou grupos específicos de microorganismos na placa bacteriana, que condicionam as diferentes formas clínicas da doença.
2.2.4.1 - Etiopatogenia
Segundo MEDLINE PLUS (2002), Gengivite é mais uma das periodontopatias cuja causa predominante é a placa bacteriana. As bactérias presentes nesta produzem várias toxinas e enzimas, que por sua vez são responsáveis pela inflamação directa da gengiva, levando a uma posterior infecção de todo o tecido periodontal.
A hialuronidase é uma enzima produzida por microorganismos da placa bacteriana, cuja função seria a de despolimerizar o ácido hialurônico. Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), Smith e Ramfjorod demonstraram que a hialuronidase, quando aplicada topicamente no sulco gengivaI de macacos, induzia ao aumento do infiltrado celular inflamatório.
PrevorelIa intermédia e o Porphyromonas gingivalis são microorganismos identificados como formadores da colagenase e esta enzima tem a função primordial, actuar sobre as fibras gengivais, deixando-as desorganizadas, favorecendo assim o processo inflamatório.
O epitélio do sulco gengivaI, em particular o epitélio funcional, é dotado de alta permeabilidade, e é através dele que ocorre ora saída de elementos de defesa ora penetração de elementos indutores da inflamação. O predomínio de uma ou de outra situação representa, respectivamente, uma manifestação clínica de normalidade ou doença.
Segundo DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), e como já vimos, alguns microorganismos periodontopatogénicos sintetizam substâncias como leucoagressinas, proteases, citotoxinas que são capazes de combater as acções de defesa do hospedeiro permitindo a sua permanência no ambiente subgengival e aí desempenhar o seu papel patogénico.
A via de acesso que permite o início e desenvolvimento da doença periodontal é representada pelo sulco gengival. O epitélio do sulco gengivaI, em particular o epitélio funcional, é dotado de alta permeabilidade, e é através dele que ocorre ora saída de elementos de defesa ora penetração de elementos indutores da inflamação. Os produtos metabólicos bacterianos são potencialmente considerados antígenos e devem ser entendidos como importantes no desenvolvimento de fenómenos imunológicos. Estas reacções são levadas a cabo pelos linfócitos B (plasmócitos), que por sua vez são responsáveis pela imunidade humoral através de imunoglobulinas, e pelos linfócitos T responsáveis pela imunidade celular através das linfocinas
Após termos falado da actuação dos produtos metabólicos bacterianos de uma forma directa nos tecidos periodontais, DUARTE e LOTUFO cit in LASCALA (1997), refere que tais produtos também actuam fisiopatologicamente de forma indirecta. O mecanismo pelo qual os tecidos periodontais são progressivamente afectados está na dependência também das condições próprias do indivíduo na reacção de defesa. Assim, quando da formação de lisossomas por efeito de desgranulação dos neutrófilos, estas enzimas poderão causar dano indirecto aos tecidos.
Para MOUSSALI e LASCALA cit in LASCALA (1997), as lesões crónicas sofrerem influências de factores locais e gerais ou sistémicos, como abordamos anteriormente, que lhes modificam o perfil clássico. Junta-se a esta realidade o facto de diferentes indivíduos responderem de forma própria a um mesmo agressor, e ainda que as respostas tecidas, basicamente, possam desenvolver-se predominantemente em formas exsudativas ou fibrosas.
2.2.4.2 - Sintomatologia
Para LASCALA (1997), a gengivite e a periodontite são diagnosticadas como doenças periodontais, quando seus sintomas e sinais característicos das alterações estão presentes. Ambas na forma crónica apresentam um balanço entre as fases de exacerbação e período de tranquilidade, em que a lesão tende a reparar-se.
Segundo MEDLINE PLUS (2002), os principais sinais e sintomas são:
· Úlceras orais
· Gengivas inflamadas
· Regiões das gengivas de coloração roxa brilhante ou roxa púrpura
· Gengivas que sangram com facilidade
· Gengivas que se apresentam sensíveis ao tacto
2.2.4.3 - Incidência
Como refere MATSSON et al cit in LASCALA (1997), o factor idade é relevante e assim é possível que na infância haja um mecanismo mais favorável de defesa nos tecidos periodontais. Não sendo possível reproduzir gengivite em crianças de maneira similar ao que se observa no adulto, embora o padrão de formação da placa bacteriana seja semelhante.
Segundo MEDLINE PLUS (2002), esta desenvolve-se sobretudo durante a puberdade e durante as primeiras etapas da idade adulta, devido aos factores hormonais e hábitos de higiene oral.
2.2.4.4 – Complicações
· Dor
· Hemorragias gengivais
· Halitose
· Perda de dentes
· Mau posicionamento dentário
· Alterações estéticas, fonética, mastigação
2.2.5 - Tártaro
Segundo LASCALA (1997), Tártaro ou como também é conhecido, cálculo dentário consiste numa massa calcificada depositada sobre a superfície de dentes e próteses dentárias, cuja formação está relacionada com a concentração de iões Ca e P existentes na saliva e fluido gengival. O cálculo dentário forma-se com maior intensidade nas proximidades dos duetos excretores das glândulas salivares, ou seja, nas faces línguais de dentes anteriores inferiores e vestibular de molares superiores.
Baseado em Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002), tártaro é uma substância que resulta da calcificação da placa bacteriana que se infiltra gradativamente entre a gengiva e o dente levando à destruição dos filamentos responsáveis pela fixação dentária e por conseguinte a sua perda.
Fig. 10 - Tártaro
 |
|
Como referido em Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002), a formação do tártaro, também conhecido como “pedra”, tem lugar aquando da deposição dos minerais na placa que não foi removida pela escovagem e utilização do fio dental regularmente. Este depósito cria uma ligação coesa que só pode ser removida por um dentista.
2.2.5.1 – Etiopatogenia
Como já foi referido, a base de formação do tártaro e a placa bacteriana, assim como em muitas das anteriores patologias dentárias.
Segundo MENAKER, MANDEL e GAFFAR cit in LASCALA (1997), existem evidências experimentais demonstrando que as bactérias participam induzindo a mineralização pela formação de fosfatase ou alteração local do PH, mas prevalece a opinião de que são passivamente envolvidas pela calcificação, contudo, muito provavelmente a placa bacteriana favoreça a deposição de Ca e P, de forma que o início da calcificação possa ocorrer tanto na matriz interbacteriana quanto na própria bactéria.
Outro factor agravante da formação do cálculo dentário é que devido à sua característica de superfície rugosa, o mesmo torna-se altamente estruturado facilitando a formação da placa bacteriana, assim denota-se que sobre o cálculo dentário quase sempre se detectam bactérias, e que o mesmo, como estrutura física semelhante ao esmalte é inerte aos tecidos periodontais
2.2.5.2 - Tipos de Tártaro
De acordo com a localização do cálculo em relação à margem gengival, podemos classificá-lo como supra e subgengival, segundo LASCALA (1997).
O cálculo supragengival forma-se a partir de componentes salivares, este apresenta coloração branco-amarelada e é de fácil remoção, podendo estar pigmentado por alcatrão, alimentos ou bactérias cromogénicas. A sua formação pode ser mais rápida na vestibular dos molares superiores e na língual dos dentes anteriores inferiores.
O cálculo subgengival forma-se a partir de componentes do fluido gengival, apresenta coloração escura devido a presença de radicais oriundos da degeneração da hemoglobina, sendo mais mineralizado e mais aderido do que o supragengival.
2.2.5.3 - Incidência
Segundo CARRANZA cit in LASCALA (1997), a formação do tártaro varia de acordo com a idade, havendo menor prevalência na dentição decídua. Contudo, na faixa etária de 10 a 15 anos observa-se que 43% dos indivíduos são portadores de cálculo dentário. Clinicamente observa-se que a porcentagem de indivíduos com cálculo dentário supragengival aumenta progressivamente com a idade, assim como a velocidade de formação aumenta proporcionalmente à faixa etária. Com relação ao sexo, o homem tem maior quantidade de cálculo que a mulher.
2.3 - Prevenção e Motivação na Clínica Odontológica
2.3.1 - Considerações gerais:
Observações clínicas assim como estudos epidemiológicos experimentais, têm estabelecido correlação directa entre a placa bacteriana e a alta prevalência da cárie e da doença periodontal (MASLOW et al. cit in LASCALA, 1997).
Os levantamentos epidemiológicos da doença periodontal têm vindo a mostrar a manutenção da alta percentagem de indivíduos por ela afectados. A doença periodontal agrava-se com a idade, até a perda dos dentes (LOE et al.; BROWN et al.; OLIVER et aI. cit in LASCALA, 1997).
A prevalência da doença periodontal é extremamente alta, no entanto apenas uma pequena percentagem da população recebe tratamento a esse nível; esse tratamento é a maioria das vezes realizado por especialistas. Apesar de ser de fácil diagnóstico e tratamento nas fases iniciais, observa-se que o clínico geral não dá a devida importância à prevenção da doença oral.
Segundo LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997), o primeiro objectivo da prevenção e tratamento da doença periodontal é conseguir uma cavidade bucal livre de bactérias tendo como finalidade principal manter a dentição natural por meio da perpetuação do estado de saúde das estruturas bucais, isto porque, experimentalmente demonstrou-se que o processo inflamatório da gengiva pode ser controlado pela remoção da placa bacteriana dos dentes.
| |||
 |
Seguidamente irão ser abordados dois tópicos de importância fulcral no âmbito da Higiene Oral; inicialmente far-se-à referência à prevenção e de seguida à motivação e instrução de pacientes no que concerne ao tratamento periodontal e controle de placa bacteriana.
2.3.2 - Prevenção
A prevenção é uma filosofia da prática profissional que consiste num conjunto de medidas e atitudes que, tomadas durante o estado de saúde, impedem o estabelecimento de doenças ou minimizam os danos por elas causados (KATZ et aI. cit in LASCALA, 1997).
Segundo LASCALA e MOUSSALI (1995) a prevenção consiste num conjunto de medidas tomadas durante o estado de saúde de modo a impedir o estabelecimento da doença.
|
A prevenção é aplicada geralmente no estado de saúde para manter a integridade gengivoperiodontal, de modo a criar condições que impeçam a instalação de um processo patológico nestes tecidos; quando a doença já está estabelecida, para estacionar o progresso da mesma e, em casos iniciais, fazer com que regrida totalmente; e por último, após o tratamento periodontal, quando as estruturas gengivoperiodontais apresentam novamente características de normalidade, tendo como meta impedir a instalação de novas doenças periodontais.
|
Prevenir é evitar ou impedir que alguma coisa aconteça. Em biologia, prevenir é evitar que a doença se instale, e, uma vez instalada, limitar a extensão dos danos causados (LASCALA e MOUSSALI, cit in LASCALA, 1997).
A prevenção baseia-se nos seguintes procedimentos:
- Correcta higienização com escova e fio dental;
- Consumo inteligente do açúcar;
- Uso correcto de flúor, para fortalecimento dos dentes;
- Acompanhamento da saúde oral pelo dentista.
No âmbito da Saúde Oral a prevenção é aplicada a três níveis: no estado de saúde com o objectivo de manter a integridade gengivoperiodontal, criando condições que impeçam a instalação de um processo patológico; em caso de doença estabelecida, para estacionar o seu progresso, e, em casos bem iniciais, fazer com que se dê uma completa regressão; a última refere-se às medidas preventivas aplicadas após o tratamento periodontal, quando as estruturas gengivoperiodontais apresentam novamente características de normalidade. Esta fase de controlo e manutenção ou tratamento periodontal de suporte, actuará no sentido de impedir a instalação de novas doenças, (LASCALA e MOUSSALI, cit in LASCALA, 1997).
Existem dois procedimentos básicos que permitem que os objectivos acima referidos sejam alcançados. Segundo LASCALA (1997) são eles:
Fase Higiénica:
- Motivação do paciente;
- Informação acerca da higiene oral e controlo de placa bacteriana;
- Eventual controlo químico;
- Eliminação da placa bacteriana e tártaro;
- Eliminação de factores iatrogénicos (criar condições para a higiene);
- Limpeza e devido tratamento de cáries;
- Remoção de dentes e raízes inaproveitáveis;
- Tratamento de emergência.
Fase de Tratamento das lesões dentárias:
- Raspagem, alisamento e polimento dentário;
- Remotivação do paciente;
- Reinstrução de higiene oral e controlo da placa bacteriana;
- Correcção de anomalias da prótese;
- Pequenos movimentos ortodônticos;
- Contenção provisória;
- Desgastes prévios;
- Prótese dentária.
|
Níveis de prevenção
| 1 - Prevenção Primária | |
| Promoção de saúde | Protecção Específica |
| 1 - Educação para a saúde | 1 - Profilaxia Periódica |
| 2 - Motivação do Paciente | 2 - Higiene Oral Efectiva, Escovagem, |
| Utilização do Fio Dental. | |
| 3 - Exame Oral Periódico | 3 - Correcção de Restaurações |
| 4 - Instrução de Higiene Oral | 4 - Correcção de Hábitos Nocivos |
| 5 - Nutrição Adequada | 5 - Restauração da Morfologia Gengival e Óssea |
| 6 - Planeamento da Dieta | 6 - Correcção de Lesões Oclusivas |
| 7 - Condições de Vida Saudável | 7 - Fluoretação da Água pelas Entidades Responsáveis |
| 2 - Prevenção Secundária | |
| Diagnóstico Precoce Pronto Tratamento | Limitação Incapacidade |
| I - Exame Radiográfico Periódico | 1 - Tratamento de Abcessos Periodontais |
| 2 - Exame Oral Regular | 2 - Aplainamento das Raizes e Curetagem Gengival |
| 3 - Tratamento de Lesões Periodontais Incipientes; eliminação de cáries | 3 - Intervenções Cirúrgicas menores ou maiores |
| 4 - Tratamento de todas as Lesões Periodontais | 4 - Esplintagem |
| 5 - Tratamento de outras Lesões Orais | 5 - Outros Procedimento Periodontais |
| que contribuem para a Doença Periodontal | |
| 6 - Extracção de Dentes com Diagnóstico desfavorável |
|
Qualquer um dos procedimentos acima referidos deverá ser precedido de indicações periódicas. Nem todos os pacientes precisarão de levar a cabo a totalidade dos procedimentos atrás mencionados, isto porque, algumas vezes, um procedimento terapêutico se antepõe a outro, de acordo com o caso ou com a progressão da doença. Em síntese, os procedimentos deverão ser aplicados tendo em conta as necessidades específicas de cada paciente (LASCALA, 1997).
Todos os pacientes devem ser submetidos à fase higiénica dos procedimentos básicos, porque na maioria das vezes é o único tratamento necessário ao controle da gengivite e periodontite iniciais (SABACHUJFI cit in LASCALA, 1997).
Segundo DEO cit in LASCALA (1997), um bom motivo para a prevenção da doença periodontal é a relação custo-benefício, que proporcionará ao doente bem-estar pessoal, funcional e económico.
A intervenção cirúrgica torna-se muitas vezes desnecessária, uma vez que as medidas profilácticas permitem que as condições periodontais do paciente melhorem consideravelmente (LASCALA, 1997).
A SPEMD (2001) revelou no seu relatório, que a procura de tratamentos dentários ocorre somente na presença de sintomas, sendo mais referido por adultos com nível de escolaridade primário. Aqueles com um nível de escolaridade mais elevado referiram, com maior frequência, visitar regularmente o dentista de forma anual ou com um intervalo de tempo inferior (não foi encontrada diferença entre os hábitos dos diferentes sexos).
Analisou-se ainda (SPEMD, 2001) a população juvenil (dos 8 aos 16 anos), em que os dados relativos à frequência de visitas ao dentista são muito semelhantes ao grupo dos 2 aos 7 anos, sendo que pouco mais de metade dos 1126 participantes, só vão ao dentista quando necessário.
2.3.3 - Motivação e Instrução dos Doentes
O êxito do tratamento odontológico repousa muitas vezes na capacidade dos profissionais para motivar e educar os indivíduos em relação aos recursos de higienização oral, sendo condição fundamental que os próprios profissionais estejam convencidos da sua importância (LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
A motivação do indivíduo é muito mais importante que a escova em si, que a técnica ensinada, ou até mesmo que a orientação que é dada (de como utilizar a escova dentro de uma determinada técnica,...) se ele não estiver consciente de que a higienização é importante para si de nada adianta educá-lo na maneira de escovar.
Para HIRSCHFELD cit in LASCALA (1997) o indivíduo deve estar bem consciente de que uma boca limpa só lhe traz benefícios e que ele deve proceder a uma higiene oral adequada para manter as gengivas saudáveis e não para agradar o seu médico dentista.
Entretanto, os profissionais devem estar conscientes de que se o indivíduo não conseguir manter uma higienização oral adequada dentro de um prazo relativamente curto, o seu tratamento tende a um total fracasso (WOLK e SEGER cit in LASCALA, 1997).
De acordo com DOTIO e SENDYK cit in LASCALA (1997) a higienização oral pode ser conseguida através da motivação dos indivíduos, treino individual de técnicas de higienização oral e controle periódico da placa bacteriana.
Pode-se, de um modo geral, dizer que todo o indivíduo seja qual for o estádio de doença periodontal, apresenta placa bacteriana. A motivação baseia-se na compreensão por parte do indivíduo do que é a doença periodontal, o qual deverá saber distinguir o que é normal do que é patológico em relação à boca. Desta forma poderá modificar os seus hábitos e participar activamente no controle, tratamento e manutenção da sua higiene oral (KON cit in LASCALA, 1997).
A motivação pode ser considerada como a mola propulsora de toda a dinâmica deste modo de agir. A psicologia define-a como algo que induz uma pessoa a praticar determinado acto. Em termos clínicos significa obter a cooperação do paciente para que este aja da forma pretendida, ou seja, conseguir a alteração do seu comportamento.
O princípio da teoria da motivação teve a sua origem no século XVIII, com BENTHAN cit in LASCALA (1997). Na sua obra "Hedonic Calculus ", descreveu que num determinado momento, um indivíduo tem diante de si um conjunto de ideias; perante isto, ele examina-as e escolhe aquela capaz de lhe oferecer maior prazer e menor dor ou perda, decidindo-se então por aquela que lhe proporcionar melhor retribuição.
DERBYSHlRE cit in LASCALA (1997), citou que motivação significa um incentivo ou estímulo pessoal que leva alguém a agir. É este estímulo ou incentivo pessoal que leva uma pessoa a comprar carro novo, a fazer exercício físico, a procurar os serviços de um dentista... Esse mesmo autor descreveu as técnicas de instrução, como sendo os diferentes modos de passar aos doentes informações necessárias e suficientes, para que eles se interessem devidamente pela sua saúde oral e pelo papel que devem desempenhar no tratamento das doenças periodontais.
Para se assegurar a completa cooperação no tratamento e nos resultados é necessário conjugar o pedido do profissional com a necessidade do paciente.
Existem detalhes que jamais podem ser deixados de parte, como por exemplo, doentes afectados por doença periodontal, que possuem história clínica de passagem por muitos consultórios, acumulando tratamentos nem sempre bem sucedidos e consequentemente algumas frustrações (KATZ et al., cit in LASCALA, 1997).
A educação e a motivação dos pacientes no que respeita ao controle de placa bacteriana têm sido reconhecidas como a parte mais importante na prevenção e no tratamento da doença periodontal. No entanto, um dos problemas mais significativos no âmbito da Odontologia é conseguir que o paciente se interesse, motive e coopere na prática e manutenção de uma adequada higiene oral. Para superar este problema, os conhecimentos do comportamento humano são uma mais valia (LASCALA e MOUSSALI, cit in LASCALA, 1997).
Alguns pesquisadores, com o objectivo de esclarecer os doentes sobre as doenças orais, optaram por combinar diversas técnicas de motivação indirectas (SANDELL cit in LASCALA, 1997). As instruções directas, frequentemente repetidas podem afectar quer o instrutor quer o efeito desejado. Além do mais, podem ser mal aceites pelos doentes (dado tratar-se de um serviço remunerado).
Pelo anteriormente descrito, é necessário que se concentrem esforços no sentido de se obter recursos que, conjuntamente com os já existentes, venham contribuir cada vez mais para o resultado positivo da motivação e instrução de pacientes relativamente ao controle da placa bacteriana.
2.3.4 - Técnicas e Métodos de Motivação e Instrução de Pacientes
É habitual que as pessoas não façam o que lhes pedimos, simplesmente porque elas não querem fazer esse tipo de trabalho. A motivação encontra-se “dentro” de cada pessoa podendo estar associada a um desejo. É impossível uma pessoa motivar outra. A única coisa a fazer é estimular a procura de motivação. A força do desejo está directamente ligada à motivação, à possibilidade de uma pessoa seguir a orientação de acção pretendida. A motivação tem as suas fontes de energia no interior de cada indivíduo (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
Muito frequentemente as expectativas do paciente diferem das expectativas do profissional. É a satisfação dos utentes que determina a selecção dos seus dentistas. Quando os doentes não estão satisfeitos com a prestação do seu dentista, simplesmente optam por não mais voltar, e na maioria dos casos partilham essa insatisfação com outras pessoas.
Para WUNDER cit in LASCALA (1997), a perspectiva de aceitação do paciente quanto ao tratamento periodontal fornecido pode ser acompanhada por pesquisas chamadas de estudos sobre a satisfação do paciente. Esses estudos demonstram quando os pacientes estão satisfeitos ou quando não estão. Desta forma, será mais fácil conseguir o relacionamento, a aceitação e o tratamento
O sucesso profissional não está somente relacionado com o bom desempenho clínico. O médico dentista deve saber cativar o paciente e ter consciência que um bom atendimento (também por parte dos assistentes), pode ser de importância fulcral para a satisfação do paciente. Desta forma respeita-se a sua individualidade e vai-se ao encontro das suas necessidades. Até a sala de espera tem a sua importância, uma vez que sendo agradável e relaxante pode contribuir para que o doente perca o medo e a ansiedade (muito comuns nas idas ao dentista). As condições de higiene, a esterilização de instrumentos, o preço e outros factores representam também um papel importante. O doente, apesar de não saber avaliar o tratamento recebido, cria métodos de avaliação pessoal, tendo tendência para centrar as suas atenções nos aspectos negativos. O profissional deve tentar sempre superar estes conceitos, deixando assim o paciente mais tranquilo (WUNDER cit in LASCALA, 1997).
A motivação e a instrução do paciente devem constar de duas fases importantes: a fase directa e a fase indirecta.
2.3.5 - Motivação e Instrução Directa
A instrução directa é considerada como a estratégia mais eficiente de educação do doente. Esta implica um relacionamento estreito entre profissional e paciente, que tem vindo a revelar muita eficácia.
Na prática odontológica os problemas de comunicação são frequentes, o que dificulta a prestação de serviços profissionais. É sempre de extrema importância verificar se o doente compreendeu as instruções dadas. Também deve ser levado em conta que as pessoas são diferentes, diferindo também os seus valores. Há sempre necessidade de estabelecer quais os valores e necessidades de cada paciente (BERVIQUE; MEDEIROS e CHAMBERS; ABRAMS cit in LASCALA, 1997).
As instruções devem ser dadas de forma simplificada, e os comportamentos pretendidos devem ter uma execução, o mais facilitada possível (deste modo consegue-se uma melhor adesão).
Segundo WUNDER cit in LASCALA (1997), os comportamentos pretendidos com a instrução dada, estão sempre associados a benefícios para o utente. Esses benefícios devem ser sempre referidos com ênfase, nomeadamente os imediatos - bom hálito e controlo do sangramento gengival. A eliminação da doença periodontal e a diminuição do risco de cárie, são exemplos de benefícios mediatos que devem também ser sempre mencionados.
Para WALSH cit in LASCALA (1997), uma contribuição muito importante para a instrução e motivação, são os meios auxiliares de que o profissional poderá usufruir. Estes estão representados por radiografias, modelos de estudo do próprio utente, o espelho…
2.3.6 - Motivação e Instrução Indirecta (Auto-Instrução)
Neste tipo de motivação e instrução não é necessária a participação directa do profissional.
A electrónica desempenha um papel deveras importante no que respeita à realização de programas de educação no consultório do dentista. Muitas vezes os aparelhos trabalham pelo profissional e servem como suplemento à instrução directa. Desta forma diminui-se o tempo de espera dos utentes e consequentemente o seu cansaço. Estes programas educativos (filmes, slides, folhetos informativos) podem ser preparados pelo próprio profissional e têm a “capacidade” de tornar o tempo de consulta muito mais agradável, (COUTO cit in LASCALA, 1997).
Como exemplo de recursos para se obter a motivação e a instrução indirecta temos:
. Dispositivos ou slides;
. Programa audiovisual;
. Folhetos informativos;
. Cassetes de vídeo.
Para BRATTHAL e RIBEIRO cit in LASCALA (1997) todos os programas básicos que têm como objectivos a educação odontológica devem conter e fornecer informação acerca:
2.3.7 - Padrão Alimentar
Conceito
Já os antigos gregos, no tempo de Hipócrates, davam grande importância ao regime ou "diaitia", isto é, ao conjunto de hábitos do corpo e da alma que constituem a actividade vital do Homem.
De acordo com GIFFT et al (cit in Nursing, 1991) os hábitos alimentares, ou padrão alimentar, podem ser definidos como actos repetitivos característicos desempenhados sob o ímpeto da necessidade de providenciar alimento e satisfazer uma variedade de objectivos sociais e emocionais.
O padrão alimentar de um país depende muito dos recursos naturais mas também do desenvolvimento tecnológico e sócio cultural e da interacção que sofre com outras culturas (Peres, 1997).
Assim podemos afirmar que o padrão alimentar como um conjunto de hábitos que se repetem com o intuito de fornecer os alimentos que satisfaçam as necessidades biológicas e sociais.
Dieta Tradicional Portuguesa
Segundo PERES (1998), Portugal, pela sua localização geográfica, e componente histórica, possui uma dieta típica, apresenta hábitos alimentares historicamente influenciados: a ocupação romana da Península, a contribuição árabe, os descobrimentos e, mais recentemente, a melhoria dos transportes e processamento dos alimentos, que permite trocas de produtos alimentares a nível mundial.
Sabe-se muito pouco dos primeiros habitantes da região que hoje é Portugal mas existem vestígios que mostram a predominância de recolectores. Os Ibéricos, praticavam alguma pesca e agricultura rudimentares, produziam trigo e cevada, dominavam a técnica de produção de vinho e cerveja mas baseavam uma grande parte da sua subsistência na caça, crustáceos, carne de caprinos e mel. Também colhiam frutos secos, que tostavam e juntavam ao pão. As invasões romanas revolucionaram as condições de vida das populações ibéricas, alterando profundamente a agricultura pela introdução de novas técnicas e produtos, o que conduziu a alteração dos hábitos alimentares da Península (Peres, 1998). Também pela sua longa costa Atlântica e parte da Costa Mediterrânica, Portugal é marcado por uma dieta rica em Peixe, nomeadamente bacalhau, sardinha, polvo. Além disso, por ter um meio em grande parte rural, Portugal também inclui na sua dieta uma grande quantidade de produtos agro-pecuários.
Dieta Mediterrânica
De acordo com MARTINS et al (2002) o termo “Dieta Mediterrânica” reflecte padrões alimentares, descritos por Keys, no final da década de 50, praticados em Creta, noutras zonas da Grécia e no Sul de Itália. Ainda que com pequenas variações, este era o padrão alimentar comum da bacia Mediterrânica oriental, de algumas zonas a Norte de África, França, Ex-Jugoslávia, Catalunha, Tunísia, Turquia e de Portugal. Refere-se particularmente aos padrões alimentares praticados em zonas da região Mediterrânea onde se cultivava a oliveira.
Em primeiro lugar é uma dieta em que predominam os vegetais, frutos e cereais, contendo, todos eles, uma grande quantidade de vitaminas, minerais e fibras. Os cereais, que constituem a principal fonte de energia, fornecem hidratos de carbono de absorção lenta (controlam melhor a sensação de fome) e a sua acção é tanto melhor quanto menos refinados são.
A dieta complementa-se com produtos marinhos, principalmente peixe gordo que, além de conter proteínas de boa qualidade, contribui, pelo tipo de gorduras que possui, para a prevenção de muitas doenças, entre elas as cardiovasculares e reumáticas. São ainda fonte de vitaminas, fósforo, ferro e iodo. Tradicionalmente, o consumo de carne na dieta mediterrânica é restrito, limitando-se, na maior parte dos casos, a aves criadas com cereais e vegetais.
Segundo :
Dos 0 – 2 anos:
ü A alimentação com leite de vaca e soja, que geralmente precisam de adição de farinhas e açúcar refinado ou mascavado, oferecem um maior risco de gerar cárie.
ü A consistência dos alimentos é importante para desenvolver os músculos da mastigação e consequentemente, para a articulação dos dentes que já está a começar a estabelecer-se, portanto não deve ser usado o liquidificador na preparação dos alimentos.
ü A amamentação do bebé, por um mínimo de 12 meses, auxilia na formação da arcada dentária.
A saúde da boca é fulcral para o adequado aproveitamento dos alimentos pelo organismo, desta forma gengivas e dentes fortes e saudáveis, assim como uma boa salivação constituem elementos essenciais para o bom início da digestão.
Após a mastigação e deglutição, permanecem na boca pequeníssimos pedaços de comida que, misturados com a saliva e as bactérias, existentes geralmente na boca, vão formar a placa bacteriana aderente aos dentes. Esta vai sofrer transformações químicas, no sentido da acidificação. Os ácidos que se formam vão corroer o esmalte dos dentes conduzindo à cárie dentária.
Cada vez que comemos alimentos que contêm açúcar ou amido, a placa bacteriana produz ácidos que atacam o esmalte dos dentes, durante pelo menos vinte minutos. Após repetidos ataques, o esmalte começa a deteriorar-se formando-se uma cavidade.
Limitando o número de vezes que ingerimos esses alimentos entre as refeições ou escolhendo alimentos nutritivos, podemos auxiliar os dentes a manterem-se sãos. Uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e sais minerais e pobre em hidratos de carbono, especialmente em açúcares (muito prejudiciais aos dentes) acompanhada por correcta escovagem é fundamental para evitar a queda dos dentes, assim como a ingestão diária de alimentos ricos em cálcio (leite e derivados, vegetais verde escuro, leguminosas secas).
Cuidados Gerais
1. A dor de dentes é sinal de alarme e motivo para se consultar o médico dentista; não se devem usar paliativos (analgésicos por exemplo) que mascarem a dor;
2. Devem-se mastigar os alimentos dos dois lados da boca;
3. Se as gengivas sangram ou fazem comichão (prurido), não se deve suspender a higiene oral mas sim procurar o médico dentista;
4. Os dentes moles e com eliminação de conteúdo purulento pelas gengivas resultam de uma inflamação avançada e requerem tratamento imediato;
5. O consumo de tabaco mancha os dentes e predispõe às doenças da gengiva, além disso o indivíduo que possui doenças gengivais e é fumador, é cerca de 8 vezes mais susceptível às doenças cardíacas,
6. Zumbidos nos ouvidos, dor de cabeça e estalos ao abrir e fechar a cavidade oral podem indicar problemas na articulação da mandíbula pelo que o tratamento é realizado pelo uso de placa móvel por parte do médico dentista;
7. O auto-exame da cavidade oral é importante para o diagnóstico precoce do cancro da boca e deve ser efectuado uma vez por mês, em frente ao espelho. Em caso de verificar a existência de ferimentos, mudanças da cor de pele e mucosas, caroços, nódulos, são sinais de problemas de saúde que se podem tornar sérios (DIAS, 2002).
Açúcar
O açúcar na forma da sacarose, é o principal responsável pela exagerada proliferação de placa bacteriana e consequentemente, pelo aparecimento das cáries.
O açúcar aumenta a incidência de cárie sobretudo se:
- A quantidade de açúcar consumida diariamente for exagerada;
- Se o açúcar for consumido frequentemente (entre as refeições e várias vezes ao dia);
- Se a consistência do alimento açucarado for pegajosa.
É preciso um pouco de bom senso para evitar problemas:
- Evitar o consumo frequente de açúcar (refrigerantes, café, chocolates, etc...) entre as refeições e ao longo do dia, não significando a abolição destes produtos;
- Procurar substituir alimentos com muito açúcar por outros com menos quantidade do mesmo;
- Sempre que consumir alimentos açucarados a escovagem dos dentes deve ser imediata;
- Não criar nos filhos o hábito de serem recompensados com açúcar;
- Mastigar pastilhas sem açúcar – evita a cárie dentária porque estimula a secreção de saliva, eliminando grande parte do ácido produzido pelas bactérias e satisfaz a necessidade que o organismo tem de açúcar;
- Optar por tomar bebidas ácidas com baixo teor de açúcar durante as refeições para diluir o seu efeito já que podem estragar os dentes por erosão do esmalte (Questões Frequentes sobre Saúde Oral, 2002).
Alimentos ácidos
Os alimentos excessivamente ácidos podem originar um problema semelhante à cárie, ou seja, a destruição dos dentes, se consumidos em excesso. A destruição dos dentes é, em geral, um processo ainda mais lento do que a cárie, porém pode atingir até indivíduos que “escovam bem” os dentes, pois a desmineralização pode ocorrer mesmo sem a formação de placa bacteriana.
Como último conselho sobre alimentação, deve-se evitar consumir frequentemente alimentos extremamente ácidos (sumos de fruta de citrinos, refrigerantes...) já que o ácido destes alimentos pode “atacar” o esmalte dos dentes mesmo que estes não possuam açúcar na sua composição (DIAS, 2002).
2.3.8 - Higiene Dentária
Devem ensinar-se ao doente as técnicas de higiene oral que melhor se adaptam ao seu caso, evidenciando a importância dos vários tipos de escovas existentes e do fio dental.
2.3.9 - Placa bacteriana, evolução da cárie e da doença periodontal
Caso o utente possua os devidos conhecimentos acerca do progresso da sua doença oral e respectivas consequências na saúde geral, ele será concerteza capaz de levar a cabo mais eficazmente (e com mais motivação) os procedimentos adequados.
2.3.1O – Flúor
É também importante prestar informação relativa aos efeitos benéficos do flúor assim como fazer referência aos seus métodos de utilização.
Segundo o Revista Farmácia Saúde (1999) a importância do flúor no combate à cárie dentária é reconhecida há mais de 100 anos. Investigadores descobriram que nas regiões onde a água de consumo contém cerca 1 ppm (uma parte por milhão) de flúor, os habitantes tem muito mais cáries, chegando a ser esta redução de mais de 50% nalgumas populações.
É por este motivo que em muitos países se adiciona flúor à água domiciliária nas centrais de tratamento, mas em Portugal tal não acontece.
Existem outras formas de fazer chegar o flúor ás populações através, por exemplo, de comprimidos de flúor que se dão ás crianças desde o nascimento até aos 12 anos e segundo estudos mais recentes, também ás grávidas a partir do 5º mês de gestação. A este flúor ingerido chama-se, flúor sistémico.
Segundo a mesma fonte, os dentes de cada indivíduo começam a sua formação por volta do 5º mês de vida intra-uterina e finalizam por volta dos 12 anos de idade, apesar de nesta idade não terem nascido todos os dentes, as coroas dentárias já estão completamente formadas. Após esta idade, o flúor ingerido não irá influenciar os dentes, a única forma de o fazer é através do contacto directo do flúor com os dentes, através do uso de dentífricos que contenham flúor, designado este de flúor tópico.
Uma criança que esteja a tomar comprimidos de flúor pode também usar com segurança um dentífrico com flúor porque não existe risco de excesso de flúor mesmo que a criança engula algum dentífrico.
Nos adultos e crianças que possuem dentes muito frágeis é recomendável que o médico dentista ou higienista realizem aplicações tópicas de flúor com regularidade, consistindo na aplicação de um gel com altas concentrações de flúor.
Papel do Flúor na Saúde Oral
Segundo o flúor é uma substância que protege os dentes da cárie dentária e que pode ser encontrado em gotas, comprimidos, elixir (para bochechos em casa), dentífricos ou em gel, mas que também chega ao nosso organismo através dos alimentos ingeridos (vísceras de animais, carne, ovos, leite). Consoante a criança, assim o médico aconselhará qual destas formas (combinadas ou não) será a mais adequada.
Mecanismos de Acção do Flúor
O flúor não só aumenta a resistência do esmalte dentário, como induz a remineralização, fortalecendo o elemento dentário (restaura as lesões iniciais de cárie dentária), possui também efeitos anti-bacterianos (reduz o metabolismo dos açúcares pelas bactérias levando a uma diminuição da produção de ácidos e consequentemente menor desenvolvimento da placa bacteriana) (DIAS, 2002).
Controle e Manutenção
O controle e manutenção do tratamento a longo prazo devem ser feitos mediante consultas preventivas frequentes.
2.4 - HIGIENIZAÇÃO ORAL
O cuidado da boca é indispensável à saúde dos dentes e do próprio indivíduo no geral, já que é no seu interior que se iniciam os processos digestivos, além de deter funções fonativas, gustativas, sociais, de expressão, etc.
As características buco-dentárias dos adultos são marcadas por um conjunto de alterações no periodonto (zona ao redor do dente), devido ao facto da composição da placa bacteriana variar em função do lugar onde se forma, da alimentação, de cada indivíduo e também da sua idade.
A exposição prolongada à placa bacteriana, inerente ao envelhecimento de cada indivíduo, acaba por causar inflamação, sangramento e retracção da gengiva (gengivite), deixando desprotegida a parte mais sensível do dente, a raiz. Esta situação favorece o aparecimento da hipersensibilidade dentária (sensação de dor face a estímulos externos de frio ou de calor), assim como o desenvolvimento de cáries; a raiz do dente que fica exposta à acção desmineralizante da placa (DIAS, 2002).
A cárie é a doença dentária mais frequente que afecta a Humanidade desde a Pré-História. No entanto, o risco de cáries não é igual para toda a população. Está estimado (Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários, 1998) que cerca de 75% das crianças entre os 4 e os 5 anos e 90% das crianças em idade escolar, já sejam portadoras de cáries. Também é claro que o tipo de cáries que afectam as crianças e jovens, são diferentes das dos adultos.
As cáries na dentição das crianças localizam-se predominantemente nas superfícies dentárias com fissuras ou concavidades (premolares e molares) e nos espaços interdentários. Já nos adultos, à medida que envelhecem e as gengivas se retraem, a prevalência de cáries da raiz do dente aumenta. No entanto, quando não existe higiene oral, pode ocorrer massivamente em qualquer superfície do dente.
O resultado da cárie é a destruição irreversível dos tecidos duros do dente (esmalte, dentina e cimento), sendo a principal responsável pela perda de dentes entre as crianças e jovens (DIAS, 2002).
Atendendo a que a cárie dentária é uma doença que atinge desde muito cedo a maioria das crianças, é necessário pôr de parte a ideia de que sofrer dos dentes é natural e inevitável, ou que é um problema que se herda da família: não é porque o pai ou a mãe têm dentes estragados que o filho também vai ter.
De acordo com Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002) a cárie é uma doença infecto-contagiosa que resulta da perda de miligramas de minerais dos dentes afectados; o seu aparecimento depende da interacção de pelo menos três factores: hospedeiro (dentes e saliva), microbiota da região e dieta alimentar.
Através do controlo da placa bacteriana e da dieta alimentar e também pela escovagem, tornam-se os dentes menos susceptíveis à cárie.
Recursos Para a Higienização Oral
Para LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997) os indivíduos dispõem dos seguintes recursos para uma adequada higiene oral: escovas, corantes, fio dental, dentífricos, elixires, e muitos outros.
2.4.1 - Objectivos e Finalidades da Higienização Oral
LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997) referem como objectivos da Higiene Oral:
1. Eliminação e controle da placa bacteriana;
2. Redução do número de microorganismos nos dentes e gengivas;
3. Retardar a formação do tártaro;
4. Activar a circulação e queratinização;
5. Impedir a recorrência de doença periodontal;
6. Manutenção da saúde gengival;
7. Prevenção da cárie.
, acrescenta ainda como objectivos, os seguintes:
- Remoção da placa bacteriana e dos indutos que se acumulam sobre o complexo periodontal;
- Redução da flora microbiana estagnada;
- Prevenção da formação de tártaro;
- Estimulação da irrigação sanguínea;
- Aumentar a massagem gengival.
Segundo MOUSSALI cit in LASCALA (1997) os objectivos e finalidades da higienização oral são a remoção da placa bacteriana com o consequente retardamento da formação de tártaro; redução da inflamação; activar a circulação local e a queratinização das gengivas; impedir a recorrência de doenças gengivoperiodontais e manter as condições de saúde periodontal.
De acordo com estudo efectuados por LÖE e RAMFJORD cit in LASCALA (1997), a escovagem é o método mais eficiente de prevenção de doenças gengivoperiodontais e de cáries dentárias; já segundo MOUSSALI cit in LASCALA (1997), a escova comum não consegue alcançar a totalidade das superfícies dentárias para remover a placa bacteriana que aí se aloja.
2.4.2 - Finalidades da Escovagem
Pode-se afirmar que a escovagem promove:
- Prevenção das doenças periodontais confirmada por estudos epidemiológicos de LÖE e RAMFJORD cit in LASCALA, 1997);
- Manutenção da saúde alcançada pela terapêutica periodontal;
- Manutenção do estado de saúde das gengivas em indivíduos tratados periodontalmente com complemento protético e ortodôntico; aqui os indivíduos devem ser orientados no sentido de manter o tratamento periodontal, de prevenir o acumulo da placa bacteriana e alimentos nos aparelhos referenciados para se diminuir assim, o risco de cáries pelo meio de higienização bucal adequada à sua situação (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
JANNIS cit in LASCALA (1997) refere que o mais importante para a eficácia da escovagem é o método utilizado para a mesma, não sendo este traumático. O indivíduo bem orientado e motivado, após ter apreendido o método de escovagem que lhe foi ensinado, desenvolve uma técnica própria para o seu caso em particular que, regra geral, é bem mais eficiente.
A SPEMD (2001) analisou uma população de indivíduos com mais de 17 anos, tendo-se observado que o hábito de escovar duas ou mais vezes por dia, é mais comum nos participantes com nível de escolaridade mais elevado, entre as mulheres e entre os residentes das áreas urbanas. Uma menor frequência de escovagem, ou mesmo a sua ausência, foi referida pelos participantes com menor nível de escolaridade, pelos homens e pelos que residem nas áreas rurais. Quanto ao grupo dos 8 aos 16 anos, 87,4% referiram que escovam os dentes, uma ou mais vezes por dia.
2.4.3 – Método de Escovagem dos Dentes
De acordo com FREIRE (2OOO), a escovagem deve ter como objectivo a remoção do máximo de placa bacteriana sem causar traumatismo dentário ou das gengivas não deve ter uma duração inferior a 2 minutos. A escovagem deve ser feita num local com boa iluminação e na frente do espelho para observar se a técnica está a ser correctamente usada, de modo eficiente. Deve-se escovar um maxilar de cada vez, abrangendo tanto a superfície interna como a externa, iniciando a escovagem nos molares (atrás) avançando até aos molares opostos; em seguida deve-se escovar a língua no sentido horizontal, de trás para diante, pelo menos uma vez por dia, assim como as bochechas e por dentro do lábio inferior.
Após completa a escovagem, a escova de dentes deve ser lavada e colocada no copo com os pêlos virados para cima.
O importante não é a quantidade de vezes que se faz a higiene oral, mas sim a qualidade desta. A higiene oral deve seguir uma sequência na sua execução para evitar que alguma área seja “esquecida” segundo DIAS (2003).
| |||
|
Segundo DIAS (2003), o método de escovagem varia segundo a idade:
- Para bebés:
- Os pais devem sentar-se, cada um, numa cadeira direita, de frente um para o outro, com os joelhos encostados. O bebé deve ser deitado de costas sobre as pernas dos pais e os seus braços e pernas, contidos pelo pai;
- A mãe, com a cabeça do bebé no colo deve proceder à escovagem dos dentes, com movimentos de “vaivém”.
- Para crianças em idade pré-escolar:
- A criança deve ficar em pé, de costas para a mãe e encostar a cabeça contra ela. Com a mão esquerda, se dextra, a mãe segura a mandíbula e com os dedos afasta os lábios e bochechas;
- A escovagem é feita com a mandíbula paralela ao solo, com movimentos de “vaivém” nas faces vestibulares, linguais, oclusais e incisais;
- Para a escovagem dos dentes superiores, a cabeça da criança deve ser inclinada para trás, para facilitar a visualização dos dentes superiores. A mão esquerda afasta os lábios e bochechas, enquanto que a direita executa os movimentos de escovagem semelhantes aos usados para os dentes inferiores.
2.4.3.1 - Técnica Oblíqua
Esta técnica destina-se sobretudo à limpeza do sulco gengival, em especial as superfícies vestibulares e linguais; para sua maior eficiência recomenda-se a escovagem de 1 ou 2 dentes de cada vez, porque embora a escova esteja pousada sobre diversos dentes, somente serão escovados aqueles cujas faces distal e mesial estiverem a ser atingidas simultânea e plenamente pelas pontas das cerdas da escova.
Durante a sua execução as cerdas são voltadas sempre para a cervical e suas pontas repousam sobre a margem livre da gengiva formando um ângulo aproximado de 45° com o longo eixo dos dentes.
 |
 |
Enquanto a primeira fila de cerdas se apoia sobre a margem gengival, as restantes descansam sobre o restante da gengiva, pois esta posição faculta a certos grupos de cerdas o confronto directo com o espaço interproximal, e a outros, o confronto com a superfície dentária. Imprimindo-se à escova uma ligeira pressão no sentido vestibulolingual e apical, introduzem-se com movimentos consecutivos e imediatos, por meio de ligeira vibração, as pontas das cerdas nos espaços interproximais e no sulco gengival. Com este acto, pretende-se atingir as porções mais vulneráveis da gengiva, ou seja, o sulco gengival.
| |||
 |
|
Sem deslocar as pontas das cerdas da posição alcançada, são realizados pequenos movimentos vibratórios horizontais e contínuos cujo número deve totalizar em média 10 vibrações, depois, ainda sob a acção dos impulsos vibratórios, a escova é deslocada no sentido oclusal ou incisal, imprimindo-lhe uma ligeira rotação no cabo, com intenção de limpar toda a superfície vestibular ou lingual dos dentes incluídos (LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
Para GLICKMAN e CHARTES cit in LASCALA (1997), a face mais distal do canino deve ser escovada juntamente com o grupo de pré-molares e a face mesial, com o grupo dos incisivos de modo a evitar retracções gengivais nestes dentes.
LIMA cit in LASCALA (1997) refere que e relativamente aos últimos dentes da arcada, a escova deve ultrapassá-los para se assegurar que foram atingidos
A escovagem deve ser realizada logo após as refeições para se obterem os melhores resultados, deve-se também aconselhar os indivíduos a escovar os dentes, sempre na frente do espelho para que o posicionamento da escova em relação aos dentes seja controlado e a escovagem seja eficaz. Devem ainda ser aconselhados a usar apenas quantidades mínimas (0,5 cm) de pasta dental (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
2.4.4 - Escovas – Tipos e Técnicas
As escovas são o recurso mais universal e importante do qual os indivíduos dispõem para a higienização oral; se somada à raspagem, alisamento e polimento dentário, formam um binómio inseparável para o sucesso do tratamento periodontal e na prevenção da cárie dentária (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
A higienização oral pode servir-se de recursos mecânicos, hidráulicos, químicos, biológicos, …, sendo que os meios mecânicos continuam a ser os mais utilizados para uma boa limpeza dentária; estes meios abrangem as escovas convencionais, o fio dental e os respectivos passadores de fio dental.
LESS cit in LASCALA (1997) observou que, tanto americanos como escandinavos, idealizaram escovas cujas diferenças se basearam na dureza, altura e diâmetro das cerdas, número e distribuição dos tufos, forma das cabeças (arredondadas, rectangulares…), ângulo dos cabos, tudo isto para tornar a limpeza o mais eficiente possível e que atingisse a maior área de superfície dentária. Quanto à natureza as escovas podem ser de nylon ou de sedas naturais.
Para LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997) a escova ideal é aquela escova que consegue limpar eficazmente todas as superfícies dentárias, com fácil acesso a todas as áreas da boca e de fácil manuseio por parte do indivíduo que a utiliza.
Para o FREIRE (2000), a escovagem dos dentes inicia-se após a erupção do primeiro dente, devendo ser realizada a seguir às refeições principais sendo indispensável escová-los antes de ir dormir. Escovar os dentes e usar o fio dental no mínimo de duas vezes por dia são primordiais.
A escova de dentes deve ser um objecto pessoal que não deve ser partilhado com outros indivíduos. refere que a escova é o mais eficaz e usado instrumento para a higiene oral. Não deve traumatizar os músculos da bochecha e da língua, deve atingir os dentes do fundo da boca, deve possuir cerdas da mesma altura, arredondadas e macias com cabo recto para fornecer um bom apoio e sentido direccional no momento da escovagem.
2.4.4.1 - Escova Unitufo
Esta escova deve ser usada nas áreas que são de difícil acesso a outros utensílios de higiene bucal: como atrás dos últimos dentes, áreas de bi ou trifurcações, faces distais dos molares e superfícies vestibular e lingual com margens gengivais irregulares, assim como em ameias muito grandes derivadas de cirurgias periodontais, por exemplo, ou ainda por indivíduos com próteses fixas (pontes fixas) ou que utilizam aparelhos ortodônticos fixos (LINDHE cit in LASCALA, 1997).
|
|
2.4.4.2 - Escovas Eléctricas
Segundo LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997) existem variados modelos de escovas eléctricas que são classificados conforme o movimento efectuado:
- Movimento vibratório horizontal;
- Movimento vibratório vertical;
- Movimento semi-rotativo;
- Combinação dos movimentos horizontal e vertical.
A técnica de escovagem com a escova eléctrica é muito mais fácil do que com a escova comum já que basta colocá-la na posição correcta e os movimentos pretendidos são realizados automaticamente. O indivíduo deve apenas imprimir a pressão apropriada e depositar as cerdas da escova sobre a margem livre da gengiva (CHASENS e GLICKMAN cit in LASCALA, 1997).
A escova que efectua os movimentos vibratórios horizontais se colocada em posição oblíqua ou paralela ao plano oclusal durante o seu deslocamento executa excursões no sentido mesiodistal e distomesial (MUHLER cit in LASCALA, 1997). As que executam movimentos vibratórios verticais, se colocadas nas referidas posições horizontais, executam movimentos de gengival para oclusal ou incisal e de oclusal para gengival. As escovas do tipo semi-rotatórios executam igualmente movimentos semicirculares. E rematando, a do tipo combinado, como o próprio nome diz, é a associação dos movimentos executados pelos dois tipos de excursões: horizontal e o vertical.
Muitos estudos foram feitos com a finalidade de corroborar a superioridade da escova eléctrica sobre a manual, mas conseguiu-se apenas demonstrar que ambas, usadas correctamente, reduzem a placa bacteriana, o acúmulo de tártaro e melhoram a saúde gengival (GLICKMAN e MUHLER cit in LASCALA, 1997).
Na generalidade, para o indivíduo comum o uso da escovagem manual parece ser mais adequado; pelo contrário, para os indivíduos com certas dificuldades físicas ou mentais a escova eléctrica provou ser sem hesitação muito superior, visto que os seus movimentos automáticos fornecem os que o indivíduo não consegue executar.
Identicamente para o princípio de motivação da criança, a escova eléctrica é indicada, tanto para indivíduos hospitalizados como para indivíduos com aparelhos protéticos e ortodônticos (LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
2.4.4.3 - Escovas Interproximais/ Interdentárias
Aos pacientes submetidos a tratamento ortodôntico, periodontal e protético (pontes fixas) recomenda-se o uso de escovas interproximais quando há espaços que permitam a sua utilização em grandes espaços onde há o acúmulo de alimentos (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
Desde que a escova demonstrou ser o instrumento mais eficiente para a remoção da placa bacteriana, BURNS cit in LASCALA (1997) idealizou uma, especialmente para as superfícies proximais onde as superfícies dentárias seriam atingidas perpendicularmente pelas cerdas da escova da mesma forma que a convencional atinge as superfícies vestibular e lingual.
As escovas interproximais constam de uma haste central feita de arame de aço, que ao ser torcido aprisiona em suas espirais tufos uniformes de cerdas, estas escovas podem ser cónicas ou cilíndricas. Algumas delas necessitam ser fixas em cabos (rectos ou curvos para facilitar o acesso nas áreas interproximais) apropriados para que possam ser usadas.
| ||||
 | ||||
|
A sua eficácia é comprovada em áreas onde há espaços que permitam a sua introdução, como por exemplo nas superfícies voltadas para os diastemas e espaços livres (extracções dentárias), na dentição mista, etc.
Nos adolescentes e nos jovens adultos, nos quais o volume papilar preenche todo o espaço proximal, as escovas interproximais não encontram aplicação e a sua função é substituída pelo uso do fio dental. Estas escovas encontram indicação tanto na prevenção quanto na terapêutica, sendo comummente indicadas na fase de "manutenção e controle".
A introdução das escovas interproximais nos espaços dentários é feita tanto por via vestibular como por via lingual.
Este tipo de escovas deve acompanhar a inclinação papilar e serem imprimidos movimentos vestibulolinguais e vice-versa em número de vezes igual ao indicado para as escovas convencionais, ou seja, 5 para vestibular e 5 para lingual, podendo-se repetir tantas vezes quantas forem necessárias para total remoção da placa (LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
Segundo FREIRE (2000), deve-se usar a escova interdentária em detrimento do fio dental, já que o seu uso é muito mais fácil: basta empurrá-la para trás e para a frente.
2.4.5 - Fio Dental
O fio dental ocupa presentemente um lugar de grande destaque na prevenção e terapêutica periodontal disputando mesmo com a escova a excelência de ser o recurso mais eficaz de higiene interdentária.
O uso do fio dental não acha teoricamente restrições, podendo ser inserido em qualquer tipo de espaço interdentário comum, mesmo se as superfícies proximais são refeitas por restaurações (desde que estas estejam condizentes com a normalidade). O acesso do fio no espaço interproximal é feito por transposição dos pontos de contacto ou por debaixo deles, com a ajuda dos passadores de fios.
Os fios dentais podem apresentar-se na forma de encerados ou não encerados, causando os últimos mais atritos que os primeiros, embora os encerados sejam os mais difundidos.
Entre as vantagens nomeadas por ARNIM e HAGERMAN cit in LASCALA (1997) relativamente ao uso do fio dental não encerado encontram-se:
- Quando sob pressão os diversos filetes que compõem o fio separam-se e agem separadamente sobre a superfície dentária como se fossem componentes unitários e autónomos, cortando e descolando partículas de depósitos;
- Quando o fio é passado em superfícies limpas, produz um ruído agudo ou áspero que atribui ao fio dental não encerado a qualidade de passar mais facilmente pelos pontos de contacto por apresentar um diâmetro menor.
Para LASCALA e MOUSSALI cit in LASCALA (1997) o fio encerado apresenta como vantagens a cera que o protege e facilita a sua passagem pelos pontos de contacto, além disso faculta ao fio melhor deslizamento já que diminui o atrito.
Na utilização do fio dental ambas as mãos são reclamar, independentemente da maneira como ele atinge a região interdentária, para que seja manuseado com facilidade não pode ser muito curto, pois impede a fixação nos dedos. Recomenda-se um tamanho médio de 30-35 cm.
Deixa-se livre a porção central, enrolando-se as porções distais imediatamente adjacentes a esta porção, nas falanges dos dedos médios de ambas as mãos, ou pelo menos de uma delas, conforme a aptidão individual de cada um. Três a quatro voltas são suficientes para conceder segurança e um excelente controlo sobre o fio, não havendo necessidade de enrolá-lo na totalidade e mantendo-o entre os dois dedos um intervalo de 1 a 5 cm (poderá ser maior ou menor conforme a localização e volume dos dentes). Para os dentes superiores posteriores necessita-se de maior distância comparativamente aos inferiores anteriores.
O polegar fornecerá o apoio e orientação do fio nos dentes superiores enquanto o indicador conduzirá o fio atrás do ponto de contacto e como orientação nos dentes inferiores, tendo em atenção de que ao se tratar das arcadas inferiores ambas as funções são exercidas pelos indicadores.
| ||||||
 | ||||||
 | ||||||
|
Para FREIRE (2000), o fio deverá ser deslizado na vertical contra a superfície do dente e sob a linha da gengiva em movimentos suaves para a frente e para trás (nunca de uma só vez) e sempre usando secções limpas do fio para cada dente para evitar a transferência de resíduos de uma área para outra.
Para jovens com doenças reumáticas, o uso do fio dental pode tornar-se uma tarefa difícil de executar, senão mesmo até impossível, pelo que estão disponíveis no mercado, adaptadores de fio dental com a finalidade de facilitar o seu uso.
|
|
A simples inserção do fio dental no espaço interdentário embora remova grandes fracções de resíduos, não garante que as faces proximais dos dentes tenham sido limpas. O fio dental deverá limpar também o ângulo por elas formado relativamente às faces vestibular e lingual, assim ao se limparem as superfícies que constituem o espaço interdentário, os dedos polegares e indicadores devem quer impelir, quer traccionar o fio, de encontro a uma outra face dos dentes, mantendo-o sempre flexionado de encontro a estes ângulos. Na inexistência desta flexão, a higienização das superfícies será apenas parcial, (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
O fio dental não chega a limpar concavidades (cáries), ranhuras, estrias e depressões radiculares, etc., já que existem condições que impedem o livre acesso do fio no espaço proximal sendo o arco dos aparelhos fixos uma delas. A higienização das superfícies proximais é de interesse primordial para a saúde periodontal, porquanto a papila é usualmente a primeira estrutura a ser afectada pelas doenças periodontais, (STORlE e ZINGALE cit in LASCALA, 1997).
Segundo DIAS (2003) poderão ocorrer alguns sangramentos nas primeiras utilizações, porém deve-se persistir no seu uso até que este sangramento pare, caso contrário deve-se procurar o médico dentista.
Existem também os porta fios ou passadores de fio dental, que são fundamentalmente compostos por uma forquilha de plástico ou metal que prende o fio nas suas extremidades, podem ser rectos ou angulados sendo o seu intuito, o de ajudar à introdução do fio nos espaços interproximais; constituem um auxiliar prometedor para indivíduos com aptidão manual precária (MOUSSALI cit in LASCALA, 1997).
Para existem basicamente dois tipos de passadores: um que auxilia no acesso às regiões difíceis e facilita a empunhadura do fio, e outro que auxilia os indivíduos que usam próteses fixas (pontes fixas) a passar o fio dental por baixo da prótese.
2.4.6 - Escovagem na Infância
A escovagem dentária em crianças dos 4 aos 6 anos, segundo SANTOS cit in LASCALA (1997), demonstrou que o tempo necessário é de 5 minutos devido à pouca concentração e dispersibilidade.
O essencial é esclarecer o indivíduo de que a escova não é eterna e, quando as cerdas começarem a ficar menos resistentes e os tufos se abrirem, esta deverá ser trocada por uma nova escova (LASCALA, 1997).
Com base na Revista Farmácia Saúde (1999), pode-se afirmar que por volta dos 6 meses de idade (por vezes até mais cedo) começam a nascer os primeiros dentes de leite e é claro que o bebé nessa idade ainda não possui agilidade para realizar a escovagem dos dentes. Cabe então aos pais, ou a quem cuida do bebé, o dever de a realizar utilizando uma escova suave de dimensões reduzidas que existe à venda nas farmácias.
Uma óptima altura para realizar a escovagem é o momento em que os pais cuidam da sua própria higiene oral, pois a criança tenderá a imitar os gestos da mãe ou do pai; estas devem auxiliar o bebé, ensinando-lhe pouco a pouco os movimentos correctos.
Nos primeiros dias o melhor é não usar qualquer tipo de dentífrico, depois deve-se escolher um suave (de preferência um gel) e colocar uma porção muito pequena na escova do bebé para que este se vá habituando ao paladar. É lógico que a criança coma o dentífrico, mas isso é totalmente seguro pois os dentífricos respeitam as normas de segurança e não contêm substâncias nocivas para o bebé.
Os pais devem dar gotas de flúor ao bebé, que estão aconselhadas desde o primeiro mês de vida, além dos dentífricos que contêm uma quantidade reduzida de flúor.
Os bebés aprendem facilmente a escovar a boca pois a maior parte sente um grande prazer em esfregar as gengivas, e esse procedimento também auxilia os dentes a romper.
Até aos 4-5 anos, recomenda-se uma escovagem supervisionada pelos pais ou por quem cuida da criança; depois dessa idade a criança já domina muito melhor todos os movimentos e começa a deixar de engolir o dentífrico.
A escovagem permite à criança conhecer a sua boca, observar os seus dentes, e aos pais a oportunidade de detectar qualquer anomalia (por exemplo: má posição dos dentes, manchas, persistência do freio labial…).
Para que a higiene seja efectiva é recomendado que se use uma solução composta por água oxigenada a 10 volumes e água destilada em partes iguais (ou somente água destilada) aplicada nas gengivas e dentes com o auxílio de uma cotonete ou gaze para remover os restos de alimentos.
Se após a mamada nocturna, não for possível realizar a higiene oral, oferecer água para remover os depósitos mais grosseiros de alimentos (DIAS, 2002).
2.4.7 - Como Prevenir as Cáries na Infância
Segundo , a prevenção pode ser efectuada por medidas muito simples como:
- Observação periódica, pelo menos uma vez por ano, da boca da criança pelo médico dentista para detecção precoce de cáries e/ou problemas de posição dos dentes. A prevenção é sempre menos dispendiosa e mais fácil que o tratamento;
- Incutir desde cedo bons hábitos de higiene oral:
- Dos 6 meses aos 2 anos: limpar todos os dentes da criança e o rebordo onde vão nascer os dentes uma vez por dia, com um cotonete, fralda, gaze ou mesmo com uma escova pequena humedecida. , refere que não se deve usar dentífrico nesta idade ou então, se for usado que seja uma quantidade mínima (menor que uma ervilha), pois a criança não deve engolir grande quantidade de dentífrico: o flúor é tóxico se ingerido em grande quantidade;
| |||
|
- Dos 2 anos aos 6 anos: aos 6 anos nascem os primeiros molares permanentes, pelo que se deve acompanhar o seu aparecimento e escovagem. A criança já pode usar sozinha uma escova adequada. A escovagem dera ser efectuada duas vezes por dia (de manhã, após o pequeno almoço e ao deitar) e sempre supervisionada por um adulto;
- Acima dos 6 anos: duas vezes por dia e embora a criança já esteja apta a realizar a sua própria higiene, não deixar de a acompanhar. Dar a bochechar flúor à criança depois da última escovagem, evitando que ela o engula. DIAS (2003) aconselha que as crianças com mais de 6 anos devem escovar os dentes da seguinte maneira: manter os dentes cerrados e escová-los fazendo movimentos circulares no lado de fora. Repetir o mesmo movimento no lado de dentro. Escovar a parte mastigatória dos dentes com movimentos de “vaivém”, pode também escovar a língua e deve usar o fio dental.
- Controlar sempre a quantidade de dentífrico, que deverá ser a correspondente à unha do dedo mínimo da criança e ensiná-la a não engolir o dentífrico;
|
 |  |
|
- Nunca deixar a criança trocar de escova com outras crianças, mesmo que sejam os irmãos;
- Proporcionar uma alimentação equilibrada, não comer entre as refeições e finalizar cada refeição com algum alimento “de limpeza” (por exemplo: frutas fibrosas, vegetais, maçãs, etc.);
- Evitar o consumo excessivo de açúcares (caramelos, rebuçados ou outros doces sólidos e aderentes que são os mais cariogénicos), procurando que a criança escove os dentes logo após a sua ingestão;
- Hábitos nocivos, como o biberão ao deitar ou a chupeta com mel ou açúcar, são extremamente prejudiciais e podem provocar cáries e maloclusões (“dentes tortos”).
2.4.8 - Dentífricos, pastas, creme, gel, líquidos
Apesar destes produtos não serem indispensáveis para a remoção da placa bacteriana, são um auxiliar muito útil para a conservação da higiene bucal, em parte devido aos seus atributos na remoção de manchas, no auxílio à remoção da placa bacteriana e também relacionados com o seu sabor agradável que transmite uma sensação de limpeza bucal (MAXWELL cit in LASCALA, 1997). No entanto sabe-se que não existe dentífrico com valor terapêutico ou profilático em relação às doenças periodontais.
PADUA LIMA cit in LASCALA (1997), concluiu que do ponto de vista periodontal o dentífrico serve somente para de tornar agradável a escovagem pelas suas substâncias aromáticas, e provavelmente auxiliar a limpeza dos dentes através das substâncias ligeiramente abrasivas que contêm bicarbonato, cloreto de sódio, cloreto de cálcio e sarcosinato de sódio finamente pulverizado, e das substâncias detergentes como sabão; além disso, um dentífrico contém umectantes (glicerina, sorbirol), água, agentes que corporificam (celulose de carboximetilalginato, amilase), agentes aromáticos, corantes e flúor.
Ao ser usado como auxiliar da limpeza dos dentes vai potencializar a acção de uma escova de cerdas médias ou macias (GREEN cit in LASCALA, 1997).
Os dentífricos não devem danificar o esmalte, não devem intervir na acção enzimática da saliva e não devem ser de preço elevado, (FLOTE cit in LASCALA, 1997).
2.4.9 - Bochechos/elixires
Aquando do acto da escovagem dental numerosos fragmentos de alimentos e placa bacteriana são deslocados das superfícies e serão eliminados através de enérgicos bochechos com água com o objectivo de facultar a eliminação de hidratos de carbono que por ventura se encontram na boca (PIOCHI cit in LASCALA, 1997).
Apesar de possuírem odor agradável e produzirem uma sensação temporária de frescura bucal o seu maior benefício está na acção dinâmica da remoção dos alimentos soltos na boca depois das refeições (KORNMAN cit in LASCALA, 1997).
Os bochechos que não são antissépticos fornecem ao indivíduo uma falsa ideia de limpeza bucal, e mesmo os que são após um uso constante, têm a sua acção antisséptica diminuída, e a confiança que o indivíduo coloca neste pseudomeio de higienização bucal, pode tornar-se nocivo, já que ao contar com a acção antisséptica descura outras medidas eficazes (Keyes cit in LASCALA, 1997).
| |||
|
A acção excessivamente adstringente de alguns preparados pode acarretar danos aos tecidos moles. É importante lembrar que todos os produtos utilizados para bochechos devem ser encarados como droga. Contemporaneamente, é vulgar o uso de bochechos após a escovagem. (GIORGI e DE MICHELLI cit in LASCALA, 1997).
De acordo com Questões Frequentes sobre Saúde Oral (2002) o hábito de bochechar após a escovagem dos dentes é recomendado pois, o líquido penetra nas regiões que não foram bem higienizadas devido a dificuldades de acesso.
Existem hoje no mercado, substâncias que além de antissépticas, contêm flúor. Esses líquidos têm como objectivo a aplicação de flúor, eliminando as bactérias causadoras de placa bacteriana, prevenindo o mau hálito e as cáries nos locais de difícil acesso, onde a escova e o fio dental não chegam, proporcionando uma melhor higienização bucal.
Muitos estudos efectuados em conformidade com o Conselho da Associação Americana de Medicina Dentária de 1986, dedicado a Indicações Terapêuticas Dentárias para a aceitação de produtos químicos como meios terapêuticos no controlo da gengivite e da placa supragengival, comprovaram a eficácia antiplaca e antigengivite de elixires (Comparação da Eficácia de um colutório antisséptico e de um dentífrico antiplaca/antigengivite, 2003)
2.4.10 - Selantes de Fissuras
Segundo FREIRE (2000), são uma espécie de verniz, resinas fluidas que ao polimerizarem, formam uma película contínua e resistente que tapa os sulcos e fissuras que existem nas superfícies mastigatórias dos dentes posteriores e que forma uma barreira à entrada de placa bacteriana, protegendo os dentes das cáries.
São colocados nos dentes molares pois são os locais onde a cárie dentária aparece mais frequentemente já que os dentes ao serem escovados, os pêlos da escova não atingem o fundo das fissuras e fica aí retida placa bacteriana.
Devem ser aplicados pouco tempo depois da erupção dos dentes, desde que estes estejam sãos ou possuam apenas pequenas cáries (que só envolvam o esmalte dentário).
Este site recomenda ainda:
- Visitas regulares ao médico dentista/higienista oral para verificar se ocorreu alguma alteração ao normal para o problema ser detectado ainda no seu início, tornando o seu tratamento menos traumatizante e menos dispendioso;
- É muito importante o controle profissional pelo menos duas vezes ao ano.
2.5 – ADOLESCÊNCIA
Estádio definido pelo cessar da infância, num extremo, e a entrada na idade adulta, no outro, a adolescência necessita de uma elucidação mais precisa (McKINNEY, 1986).
2.5.1 – Definição Cronológica
Adolescente é um termo usado para se referir a um indivíduo cuja a idade se situa entre o final da infância (por volta dos 13 anos) e começo da idade adulta (a partir dos 19 anos). A adolescência inicia-se com as mudanças fisiológicas da puberdade e termina com a obtenção a nível social do estatuto de adulto (McKINNEY, 1986).
De acordo com o DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA (2001), “a adolescência é uma fase de restruturação afectiva e intelectual da personalidade (...) Nos dias de hoje é difícil precisarmos o seu fim, na medida em que inúmeros casos de adolescentes prolongados continuam a trabalhar na sua personalização”.
De acordo com MONTARDO (18 de Dezembro de 2002) a adolescência divide-se em três estádios:
a) Adolescência precoce ou inicial (10-14 anos) – o adolescente busca adaptar-se às alterações que ocorrem no seu corpo e inicia o processo de separação e independência dos pais. Os aspectos característicos da infância, embora ainda presentes, começam a ser substituídas por outros mais maduros.
b) Adolescência média (15-17 anos) – grande parte dos adolescentes neste estádio já completou as modificações biológicas mais importantes e as transformações da puberdade não são tão visíveis. É importante agora consolidar a imagem corporal, desenvolver a sexualidade e estabelecer uma identidade própria. O comportamento costuma ser estereotipado já existindo identificação plena com o grupo de pertença. É frequente testarem os limites e a independência.
c) Adolescência tardia (17-20 anos) – predomina uma identidade mais estável pelo emergir de valores e comportamentos adultos. O relacionamento com o companheiro de sexo oposto torna-se mais íntimo, afectuoso e estreito. Neste estádio os adolescentes procuram estabilidade social e económica, desenvolvem sistemas de valores e emitem opiniões de acordo com suas próprias ideias; melhoram a sua relação com os pais e familiares.
HAVIGHURST cit in McKINNEY (1986) classificou como tarefas ou metas da adolescência as seguintes:
- Aquisição de um sentimento de independência em relação aos pais;
- Aquisição das habilidades sociais requeridas de um jovem adulto;
- Aquisição de um sentimento do EU como pessoa digna de apreço;
- Desenvolvimento das habilitações académicas e profissionais necessárias;
- Ajustamento a um desenvolvimento físico e sexual em rápida mudança;
- Realização de um conjunto internalizado de normas e valores orientadores.
2.5.2 – Maturidade Física e Psicológica
As mudanças fisiológicas e psicológicas produzem-se num ritmo diferente, consoante os indivíduos; assim, num grupo de jovens com a mesma idade coexistem situações fisiológicas e psicológicas diferentes, que o adolescente não compreende como normais tornando-se para ele uma fonte de inquietação e de comportamentos de imitação para preservar a conformidade com o grupo (CORDEIRO, 1979).
Resumindo os principais aspectos do crescimento e desenvolvimento físico durante este período podemos citar os seguintes:
· Incremento anual em estatura e peso;
· Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários durante a puberdade: nas raparigas encontra-se associado ao início da menstruação e nos rapazes, com a produção de sémen;
· Desenvolvimento dos caracteres sexuais primários (McKINNEY, 1986).
Do ponto de vista intelectual a adolescência caracteriza-se pelo pensamento formal, pelo raciocínio hipotético-dedutivo, pela descoberta da noção da lei que podem conduzir a um egocentrismo mas também permite a concepção de projectos para o futuro e grandes ideais.
A adolescência constitui um campo psicológico privilegiado de mudanças: revivescência do movimento de separação da primeira infância, reactivação do conflito Edipiano, desligação das imagens parentais e infantis e religação a novos objectos libidinais, relações defensivas com o ideal do Ego e as pulsões para estabelecer um novo equilíbrio narcisico (DORON, PAROT, 2001).
2.5.3 – Construção da Identidade
ERIKSON cit in McKINNEY (1986) sugeriu que a adolescência é o período em que o indivíduo flutua entre a identidade e a difusão da identidade.
DURON e PAROT (2001) definem identidade pessoal como uma construção dinâmica da unidade da consciência entre si, através das relações intersubjectivas, comunicações de linguagem e experiências sociais; “a identidade é um processo activo, afectivo e cognitivo de representação de si no meio que o rodeia associado a um sentimento subjectivo da sua permanência”.
A identidade deve satisfazer as necessidades inter e intrapessoais de coerência, estabilidade e síntese do adolescente sendo indispensáveis para a adaptação ás mudanças e para evitar o surgimento de perturbações da personalidade (DURON e PAROT 2001).
A adolescência é um estádio em que existe uma necessidade normal de reencontro do adolescente consigo próprio em substituição dos laços afectivos infantis que o ligam aos pais por outras relações mais adultas, é conhecida crise da adolescência, que é uma crise de desenvolvimento e de procura de identidade própria. Esta maturação passa por uma contestação dos hábitos, costumes e mitos dos adultos numa procura de si próprio e de uma sociedade mais humana (CORDEIRO, 1979).
A adolescência para BLOS cit in CORDEIRO (1979), é um período onde o indivíduo reformula a imagem de si próprio e dos outros e do sistema de relação do seu EU com o meio, até à organização definitiva da sua personalidade.
2.5.4 – Maturidade Social
A adolescência foge a uma definição exacta pois constitui um estádio transitório entre a infância e a maturidade do adulto apoiando-se na definição destes períodos para a sua definição.
É nesta dificuldade de definição que se encontra uma das principais características deste estádio, a falta de esclarecimento acerca da posição do adolescente no seio da comunidade
De acordo com DURON e PAROT (2001) “a identidade social resulta de um processo de atribuição, de intervenção e de posicionamento no meio ambiente; exprime-se através da participação em grupos ou em instituições”.
De acordo com MONTARDO (18 de Dezembro de 2002) os amigos assumem um papel fundamental pois têm a mesma idade e possuem as mesmas características que possibilitam ao jovem enfrentar as modificações a que estão sujeitos. São os amigos que entendem melhor as suas ideias, que possuem os mesmos interesses e aspirações e estão dispostos a enfrentar os mesmos desafios.
2.6 - QUALIDADE DE VIDA
2.6.1 - Conceito
O termo qualidade de vida, tem vindo a sofrer um interesse crescente pelo público ligado à saúde e não só, perante os progressos da tecnologia e da ciência, nomeadamente no que se refere no prolongamento da vida e o impacto psicológico dos tratamentos (CARDOSO, 1999).
Segundo MELO (2002), o conceito de qualidade de vida foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos da América pelo presidente Lyndon Johnson. A partir daí, começou a ser utilizado com maior frequência sobretudo nas áreas das ciências humanas, biológicas e sociais.
Para alguns autores, foi na década de oitenta que a qualidade de vida se tornou um conceito do interesse geral, isto porque, visava o bem-estar das pessoas. Outros, consideram que o seu interesse teve já início na década de setenta quando as atenções começaram a centrar-se mais na saúde do que na doença (CRUZ, 2001).
No entanto, qualidade de vida é um conceito extremamente difícil de definir devido à sua subjectividade isto porque está ligada ao estado de felicidade e de bem-estar que por sua vez são também conceitos subjectivos pois variam com a cultura, o estrato social e a personalidade de cada um (GUIMARÃES, 2000).
Diferentes autores compreendem a qualidade de vida de diferente modo. Podendo expressar-se em termos de bens materiais, bem espirituais, baseando-se na opinião do próprio indivíduo, resultante da opinião de outros ou da observação de especialistas e ainda, tanto pode ser considerada como uma dimensão objectiva como subjectiva. (GIL, 1998, cit in COSTA, 2001). Sendo assim, a qualidade de vida pode significar diferentes concepções para diferentes pessoas, dependendo dos valores e da cultura de cada um, assim como dos aspectos de ordem económica (AMORIM, 1999).
A qualidade de vida é um conceito multidimensional e segundo LOMB et al (1988), cit in CRUZ (2001), mede não só a saúde física, social e mental mas também, compreende a capacidade de adaptação ao stress, redes de apoio e integração social, satisfação com a vida, auto-estima, felicidade e ainda a condição física.
OSOBA (1991) cit in AMORIM (1999), entende que este conceito é mais abrangente que a de saúde, englobando standart de vida, qualidade de habitação, vizinhança, satisfação na profissão e muitos outros factores, no entanto, a qualidade de vida é utilizada como um indicador para medir a saúde. WARE (1992), cit in CUZ (2001), também é da mesma opinião.
Outros autores, referem ainda que a qualidade de vida poderá ser entendida como uma reflexão subjectiva do indivíduo em que ele analisa até que ponto as suas necessidades foram satisfeitas nos diferentes planos da sua vida.
Nesta perspectiva, SHUMAKER et al, (1990), cit in COSTA (2001), designam como sendo a satisfação global com a vida e a sensação geral de bem-estar, propondo um modelo de seis dimensões para determinar a qualidade de vida: cognitiva, social, física, emocional, produtividade pessoal e intimidade.
Também CHURCHMAN (1992), cit in GUIMARÃES (2000), apresenta uma definição muito similar ao autor anterior isto porque para ele, a qualidade de vida é entendida como sendo um juízo subjectivo do indivíduo sobre o grau de satisfação nos diferentes domínios da sua vida. Domínios esses que incluem o grau de auto - realização, saúde, vida social e familiar, habitação, a situação de trabalho, o nível de rendimentos, a segurança pessoal, a qualidade ambiental, a justiça social e a igualdade.
BALESTEROS (1994), cit in AMORIM (1999), a qualidade de vida é descrita como um juízo subjectivo do grau em que se alcançou a satisfação ou um sentimento de bem-estar pessoal, mas associado a determinados indicadores objectivos, nomeadamente, biomédicos, psicológicos e comportamentais.
Na opinião de RIBEIRO (1994), cit in CRUZ (2001), a qualidade de vida não pode depender exclusivamente da saúde mas também de outros domínios extremamente importantes tais como o trabalho, a família, a estabilidade económica entre outros isto porque o Homem é entendido como um ser bio-psico-social.
BOWLING (1994), cit in COSTA (2001), considera-a como um conceito vago, amorfo de uso multidisciplinar, multidimensional e que teoricamente incorpora todos os aspectos da vida de um indivíduo. Deste modo, inclui neste conceito o bem-estar social, tornando-o mais vasto que o estado de saúde pessoal. O autor faz ainda referência à capacidade funcional que inclui o desempenho funcional, à qualidade e intensidade da interacção social e comunitária, bem-estar psicológico, sensações somáticas e satisfação com a vida, inclui também as componentes do ambiente, habitação, comunidade, relacionada com o conforto e segurança; características da situação da trabalho, factores educacionais, financeiros e demográficos e medidas de capacidade individual para lidar com situações de stress, de apoio e suporte social, auto - estima, auto-imagem e nível de aspirações.
Para SHIPPER et al (1990), cit in CRUZ (2001), a qualidade de vida é referida como sendo o efeito de uma doença ou do tratamento num doente e percepcionada por ele em quatro domínios: funcionamento físico e ocupacional, estado psicológico, interacção social e sensação somática. Assim, poderemos considerar que a qualidade de vida é uma percepção global da vida pessoal, para a qual contribuem vários domínios e componentes.
A Organização Mundial de Saúde, através do seu grupo para a qualidade de vida (O. M.S., 1993, cit in GUIMARÃES, 2000, p.35), define-a como sendo:
“... uma percepção individual da sua posição na vida no contexto da sua cultura e do seu sistema de valores relativa aos seus objectivos, aos seus êxitos, aos seus padrões. È um conceito que integra de forma complexa a saúde física da pessoa, o seu estado psicológico, o seu nível de independência, as suas relações sociais, as suas crenças pessoais e as suas relações com os acontecimentos do seu meio ambiente”.
Entre outros autores, CRAMER (1994), cit in MORAIS (2000), utiliza a mesma definição de saúde da O.M.S. para definir qualidade de vida (BERGNER, 1989, cit in MORAIS, 2000) é da mesma opinião de que qualidade de vida e saúde são sinónimos. No entanto outros autores, entre os quais WARE (1991), HERMANN (1993) pelo contrário, consideram-nos bastante diferentes.
De acordo com o relatório do Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento (P.N.D.U., 1994, cit in COSTA, 2001), até ao séc. XX políticos, filósofos e académicos, consideravam a qualidade de vida como sendo o resultado da capacidade humana para fazer pleno uso das potencialidades económicas, sociais, culturais e políticas, visando o desenvolvimento equilibrado da sociedade, com respeito pelo universalismo do direito à vida. Deste modo, tinha-se portanto criado um conceito humanista, embora nitidamente ocidental.
Outros autores introduzem um aspecto importante que é a satisfação das necessidades básicas do indivíduo. A Direcção Geral de Saúde, definiu a qualidade de vida como sendo “ a percepção por parte dos indivíduos ou grupos de que as suas necessidades são satisfeitas e não lhe são negadas oportunidades para alcançar um estado de felicidade e realização pessoal em busca de uma qualidade de existência acima da mera sobrevivência”. (D.G.S., 1995, cit in CRUZ, 2001, p.9)
FARQUHAR (1995) cit in AMORIM (1999) organizou uma taxonomia de definições de qualidade de vida, classificando-as em três tipos:
Tipo I - globais ou gerais, que integra geralmente as ideias de satisfação/insatisfação e felicidade/infelicidade sendo definida subjectivamente em termos de avaliação individual de experiências da vida;
Tipo II - definições que estratificam o conceito em dimensões ou componentes que permitem fazer a sua operacionalização tornando-se mais úteis para o trabalho empírico;
Tipo III - definições focalizadas apenas num pequeno número de componentes de qualidade de vida. As que se referem aos componentes da saúde ou aptidão funcional como por exemplo a qualidade de vida relacionada com a saúde são as mais comuns.
Ao longo dos anos a qualidade de vida tem vindo a ser estudada por diferentes disciplinas tais como: a filosofia, a economia, a psicologia, a sociologia, a medicina e a enfermagem, devido à preocupação crescente com aspectos relacionados com o bem-estar do ser humano (CRUZ, 2001).
O conceito de qualidade de vida não reúne a concordância de todos os autores.
De um modo geral referem-se à qualidade de vida como uma avaliação global, outros definem-na em termos dos seus componentes ou dimensões. Assim, ora é referida como estando relacionada com o sentido de satisfação que um indivíduo tem pela sua vida ou como uma satisfação global com a vida e a sensação pessoal de bem-estar, pode ainda, ser referenciada como o efeito de uma doença ou de um tratamento num doente e a forma como ele próprio a percepciona nos diferentes domínios.
Contudo, acabam por existir pontos principais de consenso nas definições sobre qualidade de vida (AMORIM, 1999):
- A sua multidimensionalidade, pois engloba aspectos tanto físicos como psicológicos e sociais;
- Basear-se principalmente nas percepções e expectativas do próprio indivíduo;
- Não é um processo estático, mas sim variável ao longo do tempo;
- Tratar-se de uma medida de natureza subjectiva (bem-estar) e objectivas (capacidade para realizar actividades diárias).
No entanto, na opinião de alguns autores da saúde, argumentam que a definição de qualidade de vida foi tão longe que deixou e ter algum interesse para medir o estado de saúde e necessidades de saúde.
Nesta perspectiva surge um conceito muito mais restrito e específico do sistema de cuidados de saúde - qualidade de vida relacionada com a saúde, (MORAIS,2000).
2.6.2 - Qualidade de vida relacionada com a saúde
O conceito de qualidade de vida relacionada com a saúde, surgiu face ao desenvolvimento de estudos sobre a saúde em ambientes clínicos (COSTA, 2001), conduzindo a uma melhoria das condições de vida das populações, traduzindo-se num aumento da esperança de vida o que por vezes traz consigo o reverso da medalha, isto é, a redução da qualidade de vida.
Para PATRICK e DEYO (1989), cit in COSTA (2001), a qualidade de vida relacionada com a saúde é um termo abrangente que engloba a duração de vida, invalidez, estados funcionais, percepções e oportunidades sociais.
O conceito é subjectivo, incorporando aspectos quer positivos quer negativos, do bem-estar e da vida e multidimensional associando a saúde física, psíquica e social.(WARE, 1992, cit in COSTA, 2001).
Tal como o anterior autor, HERRISON (1993), também define a qualidade de vida na saúde como sendo a funcionalidade satisfatória para o indivíduo essencialmente nesses três domínios.
O domínio físico quando afectado vai impossibilitar a realização de actividades diárias, porque as capacidades funcionais encontram-se afectadas. As possibilidades de realização pessoal e de bem-estar psicológico, social e económica ficam também comprometidas, nesta perspectiva, o sofrimento tem um impacto significativo nos diferentes aspectos da vida de uma pessoa.
Relativamente ao domínio psicológico, este é fundamental para que haja uma adaptação adequada do indivíduo ao seu meio. Desta forma é fácil de perceber que indivíduos em situações de comprometimento psicológico, nomeadamente, em situações de depressão ou de ansiedade, as pessoas dificilmente conseguirão obter satisfação pessoal nos diferentes domínios.
No que diz respeito ao domínio social, este fica francamente afectado perante situações de doença, na medida em que o papel/estatuto social do indivíduo fica seriamente afectado, deixando de o poder executar, assumindo um novo papel/estatuto, o de doente. Sendo assim, é fundamental a participação dos que lhe são mais próximos, nomeadamente a família e os amigos.
A aceitação de uma definição precisa e única de qualidade de vida relacionada com a saúde, parece não existir. Contudo, PATRICK e ERIKSON (1993), cit in COSTA (2001, p.28), definem qualidade de vida como sendo “o valor atribuído à duração da vida enquanto modificado por deficiências, estados funcionais, percepções e oportunidades sociais, que são influenciadas pela doença, lesão, tratamento ou políticas.”
BOWLLING (1995), cit in COSTA (2001, p. 28), apresenta-nos também uma definição, considerando a qualidade de vida relacionada com a saúde como sendo “...o nível óptimo de funcionamento físico, mental, social e de desempenho, incluindo as relações (sociais), percepção da saúde, bom nível de condição física, satisfação com a vida e bem-estar.”
Assim sendo, cada um de nós possui um conceito próprio de qualidade de vida, de acordo com as suas expectativas e “background” cultural.
2.6.3 – Qualidade de Vida relacionada com Saúde Oral
Segundo DIAS (2003) a saúde oral é considerada como essencial para a qualidade de vida, existindo a necessidade de tratamento odontológico visto que a energia necessária para a manutenção de todos os processos vitais é proveniente de uma alimentação equilibrada, onde a cavidade oral tem uma importância fundamental.
Para FREIRE (2000) a saúde oral está intimamente ligada ao bem estar geral de cada um de nós, sendo um factor que contribui para manter ou restabelecer as condições físicas, emocionais e sociais necessárias ao aumento das capacidades de cada indivíduo para melhorar a qualidade de vida.
DIAS (2003) considera a Saúde Oral como essencial para a qualidade de vida, existindo a necessidade de tratamento odontológico visto que a energia necessária para a manutenção de todos os processos vitais é proveniente de uma alimentação equilibrada, onde a cavidade oral tem uma importância fundamental.
O termo qualidade de vida, tem vindo a sofrer um interesse crescente pelo público ligado à saúde e não só, perante os progressos da tecnologia e da ciência, nomeadamente no que se refere no prolongamento da vida e o impacto psicológico dos tratamentos (CARDOSO, 1999).
Segundo o professor de periodontologia McGRATH cit in REUTERS (2002), uma pesquisa divulgada mostra que 3 em cada 5 britânicos afirmam que a saúde dos dentes e das gengivas tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida., sendo a saúde oral muito importante para a aparência (66%), o conforto (63%) e alimentação (62%). Pouco menos de metade da população estudada referiu ainda que a saúde da boca era um factor que influenciava a autoconfiança (49%), a vida social (43%) e as relações amorosas (42%).
Ainda de acordo com este autor (2002), os resultados da pesquisa confirmaram que a boca e os dentes têm uma forte influência sobre o conceito que as pessoas têm sobre si mesmas: “É uma das poucas partes do nosso corpo que usamos todos os dias e empregamos numa série de coisas – como comer, falar e sorrir”.
PARTE II - INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA
1 - METODOLOGIA
Para FORTIN (1999, p.372), a metodologia é “o conjunto dos métodos e das técnicas que guiam a elaboração do processo de investigação científica. Também é a secção da investigação que descreve os métodos e as técnicas utilizadas no quadro dessa investigação”.
Neste sentido, procuramos descrever de uma forma clara o percurso realizado na efectivação deste estudo, possibilitando assim uma visão global e objectiva do estudo.
1.1 - OBJECTIVOS E CONCEPTUALIZAÇÃO DO ESTUDO
Segundo MALVITZ (1982) a Saúde Oral é a ciência e a arte de prevenir e controlar as doenças orais e promover a saúde oral através de esforços comunitários organizados. É aquela forma de prática dentária que serve a comunidade como utente em detrimento do individual.
A saúde oral é importante em termos de aparência, conforto e bem-estar, permite satisfazer uma necessidade humana básica (“comer”), promover a autoconfiança bem como o convívio social e relacionamentos amorosos (Agência REUTERS, 2002).
A adolescência só muito recentemente passou a ser reconhecida como uma fase da vida com necessidades específicas. É um período de transição, uma etapa do ciclo de crescimento que marca o fim da infância e anuncia a idade adulta. Para muitos jovens, esta é um período de incertezas e desespero. Outros encaram-na como uma fase de amizades intensas, de enfraquecimento dos laços familiares e de sonhos sobre o futuro, (MUÑOZ, 2002). Para MONTEIRO e SANTOS, (1998), a adolescência é considerada como uma fase da vida do Homem caracterizada por alterações profundas ao nível fisiológico, psicológico, afectivo, intelectual, social, pulsional e familiar vivenciadas num determinado contexto cultural.
Nesta perspectiva e após efectuar uma pesquisa bibliográfica e deparado com a inexistência de estudos neste campo, entendemos ser pertinente estudar quais os factores que influenciam a saúde oral nos adolescentes.
FORTIN (1999, p.100) define o objectivo de um estudo como um “enunciado declarativo que precisa as variáveis chave, a população alvo e a orientação da investigação”.
Para a realização deste estudo definimos os seguintes objectivos:
· Identificar a saúde oral dos adolescentes do ensino secundário do distrito de Viseu;
· Analisar a influência de alguns factores sócio-demográficos, (sexo, idade, local de residência, escolaridade) sócio-familiares, (nível sócio-económico, situação familiar, qualidade de vida e padrões alimentares) e psicológicas (autoconceito), que interferem na saúde oral;
Tendo presentes os objectivos acima delineados, contextualizámos um estudo de natureza quantitativa e não experimental e de natureza transversal, visto que os questionários serão aplicados num período pré-definido, relativo a um momento presente.
O actual estudo classifica-se como um estudo de exploração e de explicação de relações entre os fenómenos (nível III), pretendendo-se examinar de forma sistemática a relação que existe entre as variáveis, de modo a alcançar explicações. No desenho correlacional, as variáveis não são aleatórias mas escolhidas em função do enquadramento teórico, (FORTIN, 1999). Ainda segundo a mesma autora, é ainda um estudo descritivo-correlacional pois tem em vista explorar e determinar a existência de relações entre as variáveis, com vista a descrever essas relações.
Face ao descrito anteriormente delineamos o seguinte esquema de investigação.
Fig. 24 - Esquema de investigação
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
 | |||||||||
 |
1.2 - HIPÓTESES
Para POLIT e HUNGLER (1995), hipótese é “uma previsão experimental ou uma explicação da relação entre duas ou mais variáveis”.
De acordo com FORTIN (1999, p.102), “uma hipótese é uns enunciados formais entre duas ou mais variáveis, é uma predição baseada na teoria ou numa proporção desta”, acrescenta ainda que “a hipótese combina o problema e o objectivo numa explicação ou predição clara dos resultados esperados de um estudo (...) As hipóteses são a base da expansão dos conhecimentos quando se trata de refutar uma teoria ou apoiá-la”.
Sendo assim podemos afirmar que as hipóteses são uma resposta plausível ao nosso problema de investigação, funcionando como um enunciado claro e preciso da relação entre variáveis em estudo.
São realizadas tendo por base o problema de investigação devendo estar em sintonia com os objectivos e fundamentação teórica.
De acordo com esta linha de pensamento, formulamos as seguintes hipóteses:
| Hipótese 1 - | As variáveis sócio-demográficas (o sexo a idade e o local de residência) influenciam a saúde oral dos adolescentes. |
No que diz respeito à variável sexo, imaginamos poder encontrar diferenças entre o sexo feminino e o sexo masculino, no tocante à saúde oral do adolescente. Segundo a SPEMD (2001) o hábito de escovar os dentes uma ou mais vezes por dia é mais comum em indivíduos do sexo feminino no que do sexo masculino, que apresenta uma menor frequência de escovagem incluindo por vezes a ausência da mesma. A escovagem dos dentes é considerada um indicador de saúde oral.
Na variável idade, partimos de uma hipótese geral de estudo que sugere que á medida que idade aumenta, diminui a saúde oral dos indivíduos. A SPEMD (2001) refere que o número médio de dentes permanentes, cariados e restaurados é inversamente proporcional ao aumento da idade, devido á perda de dentes por cáries e doença periodontal. Segundo a mesma fonte o número de dentes sãos também diminui com a idade.
Relativamente ao local de residência, aldeia, vila e cidade, queremos saber em que medida este influencia a saúde oral dos adolescentes. Os residentes em áreas urbanas apresentam um hábito de higiene oral mais frequente do que os das áreas rurais, assim como apresentam um maior número de dentes perdidos e um menor número de dentes presentes sãos, (SPEMD, 2001),
| Hipótese 2 - | Existe correlação entre as variáveis sócio-familiares, (nível sócio-económico, qualidade de vida e padrões alimentares) e a saúde oral dos adolescentes. |
CALADO et al (1989) cit in BATALHA (2001), menciona uma relação entre a saúde oral e o nível sócio-económico em que, uma má saúde oral provoca um impacto negativo a nível, devendo por isso, o único caminho a seguir para travar os níveis da doença, ser a prevenção adequada, eficaz e contínua.
Nesse sentido, prevemos que o nível sócio-económico possa influenciar a saúde oral dos adolescentes.
REUTERS (2002) menciona que a saúde oral influencia a qualidade de vida das populações. De acordo com o mesmo autor, uma pesquisa divulgada mostra que três em cada quatro britânicos afirmam que a saúde dos dentes e das gengivas tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida, nomeadamente na aparência física, conforto e alimentação, influenciando também a vida social. De uma forma geral através da formulação desta hipótese, pretendemos saber se existe a relação inversa, ou seja a qualidade de vida possa influenciar a saúde oral dos indivíduos.
De uma forma geral podemos supor que, com base na bibliografia recolhida que Saúde oral poderá ser influenciada pelos Padrões Alimentares. Ao formularmos esta hipótese, quisemos saber se o padrão alimentar dos adolescentes influencia a sua saúde oral.
GENCO cit in LASCALA (1997) afirma que um dos factores que podem agravar a doença periodontal já estabelecida são o desequilíbrio na nutrição ou deficiência vitamínica. Segundo, o mesmo autor, a deficiência acentuada nas vitaminas A e C pode levar à modificação ou aceleração da evolução da inflamação preexistente, uma vez que a vitamina C é elemento importante na formação do colágeno, assim como a vitamina A na regeneração e manutenção do epitélio.
cita que uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e sais minerais e pobre em hidratos de carbono, especialmente em açúcares (muito prejudiciais aos dentes) acompanhada por correcta escovagem é fundamental para evitar a queda dos dentes, assim como a ingestão diária de alimentos ricos em cálcio (leite e derivados, vegetais verde escuro, leguminosas secas). Para o mesmo autor, açúcar na forma da sacarose, é o principal responsável pela exagerada proliferação de placa bacteriana e consequentemente, pelo aparecimento das cáries.
| Hipótese 3 - | Existe correlação entre a variável psicológica, (autoconceito) e a saúde oral dos adolescentes. |
Ao analisarmos se o autoconceito está relacionado com a saúde oral a dos adolescentes, SHANNON cit in LASCALA (1997) diz que distúrbios de ordem psicológica ou emocional podem induzir à libertação de adrenalina que provoca a nível gengival uma vasoconstrição, podendo ser um elemento activo no processo de desenvolvimento de periodontopatias, influenciando negativamente a saúde oral do adolescente. Como tal, e através da formulação desta hipótese, supomos que o autoconceito possa influenciar a saúde oral dos mesmos.
1.3 - VARIÁVEIS
FORTIN (1999, p.37) define variáveis como “...qualidades, propriedades ou características de objecto, de pessoas, ou de situações que são estudadas numa investigação.”.
As variáveis são conceitos, possíveis de ser avaliados e medidos no nosso estudo. Estas permitem-nos resolver o nosso problema quando devidamente articuladas entre si através de hipóteses de investigação.
De acordo com POLIT e HUNGLER (1995), variável é uma característica ou qualidade que assume valores diferentes.
GIL (1995, p.81) diz-nos que “O conceito de variável refere-se a tudo o que assume valores ou diferentes aspectos segundo os casos particulares ou circunstâncias”. Da análise do conceito podemos constatar que as variáveis são uma característica da realidade, de um ou mais valores, exclusivos, ou característicos de um certo fenómeno. No entanto existem vários tipos de variáveis porém, neste estudo consideramos apenas variáveis dependentes (o fenómeno que se pretende estudar) e as variáveis independentes, estas explicam um dado acontecimento.
Variável dependente
Para LAKATOS e MARCONI (1995, p.172), variável dependente “ é o factor que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou modifica a variável independente”, ou seja, é a variável que se pretende estudar e que é influenciada pelas variáveis independentes.
Em relação ao nosso estudo definimos como variável dependente:
- Saúde oral dos adolescentes do distrito de Viseu
Variáveis independentes
Segundo LAKATOS e MARCONI (1995, p.172) variável independente é “ (...) aquela que influencia ou afecta uma outra variável, é factor determinante, efeito ou causa de certo resultado, efeito ou consequência”. Digamos que é a presumível causa do problema.
FORTIN (1999, p.37) completa dizendo que “ a variável independente é aquela que o investigador manipula no estudo experimental para medir o seu efeito numa variável dependente”.
Podemos então afirmar que as variáveis independentes são todas as variáveis que nos permitirão obter uma resposta ao nosso problema inicial. Devem ser cuidadosamente seleccionadas no sentido de podermos controlar o mais possível o estudo, evitando assim eventuais conclusões passíveis de serem colocadas em causa.
As variáveis independentes traçadas para o nosso estudo são:
- Sócio-demográficas
§ Idade;
§ Sexo;
§ Escolaridade;
§ Área de residência;
- Sócio-familiares
§ Condição sócio-económica;
§ Padrão alimentar
§ Qualidade de vida
- Psicológicas
§ Autoconceito
1.3.1 - Operacionalização de Variáveis
Saúde Oral
Segundo MALVITZ (1982) a Saúde Oral é a ciência e a arte de prevenir e controlar as doenças orais e promover a saúde oral através de esforços comunitários organizados. É aquela forma de prática dentária que serve a comunidade como utente em detrimento do individual. Está relacionada com a Educação da Saúde Oral à comunidade, com a investigação dentária aplicada e com a administração de um grupo responsável pelos programas de saúde oral, assim como com a prevenção e controlo das doenças orais ao nível da comunidade.
Esta variável apresenta como dimensões:
- MÉTODOS DE HIGIENE que tem como dimensão a Escovagem que apresenta como indicadores directos o “tipo de escova”, o “número de escovagens”, o “método de escovagem” e o “tempo de escovagem” e ainda apresenta como indicador o “Método de Higiene Oral”;
- VIGILÂNCIA MÉDICO-DENTÁRIA que apresenta como indicador directo a “consulta médica”;
- SINTOMATOLOGIA que apresenta como indicadores directos a “dor/sensibilidade/sangramento dos dentes”, “tártaro nos dentes”, “cáries nos dentes”, “dentes extraídos” e “dentes chumbados”.
Dado o facto de não encontrarmos qualquer tipo de escalas de avaliação de saúde oral, esta variável foi operacionalizada e avaliada de acordo com uma escala construída por nós.
| VARIÁVEL DEPENDENTE | DIMENSÕES | INDICADORES | COTAÇÕES | QUESTÕES |
| SAÚDE ORAL SAÚDE ORAL | MÉTODOS DE HIGIENE | Tipo de escova | Média = 3 | 20 |
| Macia = 2 | ||||
| Dura = 0 | ||||
| Número de escovagens | Duas ou mais vezes por dia = 3 | 18 | ||
| Uma vez por dia = 1 | ||||
| Nunca = 0 | ||||
| Método de escovagem | Escovagem + Fio dentário + Elixir = 4 | 19 | ||
| Escovagem + Fio dentário = 3 | ||||
| Escovagem + Elixir = 3 | ||||
| Escovagem = 2 | ||||
| Fio dentário = 0 | ||||
| Elixir = 0 | ||||
| Fio dentário + Elixir = 0 | ||||
| Tempo de escovagem | De 2 a 5 minutos = 3 | 22 | ||
| Mais de 5 minutos = 2 | ||||
| Menos de 2 minutos = 0 | ||||
| Método de Higiene oral | Escova dentes, língua e gengivas = 4 | 21 | ||
| Escova dentes e língua = 2 | ||||
| Escova dentes e gengivas = 2 | ||||
| Escova somente dentes = 1 | ||||
| VIGILÂNCIA MÉDICO-DENTÁRIA VIGILÂNCIA MÉDICO-DENTÁRIA | Consulta médica | Sim = 2 | 23 | |
| Não = 0 | ||||
| Frequência anual da consulta médica | Sim = 2 | 24 | ||
| Não = 0 | ||||
| Ingestão de flúor | Sim = 2 | 28 | ||
| Não = 0 | ||||
| SINTOMATOLOGIA | Dor/sensibilidade dos dentes | Sim = 0 | 26 | |
| Não = 2 | ||||
| Tártaro nos dentes | Sim = 0 | 27 | ||
| Não = 2 | ||||
| Sangramento das gengivas | Sim = 0 | 25 | ||
| Não = 2 | ||||
| Dentes cariados | Sem cáries = 3 | 29 | ||
| Com uma cárie = 1 | ||||
| Com mais que uma cárie = 0 | ||||
| Dentes extraídos | Sem cáries = 3 | 30 | ||
| Com uma cárie = 1 | ||||
| Com mais que uma cárie = 0 | ||||
| Dentes chumbados | Sem cáries = 3 | 31 | ||
| Com uma cárie = 1 | ||||
| Com mais que uma cárie = 0 |
O cálculo básico da escala consiste numa soma simples dos pontos atribuídos. Esta escala apresenta uma cotação mínima de 0 pontos sendo a máxima de 40 pontos, de acordo com as cotações apresentadas na tabela.
De acordo com a pontuação atribuída a escala pode ser dividida em:
- Saúde Oral Má = ≤ Х - 0,25 dp
- Saúde Oral Razoável = › Х - 0,25dp ‹ Х + 0,25 dp
- Saúde Oral Boa = ≥ Х + 0,25 dp
Idade
De acordo com o COSTA e MELO (1987), a idade é o número de anos que um indivíduo ou animal conta desde que nasce até à época em que ou de que se fal.
Dentro do nosso estudo, utilizamos o critério “idade” para caracterizar o grupo populacional. O período de vida que considerámos no nosso estudo, foi o referido por MONTEIRO e SANTOS (1996, vol.1), segundo o qual a adolescência vai dos 12/13 a 18/20 anos. Para a nossa amostra considerámos somente os adolescentes que frequentam o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade.
Tal como a variável referida anteriormente, a idade também é considerada como uma variável atributo. No nosso estudo elaboramos uma pergunta aberta que corresponde à questão número dois da primeira parte do nosso questionário. As idades serão apresentadas em classes tendo por base a amplitude de variação encontrada.
Sexo
SILVA (1990) diz que “ a especificação na organização, com formação particular do ser vivo que lhe permite uma função ou papel no acto da geração que lhe garante a diferença constitutiva dos indivíduos machos em relação às fêmeas ou das fêmeas em relação aos machos” é denominada por sexo.
Pode ser classificado em:
- Masculino
- Feminino
O sexo é considerado uma variável atributo (características da entidade que é investigada) e dicotómica, como tal, a sua operacionalização engloba duas características: masculino e feminino, tendo sido para o efeito elaborada uma pergunta fechada correspondente à questão número um da primeira parte do nosso questionário.
Local de residência
MACHADO (1981) defina área de residência como sendo o “território que pelos seus caracteres se distingue dos outros e residência como morada habitual num determinado lugar”.
Segundo o mesmo autor, aquilo que é relativo ou pertencente ao campo ou à vida agrícola é denominado de rural; pelo contrário, o urbano está relacionado com a cidade.
De forma a operacionalizar esta variável seleccionamos como locais de residência a aldeia, vila e cidade. Sendo assim, elabora-mos duas perguntas fechadas que correspondem à terceira e quarta questões da primeira parte do nosso instrumento de colheita de dados, em que a primeira se refere ao local de residência durante o tempo de aulas e a outra, ao local de residência fora do tempo de aulas.
Ano de escolaridade
Para COSTA e MELO (1987) a escolaridade é a frequência ou permanência na escola.
A designação de ano escolar é usada para a situação escolar de uma pessoa. A variável será quantificada através de três categorias: 10º, 11º e 12º anos, tendo sido elaborada uma pergunta fechada correspondente à questão número cinco da primeira parte do nosso questionário.
Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo Nacional, (DECRETO/LEI nº. 46/86 de 14 de Outubro) o ensino secundário tem a duração de três anos e compreende 10º, 11º e 12º anos de escolaridade.
Condição sócio-económica (Escala de Graffar)
Para COSTA e MELO (1996), o nível sócio-económico “é a situação média de um grupo ou camada social, no que diz respeito à maneira de satisfazer as necessidades básicas de vida”.
No nosso estudo, para operacionalização desta variável recorremos ao Índice de Grafar (SOUSA, 1999). Este baseia-se na avaliação de características socio-económicas da família, tais como a profissão, nível de instrução, fontes de rendimento familiar, conforto do alojamento e aspecto do bairro onde habita a família. Cada dimensão é composta por cinco indicadores, aos quais é atribuída uma pontuação de 1 a 5. Da soma das pontuações obtidas é encontrado um valor que será agrupado segundo o nível sócio-económico que obedece à seguinte categorização:
Soma da pontuação Nível sócio-económico
05 - 09 Classe alta
10 - 13 Classe média alta
14 - 17 Classe média
18 - 21 Classe média
22 - 25 Classe baixa
A validade e a significância desta escala foram analisadas por SITKEWICH e GRUNBERG (1979) cit. in SOUSA (1999).
Esta escala corresponde à terceira parte do nosso questionário, englobando as perguntas: 1, 2, 3, 4 e 5 respectivamente.
Autoconceito
SERRA (1986), define o autoconceito, como a percepção que um indivíduo tem de si próprio nas mais variadas facetas, sejam elas de natureza social, emocional, física ou académica.
Para operacionalizar esta variável será usado o Inventário Clínico de Autoconceito como parte integrante do questionário a ser entregue à amostra.
Este Inventário incide sobre:
|
|
| Impulsividade/ |
F1=1+4+9+16+17 F2=3+5+8+11+ F3=2+6+7+13 F4=10+15+19
18+20
Ftotal= F1+F2+F3+F4
Ainda de acordo com SERRA (1986), o Inventário Clínico de Auto-Conceito trata-se, “.. uma escala de avaliação de aspectos emocionais e sociais de auto-conceito, designada para especial aplicação à clínica. (…) constituída por 20 questões, que podem ser cotadas de 1 a 5, está elaborada de forma a que, quanto mais alta a pontuação obtida, melhor é o auto-conceito do indivíduo”.
A escala apresenta cinco possibilidades de resposta, diferenciadas em termos de, “Não concordo”, “Concordo pouco”, “Concordo moderadamente”, “Concordo muito” e “Concordo muitíssimo”.
Esta escala está dividida em quatro dimensões, às quais corresponde um determinado factor:
• FACTOR 1- Aceitação/Rejeição Social: F1= 1+4+9+16+17;
• FACTOR 2 – Auto-Eficácia: F2= 3+5+8+11+18+20;
• FACTOR 3 – Maturidade-Psicológica: F3= 2+6+7+13;
• FACTOR 4 – Impulsividade-Actividade: F4=10+15+19;
Por sua vez a soma destes factores dá-nos, o F Total que corresponde ao Auto-Conceito, está elaborado para que, quanto mais alta a pontuação obtida, melhor é o auto-conceito do indivíduo.
F Total= F1+F2+F3+F4
Padrão alimentar
O padrão alimentar é uma característica que persiste ao longo da nossa vida, fruto da influência que o nosso meio desempenha em nós. Para GIFFT et al (1972) “…o padrão alimentar, pode ser definido como actos repetitivos característicos desempenhados sob o ímpeto da necessidade de providenciar alimento e satisfazer uma variedade de objectivos sociais e emocionais.”
Para este trabalho caracterizou-se um padrão alimentar ideal, baseado no número de refeições e no tipo de alimentos ingeridos. O padrão alimentar ideal está descrito em diversa literatura, sendo que os autores criaram, para comparação, um padrão alimentar razoável é um padrão mau.
N.º de refeições
Segundo FERREIRA (1994), as refeições devem ser divididas em 4 ou 5. Tendo em conta que a população em estudo está em idade e actividade escolar, assume-se que cinco, é o número mínimo de refeições a ser feito, sendo este considerado o valor ideal.
Os autores consideram que três ou quatro refeições por dia é razoável e um número de refeições <=2 é mau. Assim, para operacionalizar o número de refeições criaram-se grupos de acordo com o estatuto de: bom, razoável e mau. Esses grupos ficaram descritos como grob233, tal como mostra o seguinte esquema:
GROB233 (Classificação de padrões alimentares quanto ao número de refeições)
Nº de refeições Qualificação
<=2 Mau
3-4 Razoável
>4 Bom
Tipo de Alimentos
Ainda segundo FERREIRA (1994), as refeições diárias devem ser ricas em leite e derivados, cereais, peixe/carne, fruta, contendo sempre sopa. Assim, tomou-se como ideal, o padrão que contenha todos estes elementos, ou que omita no máximo um dos referidos grupos.
Os autores consideram razoável, que o padrão alimentar dos jovens em estudo omita, diariamente dois ou três dos grupos de alimentos, sendo que quando for omitido mais que três dos grupos de alimentos será qualificado como mau.
Para tal foram criados grupos, com a denominação de grdia, que, em função do n.º dos principais grupos de alimentos não ingeridos por dia, se qualificaram como bom, razoável e mau:
GRDIA (Classificação do padrão alimentar quanto ao tipo de alimentos ingeridos)
N.º de grupos em falta Qualificação
0-1 Bom
2-3 Razoável
>3 Mau
Por fim, para qualificar o padrão alimentar em si, criaram-se grupos (GRPADALI), que combinava os grupos grob233 e grdia, qualificando o padrão alimentar como Bom, Razoável ou mau, de acordo com o esquema:
GROB233 GRDIA GRPADALI
Bom Bom Bom
Razoável Razoável Razoável
Razoável Bom Razoável
Bom Razoável Razoável
Razoável Mau Mau
Bom Mau Mau
Mau Mau Mau
Mau Bom Mau
Mau Razoável Mau
Caracterizamos o padrão alimentar, baseando-nos no número de refeições e no tipo de alimentos ingeridos. Para a operacionalização desta variável, foram criados dois grupos, um relativo ao número de refeições, e outro relativo ao tipo de alimentos ingeridos.
Quanto ao Nº de refeições:
Para obter o número de refeições, criou-se uma questão aberta, onde se pede para indicar o número diário de refeições.
Segundo FERREIRA (1994), as refeições devem ser divididas em 4 ou 5 diárias, sendo estes valores (n.º de refeições >=4) considerados por nós, como os valores de referência para o padrão ideal (Bom).
Consideramos que um número de refeições ≥ 2 e < 4 é Razoável e um número de refeições <2 é Mau.
Quanto ao Tipo de Alimentos Ingeridos:
De modo a averiguar qual o tipo de alimentos ingeridos criou-se uma questão fechada, em que se apresentam 34 dos alimentos mais comuns na dieta portuguesa, e se pede para assinalar, qual a frequência com que os ingerem: Por dia, Por Semana, Por Mês ou Nunca Consumiu.
Ainda segundo FERREIRA (1994), as refeições diárias devem ser ricas em leite e derivados, cereais, peixe/carne, fruta, contendo sempre sopa.
Assim, toma-se como Bom, o padrão alimentar que contenha todos estes elementos diariamente, ou quando falta, no máximo, um dos grupos de alimentos.
Consideramos Razoável, o padrão alimentar dos jovens em estudo que contenha todos estes alimentos, faltando diariamente apenas 2 ou 3 grupos de alimentos.
E como Mau, quando o indivíduo negligência mais do que três dos grupos de alimentos diariamente.
Sendo assim, após classificados o número de refeições e o tipo de alimentos ingeridos, com estes indicadores elaborou-se uma escala para classificação do padrão alimentar dos adolescentes, de forma a permitir o tratamento desta variável, de acordo com as possíveis combinações:
Quadro 5 – Classificação do Padrão Alimentar
| Número de refeições | |||
| Tipo de Alimentos Ingeridos | BOM | RAZOÁVEL | MAU |
| BOM | Padrão Alimentar Bom | Padrão Alimentar Razoável | Padrão Alimentar Mau |
| RAZOÁVEL | Padrão Alimentar Razoável | Padrão Alimentar Razoável | Padrão Alimentar Mau |
| MAU | Padrão Alimentar Mau | Padrão Alimentar Mau | Padrão Alimentar Mau |
Qualidade de vida
O conceito de qualidade de vida é um conceito extremamente difícil de definir devido à sua subjectividade, isto porque está ligado ao estado de felicidade e de bem-estar, que por sua vez são também conceitos subjectivos pois variam com a cultura, estrato social e personalidade de cada um.
Ao longo dos tempos a qualidade de vida tem sido abordada por diferentes autores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida é definida como sendo “...uma percepção individual da sua posição na vida no contexto da sua cultura e do seu sistema de valores relativa aos seus objectivos, aos seus êxitos, aos seus padrões. É um conceito que integra de forma complexa a saúde física da pessoa, o seu estado psicológico, o seu nível de independência, as suas relações sociais, as suas crenças pessoais e as suas relações com os acontecimentos do meio ambiente.” (O.M.S 1993, cit in GUIMARÃES, 2000, p.35).
A qualidade de vida foi operacionalizada e avaliada de acordo com a escala de qualidade de vida SF-36 (Short Form 36).
“ A SF-36 é considerada uma medida genérica da saúde uma vez que se destina a medir conceitos de saúde que representam valores humanos básicos relativos à funcionalidade e bem-estar de cada um” (WARE, 1990, cit in FERREIRA, 1998, p.11). É de fácil utilização, não só pela sua relativa funcionalidade e robustez psicométrica mas também porque o seu conteúdo se refere tanto à saúde física como mental.
Este instrumento de medição de qualidade de vida foi adaptado culturalmente para português, validado e aplicado pelo Prof. Doutor Pedro Lopes Ferreira da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra a partir da Health Insurance Experiment. É um instrumento que pode ser administrado a qualquer indivíduo com 14 anos ou mais desde que possua capacidade para ler, podendo ser auto-administrado ou administrado por um entrevistado (FERREIRA, 1998).
É constituído por um questionário standartizado, composto por 36 itens agrupados em 8 dimensões: função física, desempenho físico, dor física, saúde mental, função social, vitalidade e saúde em geral.
|
A escala correspondente à função física pretende medir desde a limitação para executar actividades físicas menores (tomar banho ou vestir-se) até actividades mais exigentes passando por actividades intermédias (levantar, carregar compras, andar determinadas distâncias) (FERREIRA, 1998).
As escalas de desempenho medem a limitação em saúde em termos do tipo e da quantidade de trabalho executado, a necessidade de redução da qualidade do trabalho executado e a dificuldade em realizar tarefas, (FERREIRA, 1998).
As escalas da dor representam a intensidade e o desconforto causado pela dor mas também a forma como interfere nas actividades usuais.
A escala da saúde geral pretende medir o conceito da percepção holística da saúde, incluindo a saúde actual, a resistência à doença e a aparência saudável.
A escala referente à vitalidade inclui os níveis de energia e de fadiga. Segundo WARE cit in FERREIRA (1998), permite captar melhor as diferenças de bem-estar.
A escala da funcionalidade social pretende captar a quantidade e a qualidade das actividades sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e emocionais nas actividades sociais do respondente.
A escala da saúde mental inclui questões referentes a quatro das mais importantes dimensões da saúde mental, sendo elas as seguintes: a ansiedade, depressão, a perda de controlo em termos de comportamentais ou emocionais e o bem-estar psicológico, (FERREIRA, 1998).
Estas 8 escalas (domínios) podem ser agrupadas em 2 conceitos (saúde física e saúde mental), (FERREIRA, 1998).
A escala SF – 36 encontra-se na quarta parte do nosso questionário.
Quadro 6 – Cálculo dos Scores para a Qualidade de Vida
| DIMENSÃO | QUESTÕES | VALORES FORMULÁRIO | VALORES ATRIBUÍDOS PARA O CÁLCULO |
| Função Física | 3a , 3b, 3c, 3d, 3f,3h,3i e 3j | 1 2 3 | 1 2 3 |
| Desempenho Físico | 4a , 4b, 4c e 4d | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| Dor Física | 7 8 | 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 | 6,0 5,4 4,2 3,1 2,2 1,0 5 4 3 2 1 |
| Saúde em Geral | 11a , 11b, 11c, 11d 2 1 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 5,0 4,4 3,4 2,0 1,0 |
| Vitalidade | 9a , 9c 9g e 9i | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 |
| Função Social | 6 e 10 | 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 |
| Desempenho Emocional | 5a , 5b, 5c | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
| Saúde Mental | 9d, 9h 9b e 9c | 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 |
Fonte: FERREIRA, Pedro Lopes – A Medição do Estado de Saúde: Criação da Versão Portuguesa de MOS SF – 36 – (1998)
As várias escalas contêm de 2 a 10 itens, e são pontuadas através do método de Likert.
O cálculo básico da escala SF-36 consiste numa soma simples dos pontos atribuídos. Considera-se para o efeito a pontuação mínima possível e a pontuação máxima dessa questão, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo e aplica-se a seguinte fórmula:
|
(soma – mínimo) x 100
mínimos e máximos)
Quanto mais a pontuação se aproximar de 100% melhor a qualidade de vida, em contra partida, quanto mais se aproximar de 0% pior será a qualidade de vida (FERREIRA, 1998)
Nesta perspectiva, a qualidade de vida pode ser classificada como:
- Muito satisfatória, se pontuação> 75% <100%
- Satisfatória, se> 50% <75%
- Não satisfatória, se <50%.
1.4 - INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS
Segundo FORTIN (1999), a colheita de dados pode ser efectuada de diversas formas junto da população alvo. A mesma autora refere ainda que cabe ao investigador determinar qual o tipo de instrumento de medida que se deve aplicar levando em conta a sua adaptação ao objectivo de estudo, às questões de investigação colocadas ou às hipóteses formuladas.
Para a realização do nosso estudo optamos pela elaboração e aplicação de um protocolo constituído por um questionário e escalas. FORTIN (1999) diz que este protocolo permite traduzir os objectivos de um estudo, medir as variáveis, controlar os dados e os enviesamentos para que a informação se torne rigorosa, fidedigna e válida. O questionário é um método de colheita de dados no qual as respostas são escritas pelos próprios indivíduos, sem assistência. FORTIN (1999), refere que a utilização do questionário é vantajosa, visto ser pouco dispendioso, dispensa grande preparação por parte de quem o aplica, abrange um grande número de pessoas, mesmo que estas se encontrem dispersas, tem uma apresentação uniformizada, assegurando a fidelidade do estudo e permite o anonimato das respostas.
O protocolo realizado neste estudo é composto por seis partes:
| I Parte - | Questionário para caracterização da amostra, composto por questões, abertas, fechadas e mistas. |
| II Parte - | Escala de Graffar elaborada pelo Professor Graffard citada por CARDOSO (1999, s.d.), tendo como fonte PEDRO, João Carlos Gomes- A relação mãe-filho: Influência do contacto precoce no comportamento da díade. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1985. |
| III Parte - | Escala SF-36, traduzida e validada para a população portuguesa pelo Professor Doutor Pedro Ferreira, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Director Adjunto do Instituto de Qualidade. |
| IV Parte - | Escala de Autoconceito segundo o Inventário Clínico de Autoconceito, elaborada por Antonio Vaz Serra, (1986), |
| V Parte - | Somatório de Padrões Alimentares elaborada por alunos responsáveis pelo trabalho do padrão alimentar, Viseu, (2003) |
| VI Parte - | Escala de saúde Oral elaborada por nós, Viseu, (2003). |
1.5 - AMOSTRA POPULACIONAL
A população é “uma colecção de elementos ou sujeitos que partilham características comuns definidas por um conjunto de critérios”, (FORTIN, 1999, p. 202).
Noutros estudos não é comummente usada toda a população mas somente uma amostra representativa da mesma por motivos, dada a dimensão das populações em estudo. Por este motivo recorremos a uma amostra que para POLIT e HUNGLER (1995) “ é um subconjunto de entidades que compõem a população”. A amostra deve-se comportar como a população ou possuir características análogas devendo por isso ser representativa da população em estudo para permitir a extrapolação dos dados para a população em geral.
Nesta perspectiva, a amostra que serve de base para a realização do nosso estudo é formada pelos alunos a frequentar o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade no distrito de Viseu, com escolha de algumas turmas de escolas secundárias dos 24 concelhos deste distrito aos quais foram aplicados os questionários.
A amostragem utilizada será não probabilística por conveniência (intencional), dado que nem todos os elementos da população possuem a mesma possibilidade de serem seleccionados, tendo sido retirada uma amostra intencional de cada subgrupo da população (FORTIN, 1999).
1.6 - TRATAMENTO ESTATÍSTICO
O tratamento estatístico é, actualmente, o método mais adequado para interpretar os dados obtidos em estudos deste género.
De acordo com POLIT e HUNGLER (1995), os dados recolhidos da pesquisa não correspondem, por si só, às inadequações da pesquisa, nem testam as suas hipóteses. Todos os dados precisam de ser processados e analisados de forma a serem detectados tendências e padrões de relação.
Por sua vez para TUCKMAN (2000), os testes estatísticos constituem uma grande ajuda para a interpretação dos dados. É através da análise estatística que um investigador pode comparar grupos de dados, de modo a determinar qual a probabilidade da diferença entre eles, proporcionando assim as provas para ajuizar a validade de uma hipótese.
Após a colheita de dados, efectuámos uma primeira análise a todos os instrumentos no intuito de eliminarmos aqueles que porventura se encontrassem incompletos ou mal preenchidos, o que não se veio a verificar. Seguidamente, procedemos à codificação e tabulação de modo a prepararmos o tratamento estatístico.
Para este recorremos à estatística descritiva e analítica.
Em relação à estatística descritiva determinámos:
· Frequências absolutas e percentuais.
· Medidas de tendência central:
– Média (X);
– Moda (Mo).
· Medidas de dispersão:
– Desvios padrão;
– Coeficiente de variação.
O coeficiente de variação, de acordo com o que FORTIN (1999), permite-nos comparar a variabilidade de duas variáveis. No quadro 4 está descrito o grau de dispersão em função do coeficiente de variação encontrado, de acordo com D`HAINAUT (1975).
Quadro 7 - Grau de dispersão em função do coeficiente de variação
| Coeficiente de variação | Grau de dispersão |
| 0% – 15% | Dispersão baixa |
| 15% - 30% | Dispersão moderada |
| > 30% | Dispersão alta |
Apesar do nosso questionário ser constituído por algumas variáveis categoriais nominais (ano de escolaridade, sexo e local de residência), é também constituído por variáveis ordinais (idade, nível sócio-económico, autoconceito, qualidade de vida, padrão alimentar e a nossa variável dependente - saúde oral), os somatórios e as médias destas podem ser tratadas estatisticamente como se fossem medidas intervalares e, por isso, susceptíveis de análise por testes paramétricos (KIESS e BLOOMQUIST, 1985).
Assim, no que respeita à estatística analítica utilizámos, para testarmos as hipóteses apresentadas:
· Teste Kolmogorov-Sminorv como teste da normalidade da distribuição da variável dependente;
· Teste t de Student para amostras independentes, correlação de PEARSON e análise de variância (ANOVA) também para amostras independentes;
· Regressão Múltipla do tipo “Stepwise” usada para análises multivariadas, sobretudo quando se pretende estudar mais que uma variável independente em simultâneo com uma variável dependente.
A apresentação dos resultados é feita através de tabelas e gráficos, onde serão salientados os dados mais relevantes e nos quais omitiremos a fonte pelo facto de terem sido obtidos através do instrumento de colheita de dados por nós elaborado.
A descrição e análise dos dados serão feitas obedecendo à ordem por que foi elaborado o formulário.
Nas análises estatísticas utilizamos os seguintes valores de significância:
· p<0,05 *– diferença estatística significativa;
· p<0,01 **– diferença estatística bastante significativa;
· p<0,001 ***– diferença estatística altamente significativa;
· p>0,05 – diferença estatística não significativa.
Todo o tratamento estatístico processou-se através dos programas Excel e SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCE) 10.0® para o WINDOWS®.
2- ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS
2.1 – ANÁLISE DESCRITIVA
Os dados que apresentamos referem-se aos resultados obtidos pela aplicação de um questionário, tendo sido inquiridos 1198 alunos do ensino secundário do distrito de Viseu.
Segundo FORTIN (1999), analisar é decompor um todo nos seus elementos constituintes. Ou seja: o espírito vai do complexo para o simples, a fim de examinar cada um dos componentes, sempre com o objectivo de propor uma explicação para um determinado fenómeno.
“Os dados de uma pesquisa constituem elementos de informação obtidos durante a investigação” (POLIT e HUNGLER, 1995, p. 28) e são “o resultado dos valores reais das variáveis em estudo”.
Contudo, no entender das mesmas autoras, os dados, per sí, não respondem às questões da pesquisa. Para que isso aconteça, estes precisam de ser processados e analisados de uma forma ordenada e coerente.
No processo de análise, o investigador destaca um perfil das características dos sujeitos, determinadas com a ajuda de testes estatísticos apropriados ou com análise de conteúdo.
As análises estatísticas abrangem uma ampla gama de técnicas, de procedimentos simples, até outros mais complexos e sofisticados (POLIT e HUNGLER, 1995).
Na apresentação dos resultados do nosso estudo e como já referimos, optámos por reproduzir os dados organizados em tabelas e gráficos, isto porque, tal como CERVO e BERVIAN (1993), consideramos que:
· Permitem a concentração do maior número possível de informação no menor espaço;
· Permitem a visualização dos fenómenos através da representação material figurada;
· Facilitam uma melhor comparação dos dados.
Sempre que se refiram aos mesmos dados, procederemos à análise conjunta de quadros e gráficos, cujas fontes, bem como o local e data, serão omitidos uma vez que a população, a fonte e o instrumento de colheita de dados é sempre a mesma.
Escola
A tabela 1 e o gráfico 1 referem-se à distribuição dos alunos segundo a escola que frequentam, nomeadamente as frequências absolutas e percentuais. Da sua análise podemos constatar que 22,2% do total da nossa amostra frequentam a Escola Secundária de Castro Daire, seguido da Escola Secundária de S. Pedro do Sul e de Cinfães do Douro, com 18,7% e 18,5%, respectivamente.
Por outro lado podemos observar que a Escola Secundária de Mangualde é a menos representativa, com apenas 0,5% do total de alunos em estudo.
Tabela 1 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo a escola que frequentam
Escola | N.º | % |
| Resende Mangualde Carregar do Sal S. J. da Pesqueira S. Pedro do Sul Mortágua Castro Daire Lamego Moimenta da Beira Cinfães do Douro Viseu | 41 6 58 69 224 160 266 50 38 222 64 | 3,4 0,5 4,8 5,8 18,7 13,4 22,2 4,2 3,2 18,5 5,3 |
Total | 1198 | 100,0 |
Mo – Castro Daire
Gráfico 1 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo a escola que frequentam
Ano de escolaridade
No que se refere ao ano de escolaridade, os resultados inserem-se na tabela 2 e no gráfico 2. Da sua análise, verificámos que 40,7% são alunos a frequentar o 10º ano, 28,0% o 11º ano e 31,3% frequentam o 12º ano.
É de notar que o maior número de alunos inquiridos são do 10º ano, ocorrendo isto, talvez pelo facto de este ser o ano consecutivo à escolaridade obrigatória (9º ano).
|
Ano de escolaridade | N | % |
| 10º ano 11º ano 12º ano | 487 336 375 | 40,7 28,0 31,3 |
| Total | 1198 | 100,0 |
Mo – 10º ano
Idade
A idade dos alunos inquiridos por nós oscila entre os 15 e os 22 anos, sendo a média de 16,76 anos e o desvio padrão de 1,24 anos.
O coeficiente de variação denota uma dispersão baixa em função do valor médio (7,39 %).
Tabela 3 - Estatísticas relativas aos valores obtidos na saúde oral relativamente ao sexo dos alunos inquiridos
Idade | N | Média | Dp | C.v. | Mín. | Máx. |
| 1198 | 16,76 | 1,24 | 7,39 | 15 | 22 |
Tendo em conta a magnitude de variação encontrada, efectuamos o seu agrupamento em classes e, como notámos, observando a tabela 4 e o gráfico 3, o grupo etário com idades iguais ou inferiores a 16 anos é o mais representativo, com 44,6% do total da amostra, seguido dos alunos com 17 anos, 30,3%, sendo o grupo etário com idades iguais ou superiores a 18 anos, o menos representado, com 25,1%.
Analisando agora mais em particular, e em função do sexo, podemos ver que no sexo masculino, 47,1% têm idades iguais ou inferiores a 16 anos, 27,4% têm 17 anos e 25,6% possuem idade igual ou superior a 18 anos. A distribuição para o sexo feminino mostrou-se ser bastante semelhante, com 42,8% para o primeiro escalão, 32,4% para o segundo e por último, 24,8% para o terceiro escalão, nomeadamente alunos com idade igual ou superior a 18 anos.
Tabela 4 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo a idade em função do sexo
SexoGrupo etário | Masculino | Feminino | Total | |||
| N | % | N | % | N | % | |
| ≤16 anos 17 anos ≥18 anos | 234 136 127 | 47,1 27,4 25,5 | 300 227 174 | 42,8 32,4 24,8 | 534 363 301 | 44,6 30,3 25,1 |
Total | 497 | 100,0 | 701 | 100,0 | 1198 | 100,0 |
Classe Modal – ≤16 anos
Gráfico 3 – Distribuição dos inquiridos segundo a idade
Sexo
Uma outra variável que nos permite caracterizar a saúde oral é o sexo. Constatamos que 58,5% dos alunos inquiridos são do sexo feminino e 41,5% são do sexo masculino (tabela 5, gráfico 4).
Tabela 5 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o sexo
SEXO | N | % |
MasculinoFeminino | 497 701 | 41,5 58,5 |
| Total | 1198 | 100,0 |
Mo – Feminino
Gráfico 4 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o sexo
Local de residência (em tempo de aulas e fora do tempo de aulas)
A tabela 6 e o gráfico 5 referem ao local de residência dos alunos quer em tempo de aulas, ou fora do tempo de aulas.
Analisando o local de residência dos alunos em tempo de aulas verificámos que, 59,2% dos alunos residem em aldeia, seguido de 35,8% em vila e apenas 5,0% na cidade.
Fora do tempo de aulas verificamos uma ligeira deslocação dos alunos para a aldeia (66,5%) e cidade (7,4%) em detrimento da vila (26,0%)
Tabela 6 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o local de residência em função da época ou não de aulas
ÉpocaLocal de res. | Em tempo de aulas | Fora do tempo de aulas | ||
| N | % | N | % | |
| Aldeia Vila Cidade | 709 429 60 | 59,2 35,8 5,0 | 797 312 89 | 66,5 26,0 7,5 |
Total | 1198 | 100,0 | 1198 | 100,0 |
Mo - Aldeia
Gráfico 5 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o local de residência em função da época ou não de aulas
Nível sócio-económico (escala de Graffar)
A apreciação subjectiva dos alunos sobre o nível sócio-económico, foi avaliada através da escala de Graffar que é constituída, conforme já referimos, por cinco dimensões (profissão, nível de instrução, rendimentos familiares, conforto de habitação e aspectos do bairro habitado). Do somatório de todos os itens que constituem a escala de Graffar, obtivemos um valor mínimo de 7 e um máximo de 24, sendo a média 15,12, o desvio padrão de 2,81 e o coeficiente de variação de 15,60 que denota uma dispersão moderada em torno do valor médio.
Tabela 7 - Estatísticas relativas aos valores obtidos na escala de avaliação do nível sócio económico (escala de Graffar)
Nível Sócio-económico (Escala de Graffar) | N | Média | Dp | C.v. | Mín. | Máx. |
| 1198 | 15,12 | 2,81 | 15,60 | 7 | 24 |
Na tabela 8 e o gráfico 6, apresentamos o nível sócio-económico de acordo com a pontuação obtida. Com a sua análise, observamos que a classe média é a mais representativa com 58,3% da amostra, seguida da classe média alta e classe média baixa, com 18,8% e 17,0%, respectivamente. A classe alta tem pouca expressão, representando apenas com 5,4%, bem como a classe baixa, com 0,5% da nossa amostra.
Tabela 8 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o nível sócio-económico
Classe Social | N | % |
| Classe alta Classe média alta Classe média Classe média baixa Classe baixa | 65 225 698 204 6 | 5,4 18,8 58,3 17,0 0,5 |
| Total | 1198 | 100,0 |
Mo – Classe média
Autoconceito
A escala do autoconceito avalia tal como já mencionámos, a percepção que um indivíduo tem de si próprio nas mais variadas facetas, sejam elas de natureza social, emocional, física ou académica, tendo sido por esse motivo aplicada.
Dado o assumir de valores muito variados pelos resultados, optámos por apresentar apenas os valores mínimo, máximo e médio observados e comparar com o mínimo e máximo esperados. Estes valores máximos e mínimos observados dizem respeito á pessoa ou pessoas que apresentaram os valores mais baixos na soma das respostas. Apresentamos também o desvio padrão e o coeficiente de variação para dar a ideia da dispersão dos dados e a média percentual que nos dá uma ideia em termos de percentagem do autoconceito dos alunos.
Então, e observando a tabela 9, é notório o baixo valor das respostas; em média os valores ficam muito aquém dos totais esperados. Facto muito visível para a soma dos itens em que a média foi de 63,88 quando o valor máximo atingível era de 100 e para a média percentual que fica abaixo dos 65%, encontrando-se um valor mínimo muito próximo dos limites inferiores.
O coeficiente de variação denota uma dispersão baixa em torno do valore médio, respectivamente, 11,58%, facto pelo qual podemos afirmar que os valores atingidos pelos inquiridos não se afastam muito do valor médio encontrado, o que vêm complementar o referido.
Tabela 9 – Estatísticas relativas à escala de avaliação do autoconceito dos alunos inquiridos
Autoconceito | N | Média | Média% | Dp | C.v. | Mín. | Mín. Esp. | Máx. | Máx. Esp. |
| 1198 | 63,88 | 63,88% | 7,40 | 11,58% | 18 | 0 | 90 | 100 |
Qualidade de Vida (SF-36)
A escala “Short Form 36 (SF – 36) ”, tal como já referimos, permite a avaliação da qualidade de vida, tendo sido por esse motivo aplicada.
Uma vez que a escala utilizada se apresenta dividida em várias dimensões, a análise dos totais das médias e as médias percentuais de cada dimensão revelam-nos qual a tendência média de respostas dos indivíduos estudados (tabela 10).
É notório o elevado valor das respostas, em média os valores ficam próximos dos limites máximos. Facto muito visível para a Função Física, Desempenho Físico, Dor Corporal, Saúde Geral, Desempenho Emocional e Saúde Mental em que as médias percentuais são muito elevadas ultrapassando os 75,00%.
Não passa no entanto, despercebido o facto de que para a Vitalidade e Função Social as médias e médias percentuais atingirem valores mais baixos.
Tabela 10 - Estatística das dimensões da SF – 36
Dimensão | Média | Média Percentual (%) | S | Cv (%) | Mín. | Máx. |
| Função física | 27,22 | 90,73 | 4,32 | 15,87 | 10 | 30 |
| Desempenho físico | 15,85 | 79,25 | 3,50 | 22,08 | 4 | 20 |
| Dor corporal | 8,61 | 78,27 | 2,04 | 23,93 | 2 | 11 |
| Saúde geral | 15,63 | 78,15 | 1,80 | 11,51 | 6 | 24 |
| Vitalidade | 13,81 | 52,76 | 3,00 | 21,72 | 4 | 20 |
| Função social | 7,71 | 64,25 | 1,06 | 13,75 | 4 | 12 |
| Desempenho emocional | 11,59 | 77,26 | 2,82 | 24,33 | 3 | 15 |
| Saúde mental | 18,03 | 72,12 | 4,13 | 22,09 | 5 | 25 |
Os resultados da aplicação da referida escala, encontram-se na tabela 11. Analisando então os resultados encontrados (no total dos alunos da nossa amostra), e no que se refere a uma qualidade de vida muito satisfatória, a máxima frequência verificou-se na Função Física, com 82,8% dos alunos e a mínima de 1,5% na Saúde Geral. A frequência de alunos que encontrou uma qualidade de vida satisfatória, oscilou entre um mínimo de 8,5% na Função Física e máxima de 87,0% na Função Social. Por fim, os alunos que revelaram uma qualidade de vida não satisfatória oscilaram entre 8,7% para a Função Física, e 31,3% para a Saúde Geral.
| N.º | % | ||
Função FísicaMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 992 102 104 | 82,8 8,5 8,7 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Desempenho FísicoMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 700 362 136 | 58,4 30,2 11,4 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Dor CorporalMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 626 365 207 | 52,3 30,5 17,3 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Saúde GeralMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 18 805 375 | 1,5 67,2 31,3 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
VitalidadeMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 363 587 248 | 30,3 49,0 20,7 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Função SocialMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 45 1042 111 | 3,8 87,0 9,3 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Desempenho EmocionalMuito satisfatórioSatisfatório Nada satisfatório | 659 381 158 | 55,0 31,8 13,2 | ||
Total | 1198 | 100,0 | ||
Saúde MentalMuito satisfatóriaSatisfatória Nada satisfatória | 497 460 241 | 41,5 38,4 20,1 | ||
Total | 1198 | 100,0 |
Padrão alimentar
De acordo com os critérios adoptados para a elaboração de escalas, foi elaborada uma escala que permite avaliar o padrão alimentar, tendo por esse motivo sido aplicada.
A tabela 12 e o gráfico 7 evidenciam assim o padrão alimentar dos alunos inquiridos. Pela sua análise verificamos que a grande maioria da amostra inquirida (78,0%), apresenta um padrão alimentar razoável (78,0%). Com um bom padrão alimentar, apenas encontramos 14,9% da nossa amostra.
É ainda de realçar, felizmente, o facto de apenas 7,1% dos inquiridos apresentar um mau padrão alimentar.
Tabela 12 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o padrão alimentar
Padrão alimentar | N | % |
| Bom Razoável Mau | 179 934 85 | 14,9 78,0 7,1 |
| Total | 1198 | 100,0 |
Mo – Razoável
Gráfico 7 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo o padrão alimentar
Saúde Oral
Tal como já referimos, a avaliação da saúde oral dos adolescentes foi obtida através de uma escala de saúde oral.
Assim, e de acordo com a tabela 13, determinámos para cada um dos sexos as sua estatísticas e verificamos que, os scores observados para o sexo masculino oscilaram entre os 12 e 34, mínimo e máximo respectivamente; enquanto que para o sexo feminino os mesmos foram de 12 e 36. Quanto aos valores médios, notámos que estes apresentavam valores ligeiramente superiores no sexo feminino (médias respectivamente de 25,10 e 24,40). Os desvios padrões foram de 4,65 para o sexo masculino e de 4,51. Os coeficientes de variação para cada uma das situações denotam uma dispersão moderada em torno dos valores médios resultados (19,57 e 17,97).
Tabela 13 - Estatísticas relativas aos valores obtidos na escala da saúde oral relativamente ao sexo dos alunos inquiridos
Avaliação da S. O.Sexo | N | Média | Dp | C.v. | Mín. | Máx. |
| Masculino Feminino | 497 701 | 24,40 25,10 | 4,65 4,51 | 19,57 17,97 | 12 12 | 34 36 |
| Total | 1198 | 24,81 | 4,58 | 18,46 |
Com base nos resultados da média e desvio padrão para a totalidade da amostra, formamos os três grupos de Coorte de acordo com o que foi estabelecido no Quadro 1 representativo da Escala de Saúde Oral, tendo-se agrupado os alunos inquiridos de acordo com os resultados dos totais obtidos em grupos de boa, razoável e má saúde oral.
Os resultados da aplicação da referida escala, encontram-se na tabela 14 e Gráfico 8. Pela leitura dos mesmos notamos que, a maior parte dos alunos inquiridos apresentam Boa Saúde Oral, representada por 42,5% no sexo masculino e 48,4% no sexo feminino.
Uma razoável saúde oral verifica-se em apenas 16,1% dos inquiridos do sexo masculino e 17,3% no sexo feminino.
É ainda de salientar o facto de uma boa parte da totalidade dos alunos inquiridos (37,7%), apresentarem uma má saúde oral. Para isto contribuem 41,4% dos alunos do sexo masculino e 34,4% os alunos do sexo feminino.
Tabela 14 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo a saúde oral em função do sexo
SexoSaúde Oral | Masculino | Feminino | Total | |||
| N | % | N | % | N | % | |
| Má (<20 ,23) Razoável ( >20,23 ; <29,39) Boa (>29,39) | 206 80 211 | 41,4 16,1 42,5 | 241 121 339 | 34,4 17,3 48,3 | 447 201 550 | 37,3 16,8 45,9 |
Total | 497 | 100,0 | 701 | 100,0 | 1198 | 100,0 |
Mo – Boa
Gráfico 8 – Distribuição dos alunos inquiridos segundo a saúde oral em função do sexo
Sendo a saúde oral a nossa variável, decidimos verificar a normalidade da distribuição desta, através da aplicação do Test Kolmogorov-Sminorv e testes de distribuição de Skewness e Kutosis (tabela 15). Estes revelam-nos a normalidade da distribuição, permitindo assim com segurança, o uso de testes paramétricos para testar as hipóteses por nós formuladas.
Tabela 15 - Teste Kolmogorov-Sminorv como teste da normalidade da distribuição da variável dependente
| N | Média | Dp | Z | p | SK | K | |
| Saúde Oral | 1198 | 24,81 | 4,58 | 0,669 | 0,763 | -0,245 | -0,320 |
n.s. p>0,05
Gráfico 9 – Histograma com curva de Gauss
2.2 - Análise inferencial
Após a apresentação dos resultados da estatística descritiva, faremos a apresentação da estatística inferencial, que segundo POLIT e HUNGLER (1995, p. 103), “é uma explicação da relação entre duas ou mais variáveis” o que por outras palavras procura traduzir o enunciado do problema, para uma previsão precisa e clara dos resultados esperados. Para testar as hipóteses formuladas, optámos pela aplicação de testes paramétricos porque estes têm como principais pressupostos matemáticos o facto da variável em teste ser de natureza quantitativa ou ter sido quantificada/medida em escala intervalar ou de razão.
Dado que foi nosso objectivo identificar alguns factores que possam interferir com a saúde oral dos alunos, recorremos, como já referimos, a testes paramétricos.
Hipótese 1 - VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS (O sexo, a idade e a área de residência influenciam a saúde oral dos alunos)
Em relação ao sexo, efectuámos um teste t para diferença de médias. Os resultados expostos na tabela 16 parecem-nos evidenciar uma melhor saúde oral para o sexo feminino. No entanto, verificámos não serem significativas as diferenças estatísticas encontradas, razão pela qual não podemos afirmar que a saúde oral é independente do sexo.
Tabela 16 – Teste t para diferença de médias entre a saúde oral e o sexo
 Sexo Variáveis | Masculino | Feminino | t | p | ||
| Média | D.p. | Média | D.p. | |||
| Saúde Oral | 24,40 | 4,65 | 25,10 | 4,51 | 2,642 | 0,08 n.s. |
n.s. p>0,05
Para verificar se a idade está relacionada com a saúde oral dos alunos, efectuámos uma análise de variância ANOVA. Ao observarmos os resultados (tabela 17 e 18), verificámos serem significativas as diferenças estatísticas encontradas parecendo-nos pelas médias calculadas, que os alunos mais velhos têm pior saúde oral. Por esse motivo, realizámos teste Post Hock, cujos resultados se apresentam na tabela 19. Pela sua análise, notámos que somente entre os alunos com idades inferiores a 16 e 17 anos encontramos diferenças estatísticas significativas, sendo que apenas neste caso a idade influencia em maior ou menor grau a saúde. Perante tais resultados quisemos verificar de que forma a idade influenciava a saúde oral dos alunos, pelo que efectuamos uma correlação de Pearson. Após a análise (tabela 20) confirmámos o que foi referido, pelo que estas duas variáveis estão inversamente relacionadas, ou seja, quanto maior a idade pior a saúde oral, ou vice-versa.
Em suma, podemos afirmar que a idade está relacionado com a sua saúde oral, pelo que esta hipótese se comprova.
Tabela 17 – Médias e desvios padrões dos indicadores da idade
Idade | Saúde oral | |
| Média | D.p. | |
| < 16 anos 17 anos > 18 anos | 25,17 24,80 24,19 | 4,65 4,44 4,58 |
Tabela 18 – Análise de variância entre a saúde oral e a idade
| Fonte | gl | SQ | QM | F | P |
| Entre grupos Dentro de grupos Total | 2 1195 1997 | 185,374 24928,613 25111,987 | 92,687 20,859 | 4,443 | 0,012 *. |
*p<0,05
Tabela 19 – Testes Post Hock entre a saúde oral e a idade
Variáveis | P |
| < 16 anos * 17 anos < 16 anos * > 18 anos 17 anos * > 18 anos | 0,229 n.s. 0,03 * 0,089 n.s. |
* p<0,05
Tabela 20 – Correlação de PEARSON entre a saúde oral e a idade
| Variáveis | Média | Dp | r | r² | P |
| Idade Saúde Oral | 16,79 24,81 | 1,24 4,58 | -0,096 | 0,0092 | 0,000*** |
*** p<0,001
Finalmente, no que respeita à área de residência, realizámos uma análise de variância ANOVA. Pelos valores médios apresentados na tabela 21, verificámos que tanto em tempo de aulas como fora do tempo de aulas, são os alunos que moram na cidade que têm melhor saúde oral. Contudo não se verificaram diferenças estatísticas entre os diferentes grupos (tabela 22) pelo que não realizamos os testes Post Hock. Perante estes resultados podemos afirmar que a saúde oral é independente da área de residência do aluno quer em tempo de aulas quer fora do tempo de aulas.
Tabela 21 – Médias e desvios padrões dos indicadores do local de residência
PeríodoLocal de res. | Em tempo de aulas | Fora do tempo de aulas | ||
| Média | Dp | Média | Dp | |
| Aldeia Vila Cidade | 24,70 24,88 25,58 | 4,60 4,55 4,51 | 24,63 25,14 25,25 | 4,65 4,46 4,33 |
Tabela 22 – Análise de variância entre a saúde oral e o local de residência
| Fonte | gl | SQ | QM | F | p |
| Em tempo de aulas Entre grupos Dentro de grupos Total | 2 1195 1197 | 45,907 25066,080 25111,987 | 22,954 20,976 | 1,094 | 0,335 n.s. |
| Fora do tempo de aulas Entre grupos Dentro de grupos Total | 2 1195 1197 | 75,333 25036,654 25111,987 | 37,667 20,951 | 1,798 | 0,166 n.s. |
n.s. p>0,05
Em suma, face aos resultados apresentados, podemos referir que a saúde oral dos alunos é independente do sexo e local de residência, o que não confirma a hipótese formulada. No entanto, a idade é confirmada, dada a diferença estatística encontrada ser altamente significativa, pelo que podemos afirmar que a saúde oral dos alunos é influenciada pela idade.
Hipótese 2 - VARIÁVEIS SÓCIO-FAMILIARES (Existe relação entre o nível sócio-económico familiar, qualidade de vida e padrões alimentares, e a saúde oral dos alunos)
A avaliação da situação sócio-económica familiar foi efectuada através de uma correlação de PEARSON. Dado possuirmos apenas 6 elementos pertencentes à classe baixa, impossibilitou-nos a realização de uma análise de variância ANOVA. Os resultados expostos na tabela 23, evidenciam-nos uma correlação positiva baixa mas altamente significativa. Estes resultados permitem-nos então afirmar que a saúde oral e o nível sócio-económico variam na razão directa, isto é uma melhor condição social corresponde a uma melhor saúde oral ou vice-versa, pelo que confirmámos a hipótese formulada.
Tabela 23 – Correlação de PEARSON entre a saúde oral e o nível sócio-económico
| Variáveis | Média | Dp | r | r² | p |
| Nível sócio-económico Saúde oral | 15,12 24,81 | 2,81 4,58 | 0,166 | 0,028 | 0,000 *** |
*** p<0,001
No que respeita à avaliação da qualidade de vida, realizámos uma regressão múltipla “stepwise”, dado que segundo alguns autores é o método para análises multivariadas, particularmente quando se pretende estudar mais que uma variável independente em simultâneo com uma variável dependente. O facto de se tratar deste tipo de regressão vai permitir a entrada no modelo das variáveis que contribuem com um incremento significativo da variância explicada, sendo, por conseguinte excluídas todas aquelas que não contribuem para explicar a variância da saúde oral do aluno, ou que por se correlacionarem altamente com variáveis já entradas nada vão acrescentar.
Nesse sentido, decidimos testar o valor preditivo das dimensões: Função Física, Desempenho Físico, Dor Corporal, Saúde Geral, Vitalidade, Função Social, Desempenho Emocional e Saúde Mental da variável independente Qualidade de Vida em relação à variável dependente Saúde Oral, podendo constituir-se como preditores da saúde oral.
Os resultados da regressão (tabela 24) revelam que as únicas variáveis preditivas encontradas são o Desempenho Físico e a Dor Corporal, explicando 2,0% da variância da saúde oral dos alunos, respectivamente, 1,3% e 0,7%, sendo altamente significativa a diferença estatística para o primeiro caso e bastante significativa para o segundo.
Os coeficientes padronizados beta e os valores de “r” indicam-nos que existe uma correlação positiva baixa, bastante significativa em ambas as variáveis, ou seja, variam em razão directa com a saúde oral.
Tabela 24 – Regressão múltipla entre qualidade de vida e a saúde oral
| Variáveis Independentes | r | r² | Incremento r² | F | p |
| Desempenho físico Dor corporal | 0,118 0,145 | 0,014 0,021 | 0,013 0,007 | 16,969 8,483 | 0,000 *** 0,004** |
** p<0,01 *** p<0,001
| Variáveis Independentes | Coeficiente Padronizado | t | p |
| Desempenho físico Dor corporal | 0,092 0,087 | 3,087 2,913 | 0,002** 0,004** |
** p<0,01
Análise de variância
| Fonte | gl | SQ | QM | F | p |
| Regressão Residual Total | 2 1195 1197 | 525,839 24586,148 25111,987 | 262,920 20,574 | 12,779 | 0,000 |
|
Numa síntese aos resultados encontrados, verificámos que o desempenho físico e a dor corporal foram os únicos preditores da saúde oral confirmando-se assim parcialmente a hipótese levantada no que respeita a estas dimensões, mas sendo rejeitada em relação às restantes.
Ao formularmos esta hipótese, quisemos saber se o padrão alimentar dos alunos influenciava a sua saúde oral. Para isso, fizemos uma análise de variância ANOVA. Os resultados expressos na tabela 25 e 26 evidenciam-nos uma melhor saúde oral para os alunos com melhor padrão alimentar. No entanto a diferença estatística encontrada não é significativa, não se tendo realizado os testes Post Hock. Por essa razão não se confirma a hipótese formulada.
Tabela 25 – Médias e desvios padrões dos indicadores do padrão alimentar
Padrão Alimentar | Saúde oral | |
| Média | D.p. | |
| Bom Razoável Mau | 25,22 24,77 24,41 | 4,75 4,60 4,53 |
Tabela 26 – Análise de variância entre a saúde oral e o padrão alimentar
| Fonte | gl | SQ | QM | F | p |
| Entre grupos Dentro de grupos Total | 2 1195 1997 | 44,849 25067,138 25111,987 | 22,425 20,977 | 1,069 | 0,344 n.s. |
n.s. p>0,05
Hipótese 3 - VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS (Existe correlação entre o autoconceito e a saúde oral dos alunos)
Procurámos saber se o autoconceito estava relacionado com a saúde oral dos adolescentes. Para tal optámos por efectuar uma correlação de Pearson para o verificar. Ao observarmos os resultados expressos na tabela 25, verificámos que existe uma correlação positiva baixa, bastante significativa. Com base nestes resultados podemos afirmar que o autoconceito está directamente relacionado com a saúde oral, ou seja, melhor autoconceito corresponde a uma melhor saúde oral, pelo que se confirma a hipótese formulada.
Tabela 27 – Correlação de PEARSON entre a saúde oral e o autoconceito
| Variáveis | Média | Dp | r | r² | P |
| Autoconceito Saúde oral | 63,88 24,81 | 7,40 4,58 | 0,090 | 0,008 | 0,001 * |
** p<0,01
2.3 – DISCUSSÃO
2.3.1 – Discussão da metodologia
Não poderíamos iniciar este estudo sem pedir um parecer a cada uma das instituições escolares envolvidas, como tal realizámos um pedido de autorização dirigido ao conselho executivo das mesmas, explicando os nossos objectivos e população alvo no sentido de levar a cabo a aplicação do nosso instrumento de colheita de dados.
Antes de iniciarmos a discussão dos resultados que obtivemos, gostaríamos de fazer uma breve reflexão sobre as dificuldades sentidas na realização deste trabalho. Do ponto de vista do quadro conceptual, a saúde oral do adolescente, tem sido pouco estudada, o que torna o estudo mais aliciante, mas por outro coloca dificuldades sobretudo no que se refere a uma sustentação teórica consistente através da colheita de bibliografia. O acesso à informação sobre esta temática foi bastante limitado, pelo facto de haver poucos locais onde foi possível recolher alguma bibliografia. Esta dificuldade foi por nós sentida também a nível de bibliografia electrónica.
Devido a esta condicionante resultou o facto de termos que elaborar uma escala de avaliação de saúde oral com base na pesquisa bibliográfica, bem como não podemos verificar algumas das hipóteses por nós formuladas com a bibliografia colhida.
No respeitante à metodologia utilizada entendemos ter sido adequada, permitindo obter um conhecimento mais profundo da nossa problemática e conhecer alguns factores que influenciam a saúde oral dos adolescentes.
O método de colheita de dados por nós utilizado foi o questionário, pois segundo FORTIN (1999), este é um método de colheita de dados no qual as respostas são escritas pelos próprios indivíduos, sem assistência. Este não permite ir a grande profundidade, mas possibilita um melhor controlo dos enviesamentos, pois as informações procuradas são colhidas com rigor. Contudo, na nossa opinião, o facto de não podermos ter estado presentes poderá ter levado a eventuais erros devido à não compreensão de algumas questões, por outro lado, e no nosso caso em particular, o facto de estarmos ausentes impossibilitou a observação e avaliação directa da saúde oral dos adolescentes.
Uma das dificuldades sentidas prendeu-se com o facto de não ter sido possível a aplicação de um pré-teste, o que não permitiu o reformular de algumas questões menos adaptadas à população em estudo.
2.3.2. – Discussão dos resultados
Após a apresentação e análise dos dados obtidos e o tratamento estatístico efectuado, impôs-se como passo seguinte a sua discussão. Durante esta pretendemos confrontar e explicar os resultados obtidos da análise do instrumento de colheita de dados com as hipóteses, com a fundamentação teórica e com os resultados de outros autores.
A interpretação dos resultados refere-se ao processo de compreensão e de exame das implicações da descoberta (POLIT e HUNGLER, 1995). O investigador analisa o conjunto de resultados e interpreta-os de acordo com o tipo de estudo e o quadro de referência utilizados (FORTIN, 1999).
Ou seja, em termos simplistas, o processo de discussão e interpretação dos resultados constitui a tentativa do pesquisador para explicar as descobertas, relacionando-as com os trabalhos anteriores conhecidos na área.
Se os resultados forem diferentes nalguns pontos, devem procurar-se as razões pelas quais essas divergências existem (FORTIN, 1999).
Este complexo processo de busca de certezas requer uma permanente capacidade crítica do investigador.
Assim, a discussão dos dados em torno da verificação de hipóteses deverá incidir sobre os resultados significativos previstos pelo investigador, os resultados não significativos, os resultados significativos diferentes dos previstos e os resultados não previstos (FORTIN, 1999).
Foi possível avaliarmos a relação entre a variável dependente (saúde oral) e as variáveis independentes (sexo, escolaridade, área de residência, condição sócio-económica, autoconceito, padrão alimentar, qualidade de vida).
Saúde oral
Na nossa amostra a maior parte dos alunos inquiridos, tanto do sexo masculino (42,5%) como do sexo feminino (48,4%), apresentam um bom nível de saúde oral, representando 45,9%. Podemos verificar que 16,8% dos adolescentes apresentam uma razoável saúde oral. No entanto é de salientar o facto de uma boa parte dos alunos inquiridos (37,7%), apresentarem uma má saúde oral.
Não encontramos qualquer tipo de dados ou estudos que nos refiram o nível de saúde oral dos adolescentes no nosso país, no entanto a SPEMD (2001), revela que no grupo dos adolescentes até aos 17 anos, 54% faz uma consulta dentária só quando necessários, apenas 16,1% não apresentam dentes cariados o que são indicadores de má saúde oral. Ainda menciona que 87,4% escova os dentes uma ou mais vezes ao dia, o que é um bom indicador de saúde oral. Não podemos no entanto perante apenas estes indicadores deduzir se os adolescentes referidos pela SPEMD (2001), possuem uma boa ou má saúde oral.
Segundo LASCALA (1997), estudos revelam que a cárie (factor importante na determinação da saúde oral) é predominante na juventude e jovens adultos, até mais ou menos aos 25 anos de idade, apesar de seus índices serem variáveis.
Saúde Oral e Variáveis Sócio-demográficas
Sexo
Relativamente ao sexo, constatamos que 58,5% dos alunos inquiridos são do sexo feminino e 41,5% são do sexo masculino. De acordo com a leitura dos resultados obtidos observamos que, o sexo masculino 42,5% dos inquiridos apresenta boa saúde oral, 16,1% razoável, enquanto que 41,4% apresentam uma má saúde oral. Quanto ao sexo feminino 48,3% apresentam um bom nível de saúde oral, 17,3% razoável e 34,4% possuem uma má saúde oral.
Os resultados obtidos parecem evidenciar uma melhor saúde oral para o sexo feminino. No entanto, verificamos não serem significativas as diferenças estatísticas encontradas, razão pela qual não podemos afirmar que a saúde oral é influenciada pelo sexo.
Embora não tenhamos encontrado dados específicos referentes exclusivamente à saúde oral e o sexo dos indivíduos, a SPEMD (2001), refere que o hábito de escovar os dentes uma ou mais vezes por dia é mais comum em indivíduos do sexo feminino no que do sexo masculino, que apresenta uma menor frequência de escovagem, incluindo por vezes a ausência da mesma. A escovagem dos dentes é considerada um indicador de saúde oral, tendo sido utilizado na escala de avaliação de saúde oral, no entanto mais uma vez não podemos classificar a saúde oral dos indivíduos baseados apenas num indicador.
Idade
A idade dos alunos inquiridos por nós oscila entre os 15 e os 22 anos, sendo a média de 16,76 anos e o desvio padrão de 1,24 anos. O coeficiente de variação denota uma dispersão baixa em função do valor médio (7,39 %). Tendo em conta a magnitude de variação encontrada, efectuamos o seu agrupamento em classes e, sendo o grupo etário com idades iguais ou inferiores a 16 anos o mais representativo, com 44,6% do total da amostra, seguido dos alunos com 17 anos, 30,3%, sendo o grupo etário com idades iguais ou superiores a 18 anos o menos presente, com 25,1%. Em função do sexo, podemos ver que no masculino, 47,1% têm idades iguais ou inferiores a 16 anos, 27,4% têm 17 anos e 25,5% possuem idade igual ou superior a 18 anos. A distribuição para o sexo feminino mostrou-se ser bastante semelhante, com 42,8% para o primeiro escalão, 32,4% para o segundo e por último 24,8% para o terceiro escalão, nomeadamente alunos com idade igual ou superior a 18 anos.
Analisando a saúde oral com a idade, os resultados obtidos revelam-nos uma correlação negativa baixa, altamente significativa. Estes resultados permitem-nos afirmar que a saúde oral do aluno está inversamente relacionada com a idade, ou seja, quanto maior idade pior saúde oral.
Estes vão de encontro ao que refere a SPEMD (2001), em que o número médio de dentes permanentes, cariados e restaurados é inversamente proporcional ao aumento da idade, devido à perda de dentes por cáries e doença periodontal. Segundo a mesma fonte o número de dentes sãos também reduz com a idade.
Local de residência
Analisando o local de residência dos alunos em tempo de aulas verificámos que 59,2% dos alunos residem em aldeia, seguido de 35,8% em vila e apenas 5,0% na cidade. Fora do tempo de aulas verificamos uma ligeira deslocação dos alunos para a aldeia (66,5%) e cidade (7,5%) em detrimento da vila (26,0%).
Relacionando com a saúde oral, verificamos que tantos em tempo de aulas como fora do tempo de aulas são os alunos que moram na cidade que têm melhor saúde oral. Contudo não se verificaram diferenças estatísticas entre os diferentes grupos pelo que podemos afirmar que a saúde oral é independente da área de residência, o que não confirma a hipótese formulada.
Relativamente à saúde oral e o local de residência, mais uma vez não encontramos bibliografia que compare estas duas variáveis relativamente à adolescência. No entanto segundo a SPEMD (2001), os residentes em áreas urbanas apresentam um hábito de higiene oral mais frequente do que os das áreas rurais, assim como apresentam um maior número de dentes perdidos e um menor número de dentes sãos presentes.
Saúde oral e Variáveis sócio-familiares
Nível sócio-económico
Após a análise, observamos que a classe média é a mais representativa com 58,3% da amostra, seguida da classe média alta e classe média baixa, com 18,8% e 17,0%, respectivamente. A classe alta tem pouca expressão, representando apenas com 5,4%, bem como a classe baixa, com 0,5% da nossa amostra.
Relacionando com a saúde oral, os resultados mostram-nos que a diferença estatística é altamente significativa, e que os alunos pertencentes a classes com nível sócio económico superior apresentam melhor saúde oral. Podemos verificar uma correlação positiva baixa, altamente significativa. Estes resultados permitem-nos então afirmar que a saúde oral e o nível sócio-económico variam na razão directa, isto é, uma melhor condição social corresponde a uma melhor saúde oral ou vice-versa.
No que respeita ao nível sócio-económico não encontramos bibliografia que mencione a anterior relação. Apesar disto CALADO et al (1989) cit in BATALHA (2001) menciona uma relação contrária, ou seja, uma má saúde oral provoca um impacto negativo a nível socio-económico, devendo por isso, o único caminho a seguir para travar os níveis da doença, ser a prevenção adequada, eficaz e contínua.
Padrões alimentares
A grande maioria da amostra inquirida (78,0%), apresenta um padrão alimentar razoável. Com um bom padrão alimentar, apenas encontramos 14,9% da nossa amostra. É ainda de realçar, felizmente, o facto de apenas 7,1% dos inquiridos apresentar um mau padrão alimentar.
Ao formularmos esta hipótese, quisemos saber se o padrão alimentar dos alunos influencia a sua saúde oral, os resultados evidenciam-nos melhores médias, ou seja uma melhor saúde oral para os adolescentes com melhor padrão alimentar. No entanto a diferença estatística encontrada não é significativa, razão pela qual não se confirma a hipótese formulada.
Embora a hipótese não seja confirmada revela-nos uma tendência (uma melhor saúde oral para os adolescentes com melhor padrão alimentar), o que vai de encontro ao que refere GENCO cit in LASCALA (1997), que afirma que um dos factores que podem agravar a doença periodontal já estabelecida são o desequilíbrio na nutrição ou deficiência vitamínica. Segundo o mesmo autor, a deficiência acentuada nas vitaminas A e C pode levar à modificação ou aceleração da evolução da inflamação preexistente, uma vez que a vitamina C é elemento importante na formação do colágeno, assim como a vitamina A na regeneração e manutenção do epitélio.
Também , vai de encontro aos nossos resultados referindo que uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas e sais minerais e pobre em hidratos de carbono, especialmente em açúcares (muito prejudiciais aos dentes) acompanhada por correcta escovagem é fundamental para evitar a queda dos dentes, assim como a ingestão diária de alimentos ricos em cálcio (leite e derivados, vegetais verde escuro, leguminosas secas). Para o mesmo autor, açúcar na forma da sacarose, é o principal responsável pela exagerada proliferação de placa bacteriana e consequentemente, pelo aparecimento das cáries.
Qualidade de Vida
No que diz respeito à qualidade de vida, os resultados encontrados, no total dos alunos da nossa amostra, e no que se refere a uma qualidade de vida muito satisfatória, a máxima frequência verificou-se na Função Física, com 82,8% dos adolescentes e a mínima de 1,5% na Saúde Geral. A frequência de alunos que encontrou uma qualidade de vida satisfatória, oscilou entre um mínimo de 8,5% na Função Física e máxima de 87,0% na Função Social. Por último, os alunos que revelaram uma qualidade de vida não satisfatória, oscilaram entre 8,7% para a Função Física e 31,3% para a Saúde Geral.
Quando relacionada a qualidade de vida com a saúde oral, os resultados da regressão revelam que as únicas dimensões da qualidade de vida encontradas são o Desempenho Físico e a Dor Corporal, explicando 2,0% da variância da saúde oral dos adolescentes, respectivamente, 1,3% e 0,7%, sendo altamente significativa a diferença estatística para o primeiro caso e bastante significativa para o segundo. Os resultados indicam-nos ainda que existe uma correlação positiva baixa, bastante significativa em ambas as variáveis ou seja variam em razão directa com a saúde oral.
Relativamente ao domínio físico os dados obtidos vão de encontro ao que refere HERRISON (1993), este domínio quando afectado vai impossibilitar a realização de actividades diárias, porque as capacidades funcionais encontram-se afectadas. As possibilidades de realização pessoal e de bem-estar psicológico, social e económica ficam também comprometidas, nesta perspectiva, o sofrimento tem um impacto significativo nos diferentes aspectos da vida de uma pessoa, influenciando também deste modo os cuidados relacionados com a saúde oral. No que se refere à dor corporal não encontramos dados que possam servir de comparação com os nossos resultados.
REUTERS (2002), refere uma relação contrária, ou seja, que a saúde oral influência a qualidade de vida das populações. De acordo com o mesmo autor (2002), uma pesquisa divulgada mostra que três em cada quatro britânicos afirmam que a saúde dos dentes e das gengivas tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida, nomeadamente na aparência física, conforto e alimentação, influenciando também a vida social.
Saúde oral e Variável Psicológica
Autoconceito
No autoconceito dos adolescentes, relativamente à soma dos itens a média foi de 63,88 quando o valor máximo atingível era de 100 e para a média percentual que fica abaixo dos 65%, encontrando-se um valor mínimo muito próximo dos limites inferiores.
Ao analisarmos se o autoconceito estava relacionado com a saúde oral dos adolescentes, verificamos que existe uma correlação positiva baixa, bastante significativa, com base nestes resultados podemos afirmar que o autoconceito está directamente relacionado com a saúde oral, ou seja, melhor autoconceito melhor saúde oral, pelo que se confirma a hipótese formulada.
Estes resultados vão de encontro ao que afirma SHANNON cit in LASCALA (1997), segundo o qual distúrbios de ordem psicológica ou emocional podem induzir libertação de adrenalina que provocam a nível gengival uma vasoconstrição, podendo ser um elemento activo no processo de desenvolvimento de determinadas periodontopatias, influenciando negativamente a saúde oral.
3 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES
Procuramos fazer desta conclusão um ponto de reflexão sobre o estudo por nós realizado, pretendendo deste modo esboçar as conclusões a que chegamos, embora reconhecendo que continuam em aberto inúmeras questões no sentido de novos avanços no domínio do conhecimento.
Findar um trabalho de investigação, é algo gratificante, no entanto fica-nos a sensação de estarmos face a uma obra inacabada, onde o conhecimento necessita de ser consolidado, de forma a tornar-se definitivo.
A revisão bibliográfica efectuada, e o estudo pormenorizado desta problemática permitiu-nos sem dúvida adquirir novos conhecimento sobre a saúde oral dos adolescentes e os factores que interferem na mesma, quer de o ponto de vista fisiopatológico, psicológico e/ou social.
Após a realização deste estudo, a escolha desta temática revelou ser bastante interessante e válida, dada a falta de estudos nesta área, o que sem sombra de dúvida contribuiu para atingirmos de forma satisfatória os objectivos a que nos propusemos inicialmente.
De seguida realizamos uma síntese dos resultados mais significativos, expondo deste modo as conclusões a que chegamos.
A nossa amostra é composta pelos alunos a frequentar o 10º, 11º e 12º ano de escolaridade no distrito de Viseu, com escolha de algumas turmas de escolas secundárias dos 24 concelhos deste distrito aos quais foram aplicados os questionários. A idade dos alunos inquiridos por nós oscila entre os 15 e os 22 anos, sendo a média de 16,76 anos.
Em particular, e em função do sexo, foi possível observar que no sexo masculino, 47,1% têm idades iguais ou inferiores a 16 anos, 27,4% têm 17 anos e 25,6% possuem idade igual ou superior a 18 anos. A distribuição para o sexo feminino mostrou-se ser bastante semelhante, com 42,8% para o primeiro escalão, 32,4% para o segundo e por ultimo 24,8% para o terceiro escalão, nomeadamente alunos com idade igual ou superior a 18 anos.
No que toca à variável dependente (Saúde Oral), na nossa amostra a maior parte dos alunos inquiridos, apresentam um bom nível de saúde oral (45,9%), no entanto 16,8% dos adolescentes apresentam uma razoável saúde oral e os restantes uma má saúde oral (37,7%).
Relativamente ao sexo e a influencia na saúde oral dos adolescentes, os resultados obtidos parece-nos evidenciar uma melhor saúde oral para o sexo feminino. No entanto, verificamos não serem significativas as diferenças estatísticas encontradas, razão pela qual não podemos afirmar que a saúde oral é influenciada pelo sexo.
Analisando a saúde oral com a idade, os resultados obtidos revelam-nos uma correlação negativa baixa, altamente significativa. Estes resultados permitem-nos afirmar que a saúde oral do aluno está inversamente relacionada com a idade, ou seja, quanto maior idade pior saúde oral.
Quanto ao local de residência, relacionando com a saúde oral, verificamos que tanto em tempo de aulas como fora do tempo de aulas são os alunos que moram na cidade que têm melhor saúde oral. Contudo não se verificaram diferenças estatísticas entre os diferentes grupos pelo que podemos afirmar que a saúde oral é independente da área de residência, o que não confirma a hipótese formulada.
Falando em nível sócio-económico, observamos que a classe média é a mais representativa da amostra, seguida da classe média alta e classe média baixa. A classe alta tem pouca expressão, representando apenas com 5,4%, bem como a classe baixa, com 0,5% da nossa amostra.
Relacionando com a saúde oral, os resultados mostram-nos que a diferença estatística é altamente significativa e que os alunos pertencentes a classes com nível sócio económico superior apresentam melhor saúde oral. Podemos verificar uma correlação positiva baixa, altamente significativa. Estes resultados permitem-nos então afirmar que a saúde oral e o nível sócio económico variam na razão directa, isto é uma melhor condição social corresponde a uma melhor saúde oral ou vice-versa.
Nos padrões alimentares os resultados evidenciaram-nos melhores médias, ou seja, uma melhor saúde oral para os adolescentes com melhor padrão alimentar. No entanto a diferença estatística encontrada não é significativa, razão pela qual não se confirma a hipótese formulada.
Quando relacionada a qualidade de vida com a saúde oral, os resultados revelaram que as únicas dimensões da qualidade de vida que influenciam a saúde oral são Desempenho Físico e a Dor Corporal, explicando 2,0% da variância da saúde oral dos adolescentes, respectivamente, 1,3% e 0,7%, sendo altamente significativa a diferença estatística para o primeiro caso e bastante significativa para o segundo. Os resultados indicam-nos ainda que existe uma correlação positiva baixa, significativa em ambas as variáveis, ou seja, variam em razão directa com a saúde oral.
Em suma, podemos dizer que em relação à presença de variáveis como seja a área de residência, sexo e padrões alimentares não podemos afirmar que influenciam a saúde oral dos adolescentes, visto os dados obtidos não serem significativos.
Por outro lado, podemos concluir que a idade, o nível sócio económico, bem como desempenho físico e a dor corporal, dimensões da qualidade de vida, tem influencia na saúde oral dos mesmos.
Perante os factos torna-se importante intervir junto das populações com o objectivo da promoção da saúde através de acções de educação e sensibilização para hábitos de vida saudável melhorando assim a sua qualidade de vida. Por outro lado consideramos importante um actuação cada vez mais precoce, em escalões etários mais baixos no sentido da prevenção das periodontopatias e suas consequências.
BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, Mexia de – A saúde oral dos jovens precisa de mais e melhor atenção. Mundo Médico. Lisboa. nº 2 (Janeiro/Fevereiro 1999), p. 58-59
AMORIM, Maria Isabel Lajoso – Saúde e Qualidade de Vida. Psiquiatria Clínica. Coimbra: [s.n.], vol.20, nº3 (Julho/Agosto 1999), p. 235-241.
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SAÚDE ORAL. Saúde em Portugal [em linha]. [citado em 4 de Dezembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://terravista.pt/ancora/8101
BATALHA, Luís Manuel Cunha – Promoção da Saúde Oral nas crianças: da teoria à prática. Servir. Lisboa. ISSN 0871-2770. nº 49 (Julho/Agosto 2001), p. 158-164
BERNE, Robert M.; LEVY, Matthew N. – Physiology. 3ª ed. St. Louis: Mosby Year Book, 1993
CALADO, Rui – Programa de Saúde oral em Saúde Escolar: 1ª Fase de execução. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Lisboa. nº1 (Janeiro/Março de 1989), p. 25-34
CARVALHO, David – Dossier saúde oral: implantes – reconstruir o sorriso. Medicina & Saúde. Lisboa. nº 54 (Abril 2002), p. 68-69
CARVALHO, David – Dossier saúde oral: medicina dentária é o parente pobre da saúde. Medicina & Saúde. Lisboa. nº 54 (Abril 2002), p. 64-66
CARVALHO, David – Dossier saúde oral: o laser ao serviço da medicina dentária – acabar com o medo do dentista. Medicina & Saúde. Lisboa. Ano 5, nº 54 (Abril 2002), p.7-8
Comparação da Eficácia de um colutório antisséptico e de um dentífrico antiplaca/antigengivite. JADA. Lisboa.nº2 (Março/Abril de 2003), p. 23-28
Congresso Internacional de Saúde Oral. Notícias de Viseu [em linha]. 2002. [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL http://noticiasdeviseu.com/seccao.php?sec=1&id=4841&0=ler
CORDEIRO, J. C. Dias - O adolescente e a família : abordagem educativa e psicoterapêutica na perspectiva familiar. Lisboa : Moraes, 1979
COSTA, J. Almeida; MELO, A. Sampaio – Dicionário da Língua Portuguesa. 6ª ed. Porto: Porto Editora, 1987
COSTA, J. Almeida; MELO, A. Sampaio – Dicionário da Língua Portuguesa. 7ª ed. Porto: Porto Editora, 1996
COSTA, Rui Jorge Dias – Qualidade de vida relacionada com a saúde em doentes pós AVC. Coimbra: [s.n.], 2001. Dissertação de mestrado em Sociopsicologia da Saúde
COUTO, Jorge; MOUTINHO, Irene; WEHLING, Arno – Enciclopédia Microsoft Encarta 99. EUA: Microsoft, 1999.
CRUZ, Encarnação Batista Lopes da – Estudo da relação entre a qualidade de vida relacionada com a saúde e o bem - estar psicológico, a satisfação com a vida e o apoio social. Coimbra: [s.n.], 2001. Dissertação de mestrado em Sociopsicologia da Saúde
Cuidar dos Dentes. TESTE SAÚDE. Lisboa: Edideco, Editores para a Defesa do Consumidor, Lda. nº 40 (Novembro/Dezembro 2002), p. 18-21
D’ HAINAUT, Louis – Conceitos e métodos da estatística. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1990. Vol. 1
Dá Deus Dentes a... Quem Não tem Cuidado. FARMÁCIA + SAÚDE. Lisboa: RPO–Produção Gráfica, Lda. ISSN 0873-5468. nº 29 (Fevereiro 1999), p. 16-19
Dentistas optimistas com Governo. Portugal diário [em linha]. 2002 [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em: http://portugaldiario.iol.pt/noticias/noticia.php?id=35643&sec=3OLI TICA
DIAS, Fabiano S. - Manual de Saúde e Higiene Bucal [em linha].2002. [citado em 27 de Novembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://odon.com.br/manual/importancia.asp
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. 8ª ed. Porto: Porto Editora, 1999
DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO DE CIÊNCIAS MÉDICAS. Barcelona: Salvat Editores, 1977
DIRECÇÃO GERAL DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – Breves considerações sobre dentição, doenças orais e respectivas medidas de prevenção. Servir. Lisboa. nº 2 (Março/Abril de 1988), p. 72-75
DURON, Roland; PAROT, Françoise – Dicionário de Psicologia. 1ª ed. Lisboa: CLIMEPSI EDITORES, 2001
ENCICLOPÉDIA LUSO-BRASILEIRA DE CULTURA. Lisboa: Verbo, 1970
Farmácia Saúde nº29 - Dá Deus dentes... a quem não tem cuidado [em linha]. 1999 [em linha].[Citado em 27de Novembro de 2002] Disponível em http://saude.sapo.pt/gkBT/224353.html
FERREIRA, Gonçalves – Nutrição Humana; 2ªed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994
FERREIRA, Pedro Lopes – Medição do Estado de Saúde: Criação da versão Portuguesa de MOS SF-36. Coimbra: [s.n.] 1998
Fio Dental – Informação de Saúde Oral [em linha] 2002 [citado em 9 de Dezembro de 2003] Disponível em ‹ URL: http://fiodental.7p.com/html/rotina.html
FORTAIN, Marie-Fabienne – O processo de investigação : da concepção à realização. Loures: Lusociência, 1999, p. 61, 100-102
FREIRE, Joana Figueiredo – A Saúde Oral está ao alcance de todos: aposte na criação de hábitos correctos de higiene oral para garantir um efeito vitalício e duradouro. ANDAI. Lisboa. nº 2 (Outubro 2000), p. 1-7
FREIRE, Joana Figueiredo. Saúde Oral ao Alcance de todos [em linha]. 2000 [citado em 3 de Dezembro de 2000] Disponível em ‹ URL: http://www.andai.org/higiene_oral.htm
GIFFT, H. H.; WAFHBON, M.; HARRISON, R. R. C. G. – Nutricion, Behavior an Change. New Jersey. Editora Trendide Hal Inc., 1972
GUIMARÃES, Cândido Ivone dos Santos Cardoso – Qualidade de vida no adulto asmático: influência das variáveis psicossociais. Coimbra: [s.n.], 2000. Dissertação de mestrado em Psicologia da Saúde
IMPERATORI, Emileo – Mais de 1001 conceitos para melhorar a qualidade dos serviços de saúde: glossário. Lisboa: Edinova, 1999, p.238
JERSILD, Arthur T. - Psicologia da adolescência. 6ª ed. São Paulo : Companhia Editora Nacional, 1977
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade – Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projecto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4ª ed. S. Paulo: Atlas, 1995, p. 24
LASCALA, Nelson Thomaz – Prevenção na Clinica Odontológica – Promoção da Saúde Bucal. São Paulo: Artes Médicas LDA, 1997
LOBIONDO-WOOD, Geri; HABER, Judith – Pesquisa em Enfermagem: Métodos, Avaliação Crítica e Utilização. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 2001
LUSA/FI. Ordem dos médicos dentistas levou “dor de dentes” a Jorge Sampaio. Portugal diário [em linha]. 2002. [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://portugal diario.iol.pt/noticias/noticia.php?id=35643&sec=3OLITICA
MAHAN, L. Kathleen; ARLIN, Marian T. – ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA. 8ª ed. São Paulo: Editora Roca Ltda, 1995, p. 250-251
martins, a. g. Lourenço – Direito internacional da droga: sua evolução. Seminário “Droga: situação e novas perspectivas” [em linha]. Lisboa: 19 de Junho de 1997 [citado em 20 de Novembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://www.presidenciarepublica.pt/pt/biblioteca/outros/drogas//ii3.html>
MARTINS, Iolanda; ROCHA, José Carlos – Dependência e Comportamentos Aditivos. [em linha]. 1996. [Citado em 13 de Novembro de 2002]. Disponível em ‹ URL:http://www.geocities.com/area51/fault/4303/-tra01.html
McKINNEY, John Paul – PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: O ADOLESCENTE O ADULTO JOVEM. Rio de Janeiro: Editora Campos Ltda, 1997
MEDLINE PLUS. Información de Salud [em linha]. 2002. [citado em 9 de Dezembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm-34K.
MELO, Manuela S. R. – Famílias com factores de risco para o desenvolvimento das crianças: qualidade de vida da família. Coimbra: [s.n.], 2002. Dissertação de mestrado
MONTARDO, Jorge Luiz. Adolescência. [em linha]. [s.d.] [citado em 18 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://planeta.terra.com.br/saúde/montardo/desenvolvimento
MONTEIRO, Manuela; SANTOS, Milice Ribeiro – Psicologia – 1º vol. Porto: Porto Editora, 1996
MONTEIRO, Manuela; SANTOS, Milice Ribeiro – Psicologia – 2º vol. Porto: Porto Editora, 1996
MORAIS, Maria José Fernandes – Qualidade de vida relacionada com a saúde em hemodialisados. Coimbra: [s.n.], 2000. Dissertação de mestrado
MUÑOZ, Hiroshima Palacios de. La adolescencia [em linha]. Universidade Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico De Caracas: [s.n] [s.d.] [citado em 10 de Dezembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://www.monografias.com/trabajos/adol/adol.html
MYERS, David – Introdução à PSICOLOGIA GERAL. 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1999, p. 254
NADANOVSKY, Paulo [et al]. Saúde oral [em linha]. 2002. [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL :http://ims.uerj.br/pesq107dir.htm
NETTER, Frank H, M.D.; – Atlas de Anatomia Humana. U.S.A.: Masson, S.A., 1996
OUTEIRAL, José Ottoni – O corpo na Adolescência. In OSÓRIO, Luís e col. «Medicina do Adolescente». Porto Alegre : Artes Médicas, 1982. p. 125-131
PEREIRA, Estela de Castro; CHÃO, Betiz. Saúde oral em saúde escolar – ano lectivo 2001/2002 [em linha]. 2002. Disponível em ‹ URL: http://cm-vncerveira.pt/saude.htm
PERES, Emílio – Educação Alimentar: Vale a pena?. Revista Portuguesa de Nutrição. [s.l.]. Gráfica 2000. Vol. 8. nº 1 e 2, Janeiro/Agosto 1998, p. 43-78
PINTO, Vitor. Faltam dentistas nos hospitais públicos e centros de saúde portugueses [em linha]. 2001. [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=30389&ed=3
POLIT, Denise F.; HUNGLER, Bernardette P. – Fundamentos de pesquisa em Enfermagem. 3ª ed. Porto Alegre: Artes médicas, 1995
PORTUGAL. Direcção-Geral de Saúde. Divisão de Saúde Escolar – Circular nº 41/ DSE. 2002-09.26. SAÚDE ORAL: Administração de Flúor. [em linha]. 2002 [citado em 11 de Julho de 2003] Disponível em ‹ URL: http://dgsaude.pt/profissionais/circ/ci_41_02_dse.pdf
PORTUGAL. Direcção-Geral de Saúde. Divisão de Saúde Escolar – Circular nº 13/ DSE. 2000-08-01. COMISSÃO PARITÁRIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE ORAL NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. [em linha]. 2000 [citado em 11 de Julho de 2003] Disponível em ‹ URL: http://dgsaude.pt/profissionais/circ/cn_13_00_dse.pdf
Programa inédito no distrito – Aposta na prevenção da doença oral. Notícias de Viseu [em linha]. 2002. [citado em 19 de Janeiro de 2003] Disponível em ‹ URL: http://noticiasdeviseu. com/seccao.php?sec=1&id=4841&0=ler
Questões Frequentes sobre Saúde Oral [em linha]. 2002. [citado em 23 de Novembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://www.dentes.org/questions.htm
RAMOS, Susana. Dentistas destapam feridas da saúde oral em Portugal [em linha]. 2002 [citado em 4 de Dezembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://tvi.iol.pt/informacao/noticia.php?id=30389&ed=3
RESENDE, Cristina – Rastreio da cárie dentária. Saúde Infantil. Coimbra. ISSN 0874-2820. nº 2 (Setembro de 1999), p. 43-52
REUTERS. Saúde Oral é associada a melhor qualidade de vida [em linha]. 2002. [citado em 4 de Dezembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,5153OI68014-EI298,00.html
Revista Bebé d`Hoje nº14 – A consulta no pediatra [em linha].2002 [citado em 7 de Janeiro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://bebe.sapo.pt/XO43/329911.html
Revista Farmácia Saúde nº 29 [em linha].1999 [citado em 29 de Novembro de 2002] Disponível em ‹ URL: http://saúde.sapo.pt/gkBT/224353.html
RUDIO, Franz Victor – Introdução ao projecto de pesquisa científica. 14ª ed. Petrópolis: Vozes, 1989, p.75
SAMPAIO, Daniel – Ninguém morre sozinho: o adolescente e o suicídio. 5ª ed. Lisboa: Caminho, 1994
SANTOS, Maria Teresa Botti Rodrigues. A odontologia e a qualidade de vida [em linha]. 2002. [citado em 4 de Dezembro de 2002]. Disponível em ‹ URL: http://odon.com.br/manual/importancia.asp
SANTOS, Nazaré – Adolescência: aspectos gerais. Psiquiatria Clínica. Coimbra: Adriano Vaz Serra. Vol. 14, nº 2 (Abril/ Junho de 1993), p. 133-137
SEDAS NUNES, A.; DAVID MIRANDA, J. – A composição social da população portuguesa: alguns aspectos e implicações. Separata da Análise Social, vol VII, 19, nº 27-28, 1969, p.333-380
SEELEY, Rod R.; STEPHENS, Trent D.; TATE, Philip – Anatomia & Fisiologia. 3ª ed . Lisboa: Lusodidacta, 1997
SERRa, Adriano Vaz – O inventário Clínico do Autoconceito. Revista de Psiquiatria Clínica. Coimbra. Vol.7. nº2, Abril/Julho 1986
SILVA, António Morais – Novo Dicionário Compacto da Língua Portuguesa. 6ª ed. Lisboa: Editorial Confluência, 1990
SPEMD. Relatório sobre o Estado e Hábitos de Saúde Oral [em linha]. 2000. [citado em 9 de Dezembro de 2002]. Disponível em: http://spemd.pt/relatorio.html
STEELE, Pauline F. [et al] – Dimensions of DENTAL HYGIENE . 3ª ed. Philadelphia : Lea & Febiger, 1982, p. 1-25
Suplementação com flúor em crianças: recomendações do momento. Pediatrics. Lisboa. nº 5 (Maio 1995), p. 281-284
TAGLE, Maria Angélica – Nutrição. São Paulo: Artes Médicas, 1981
Uma necessidade (quase) tão antiga quanto o Homem. Saúde e BEM-ESTAR. Lisboa: Catarina Lacueva. nº 77 (Setembro 2000), p. 46-47