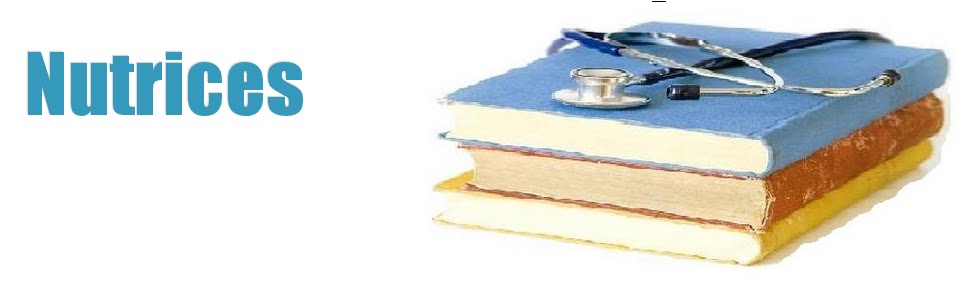1. INTRODUÇÃO
Actualmente, no nosso país, tal como no resto do mundo, a obesidade é considerada como uma epidemia mundial (MARGOTO, 2003).
A obesidade é um problema crónico em crescimento um dos transtornos nutricionais mais frequentes nos países em desenvolvimento.
É considerado, segundo o mesmo autor, como um factor de risco para várias doenças, como a diabetes, HTA, enfarte de miocárdio, angina de peito, osteoartrite, osteoartrose e cancro.
Reconhecendo a gravidade da situação, FREITAS (2001) considera mesmo a obesidade como uma doença grave que condiciona o aparecimento de outras doenças crónicas. Advoga também, que a obesidade provoca diminuição da qualidade de vida do indivíduo, representa um valor estético negativo e aumenta de forma acentuada os gastos com a segurança social e com os planos de saúde.
Estima-se que a obesidade e demais doenças associadas matem 300 mil pessoas por ano. Actualmente calcula-se que 20 a 27% das crianças e adolescentes dos Estados Unidos sejam obesos, em Portugal os dados estatísticos são escassos estimando-se que ronde os 16% segundo MARCELO DA FONSECA (1998).
A O.M.S. reúne informações económicas, psicossociais e de saúde que reafirmam a problemática, já que 10% dos orçamentos de saúde em países ocidentais estão hoje relacionadas com a obesidade.
Apesar de todos os dados conhecidos, resultantes de diversos estudos realizados, a etiologia da obesidade não é completamente conhecida. Conhecem-se, sim, factores associados que podem concorrer para que a obesidade se estabeleça e mantenha, nomeadamente factores alimentares, fisiológicos, genéticos, sócio-económicos e culturais (TORRES, REIS e MEDINA, 1991).
Assim, por tudo o que foi referido e pela sua actualidade e pertinência, foi com agrado que iniciámos o nosso estudo na temática da obesidade juvenil.
Para a realização deste trabalho, recorremos a pesquisa bibliográfica, a consulta de obras literárias, imprensa escrita, sites de internet e aplicação de um formulário, com o respectivo tratamento de dados e análise da informação recolhida.
Refere CERVO (1983,p.55) que a pesquisa bibliográfica “ é o meio de formação por excelência. Como trabalho científico original, constitui a pesquisa propriamente dita na área das ciências humanas. “
Tendo em consideração a temática, em estudo, propomo-nos a atingir os seguintes objectivos:
aAumentar e aprofundar os nossos conhecimentos teóricos sobre o tema;
aDesenvolver capacidades técnicas e relacionai
Possibilitar o próprio desenvolvimento da capacidade de colectar, organizar e relatar as informações obtidas;
aAnalisar e interpretar os dados de uma maneira lógica, apresentando as respectivas conclusões;
aContribuir para um melhor conhecimento da população ;
aFomentar a acreditação da Enfermagem como ciência social.
Para além dos objectivos acima referidos é, ainda, nosso objectivo/desafio proporcionar a todos um reflexão sobre a temática em estudo e que no futuro, enquanto profissionais de saúde, sejamos intervenientes activas, delineando estratégias de intervenção, adequadas ao diagnóstico de situação de saúde para que possamos contribuir para o tão desejado objectivo:
“Saúde para todos”
2. OBESIDADE
A obesidade está a destronar em todo o mundo a desnutrição e as doenças infecciosas, tornando-se cada vez mais evidente que a obesidade evolui como uma epidemia no séc. XXI (O.M.S. cit in AGUIAR, 2002).
2.1. CONCEITO DE OBESIDADE
Qualquer definição de obesidade pode ser considerada arbitrária. Não é fácil a obtenção de uma classificação que separe com precisão indivíduos obesos e não obesos. A heterogeneidade da raça humana estimulou a criação de diversas definições, cálculos, tabelas, enfocando aspectos qualitativos e quantitativos. (CARNEIRO e GOMES, 2001).
Segundo os mesmos autores, admite-se que para a raça humana, a percentagem de gordura corporal se situa entre 15 e 18% para o sexo masculino e entre 20 e 25% para o sexo feminino. Podem ser considerados obesos os homens com percentual superior a 25% e as mulheres com mais de 30%.
De acordo com GOROLL, Mulley e MAY (1999), a obesidade é um estado patológico que se caracteriza pela acumulação de gordura em excesso, em relação ao que seria necessário para um funcionamento óptimo para o organismo.
Autores como ESVRIVÃO e LOPEZ (1998) definem obesidade como um distúrbio do metabolismo energético, onde ocorre armazenamento excessivo de energia sob a forma de triglicerídios no tecido adiposo.
Para CARNEIRO e GOMES (2001) não há como separar o termo obesidade de excesso de gordura corporal. Todavia , o termo excesso de peso é referido por PIRES (2002, p.30). como um “estadio de pré obesidade, no qual o indivíduo apresenta um excesso de peso para a sua estatura e idade, mas que ainda não é classificada de obesidade” .O mesmo autor refere que o excesso de peso é um primeiro passo para o indivíduo vir a sofrer de obesidade.
2.2. Classificação
Na opinião de BALLONE (2003) a classificação da obesidade tem grande importância estatística sobretudo no que refere ao prognóstico de intercorrências clínicas e consequentemente estimar o risco de morbilidade e mortalidade.
Quanto à circunstância em que ocorre, Gasparini cit. in BALLONE (2003) classifica a obesidade em:
• Obesidade de longa data – inclui os indivíduos obesos desde criança. É a forma de obesidade de mais difícil tratamento. Entre as causas associadas evidencia-se a predisposição genética e a hiperalimentação precoce.
• Obesidade juvenil - afecta predominantemente as mulheres. Surge muitas vezes devido às angústias e/ou às alterações orgânicas características da puberdade.
Os jovens obesos têm menos anos de escolaridade, maior probabilidade de serem solteiras, menores rendimentos e taxas mais elevadas de pobreza no agregado familiar do que os jovens não obesos.
• Obesidade da gravidez – surge na gravidez e no pós parto. Tem como causa fenómenos psíquicos e/ou orgânicos.
• Obesidade por interrupção de exercícios – é comum nas pessoas que praticam desporto e que ingerem grandes quantidades de calorias. Quando deixam de praticar desporto passam a gastar menos calorias, o que os conduz ao aumento de peso.
• Obesidade após parar de fumar – devido à sua acção lipolítica, a nicotina aumenta o gasto de calorias e é responsável pela perda de apetite.
• Obesidade endócrina – este tipo de obesidade encontra-se relacionado com problemas endócrinos, nomeadamente doenças da tiróide, do pâncreas e da glândula supra-renal, no entanto representa apenas 4% das obesidades.
Segundo FERNANDES (2003), a obesidade pode ser classificada tendo em conta a distribuição da gordura corporal. Neste contexto, o autor define três tipos de obesidade:
• Obesidade difusa ou generalizada
• Obesidade andróide ou troncular ( tipo-maçã) – o indivíduo apresenta a gordura universalmente distribuída e localizada no abdómen. Segundo CZEPIELEWSKI (2001) este tipo de obesidade está associada com uma maior deposição de gordura visceral e relacionada intensamente com alto risco de doenças metabólicas e cardiovasculares.
• Obesidade ginóide (tipo-pêra) – apresenta uma distribuição adiposa localizada nas ancas e nas regiões glúteas, fazendo com que a pessoa apresente uma forma corporal semelhante a uma pêra.
Postula CZEPIELEWSKI (2001) que a obesidade se pode classificar de acordo com as suas causas:
• Obesidade por distúrbios nutricionais
- Dieta rica em lípidos
- Fast-food
• Obesidade por inactividade física
- Sedentarismo
- Incapacidade obrigatória
- Idade avançada
• Obesidade secundária a alterações endócrinas
- Síndrome de Cushing
- Hipotiroidismo
- Ovários poliquisticos
- Pseudohipoparatiroidismo
• Obesidade de causa genética
- Autossómica recessiva
- Ligada ao cromossoma X
- Síndrome de Lawrence Moon
- Síndrome Bardet-Bield
• Obesidade secundária
- Fármacos: psicotrópicos, corticóides, antidepressivos triciclicos, lítio
- Cirúrgia hipotalâmica
Em relação ao consumo e gasto de energia, BALLONE (2003) classifica a obesidade em:
• Obesidade por hiperfagia – surge em consequência à ingestão de grandes quantidades de comida. Este tipo de obesidade poderá estar associada a mecanismos psíquicos, tais como depressão, ansiedade, angústia ou carência afectiva, ou ainda a alterações orgânicas, nomeadamente alterações hipotalâmicas, alterações no centro de saciedade, etc.
• Obesidade por gasto ineficiente – inclui-se neste tipo de obesidade, os indivíduos com vida sedentária, aqueles que ingerem mais do que o que gastam.
A obesidade pode ainda ser classificada tendo em conta o nº de células adiposas (CARNEIRO e GOMES, 2001):
• Obesidade hipercelular – ocorre um aumento do nº total de células adiposas, que se pode tornar 5 vezes superior ao nº encontrado num adulto normal. Esta forma de obesidade desenvolve-se na infância ou na adolescência, mas também pode ser observada nos indivíduos com mais de 75% de excesso de peso corporal.
• Obesidade hipertrófica – caracteriza-se por um aumento de tamanho das células adiposas, por acumulação de lípidos. Este tipo de obesidade inicia-se na idade adulta e na gestação.
2.3. Diagnóstico
Para se estabelecer o diagnóstico de obesidade é preciso que se proceda à avaliação da composição corporal. É então necessário que se relacione a gordura corporal com algum padrão ou variedade de graus aceitáveis de gordura para a população em estudo ( GOROLL, Mulley e MAY, 1999).
Segundo NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998) há uma diversidade de métodos utilizados para avaliar a composição corporal, variando desde técnicas precisas, com base laboratorial ( densitometria, espectrometria do K40, impedância bioeléctrica e Hidrometria), até aqueles usados em trabalhos de campo e consultório como os antropométricos.
- Métodos Antropométricos
São métodos relativamente imprecisos e com grandes de erro quando comparados com métodos laboratoriais . contudo, são de fácil manuseio, baratos e praticamente inócuos. Cada método deve ser realizado sempre pelo mesmo profissional e este, estar convenientemente treinado de modo a minimizar os erros, e sempre utilizando o mesmo aparelho ( NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO, 1998 ).
Os mesmos autores referem ainda que para se avaliar o peso a balança deverá ser a mais fidedigna possível e deverá ser aferida previamente e durante as medições. Relativamente à estatura, deverá ser avaliada de pé.
· índice de massa corporal
Segundo ESTEBAN e MINCHOT (2001), actualmente o método de referencia, recomendado pela OM.S. com o qual se estabelece a classificação de obesidade no mundo inteiro, é o Ìndice de Massa Corporal ( IMC, BMI ou Ìndice de Quetelet ).
O IMC para SANTOS (1998), relaciona o peso com o quadrado da altura de acordo com o seguinte quociente: IMC= P/ A2 , sendo o peso em quilogramas e a altura em metros, e como referem NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998), deverá ser analisado segundo as tabelas de percentis.
Postulam ESTEBAN e MINCHOT (2001), que os valores obtidos através do quociente acima mencionado estabelece o diagnóstico de obesidade de acordo com os seguintes valores:
- < 18,5 – baixo peso
- 18,5 a 24,9- peso normal ou desejável
- 25 a 29,9- pré-obesidade
- 30 a 34,9- obesidade classe I
- 35 a 39,9- obesidade classe II
- >40- obesidade classe III ou obesidade mórbida
Na opinião de SANTOS (1998), este índice veio substituir, com vantagem, a prática de diagnosticar a obesidade através do desvio do peso real em relação ao peso ideal, calculado em função da altura do indivíduo em avaliação. A sua desvantagem centra-se por um lado no facto da fidedignidade da técnica depender do indivíduo em avaliação apresentar uma quantidade média de tecido muscular e, por outro pelo facto deste índice não fazer a distinção entre a distribuição andróide ou ginóide da gordura corporal.
· Percentil
O percentil é um gráfico que permite estabelecer relação entre o peso (kg) e a idade (meses(anos) tendo parâmetros definidos:5-10-25-50-75-90-95.
Nas crianças considera-se que :
percentil >95 - obesidade
percentil >85-95 - excesso de peso
· Prega cutânea
É através da medição da espessura das pregas cutâneas que se obtém a noção da quantidade de massa gorda do organismo ( SANTOS, 1998). Contudo, convém lembrar que a pele humana tem 0,5 a 2 mm de espessura, e portanto a mensuração das pregas representa a gordura subcutânea (NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO, 1998).
Para SANTOS (1998), a medição da espessura da prega cutânea é efectuada a diversos níveis, com a ajuda de um compasso construído para o efeito. As pregas mais utilizadas são a subescapular, a supra-íliaca, a tricipital, a bicipital e a da coxa.
Referem GOROLL, Mulley e MAY (1999), que quando se utilizam as pregas cutâneas como medida de gordura, a fidelidade desta medição pode ser um problema, uma vez que, a distribuição do tecido adiposo é influenciada não só com a idade mas também, como refere SANTOS (1998), pelo sexo e grau de adiposidade. Acrescenta SANTOS (1998), que a influencia destes factores faz com que o tecido adiposo subcutâneo se localize a nível do tronco ou das extremidades e por isso, se recomenda o uso das pregas subescapular e tricipital.
- Distribuição da massa corporal
A distribuição da massa corporal tem uma maior importância que a massa corporal total na relação com os factores de risco cardiovasculares, o que significa que se torna fundamental aplicar as técnicas que nos permitam dar informação sobre o tipo de distribuição de gordura corporal, de modo a identificar os indivíduos com maior risco a vir desenvolver patologia cardiovascular ( SANTOS, 1998).
a) Relação cintura /anca
Este método dá-nos uma boa informação sobre a distribuição do tecido adiposo. É um método simples e o mais largamente utilizado desde há muitos anos. A relação entre os dois perímetros medidos a nível abdominal ( no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca) e a nível da coxa ( passando pelos grandes trocanteres) permite-nos distinguir a obesidade abdominal ou de tipo andróide ou ginóide ( SANTOS, 1998).
O aumento desta relação associa-se a um aumento de patologias (NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO 1998). Considera-se o limite de 0,95 para o homem e de 0,85 para a mulher ( SANTOS, 1998). O mesmo autor refere que na maioria dos estudos que se realizaram mostraram uma relação positiva entre a distribuição abdominal de gordura e o risco cardiovascular. Convém lembrar que tal como refere ROCHE (2001), a gordura corporal divide-se em dois tipos: a gordura abaixo da pele, e a que se distribui entre os órgãos internos. Esta última é a que apresenta maior risco para a saúde.
Os autores Després et al. cit in SANTOS (1998), afirmaram que o perímetro da cintura é um melhor indicador da acumulação de gordura que a relação cintura/ anca, e que um perímetro da cintura igual ou superior 100 centímetros pode indicar a presença de tecido adiposo abdominal suficiente para prever um perfil de risco alterado no que diz respeito às doenças cardiovasculares.
b) Métodos imagiológicos
A utilização destes métodos na opinião de SANTOS (1998) permitem avaliar a quantidade de massa gorda e a sua repartição. São exemplos destes métodos: Tomografia Axial Computorizada (TAC), Ressonância Magnética Nuclear RMN) e a Absorciometria bifotónica (DXA).
O autor supracitado considera a TAC como o melhor meio de quantificar o tecido adiposo abdominal, com as desvantagens de expor o indivíduo à radiação, o seu alto custo e a sua baixa disponibilidade de aparelhos. Já a RMN não expõe os indivíduos às radiações, mas é menos fiável que a TAC e a sua metodologia consome bastante tempo.
Em relação ao método DXA, o autor referido diz que este método expõe os pacientes a baixa radiação e permite avaliar três compartimentos- massa gorda, massa magra e massa óssea. Apresenta como vantagem, a precisão pois o peso do paciente calculado pela soma dos três compartimentos medidos difere em menos de 1% do peso real. Contudo, é um método de elevado custo e há poucos aparelhos disponíveis, e também não permite quantificar separadamente a gordura abdominal visceral e a gordura abdominal subcutânea.
Dizem NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998), que para além das técnicas referidas ainda existem outras que nos permite quantificar a massa gorda e a sua repartição: Dual Photon Absoptiometry ( DPA) e Infravermelhos.
O autor refere que o método por radiação infravermelha é simples, rápido e de fácil uso, apresentando, contudo, pouca ou nenhuma vantagem sobre os métodos antropométricos das pregas cutâneas. Baseia-se no conceito de que há variação do padrão de radiação infravermelha, obtido por dois comprimentos de onda diferentes, reflectido pela massa isenta de gordura (MIG) e pela gordura.
Relativamente à DPA, NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998), referem que é uma técnica já usada há vários anos na mensuração do conteúdo mineral ósseo. Consiste na emissão de dois diferentes níveis de energia de uma fonte radioactiva e mede a absorção diferencial dos pontos que nos permite a discriminação entre o mineral ósseo e os tecido moles.
- Densiometria
Na opinião de NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998), a densiometria é a medição da densidade da área gorda de da MIG. Este método requer equipamento altamente especializado, sendo duvidoso quando utilizado em crianças, idosos, gestantes ou indivíduos edematosos.
A hidrodensiometria é o método de referência utilizado para calibrar outros métodos menos precisos, mas de mais execução ( SANTOS, 1998). O autor mencionado anteriormente, refere que este método baseia-se no principio de Arquimedes, e a partir da densidade corporal total medida e tendo em conta a densidade atribuída à massa gorda e à massa magra pode-se calcular as suas proporções relativas.
Este método é de difícil execução dado ser necessário a imersão total do corpo ( SANTOS, 1998), e alguns autores apontam um exactidão teórica de mais ou menos 2,7% da gordura corporal (NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO, 1998).
- Espectrometria do K40
É um método muito dispendioso, baseando-se no facto de que a maior parte do potássio corporal se encontra no componente não ósseo da massa isenta de gordura ( NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO, 1998).
- Impedância Bioeléctrica
Postulam NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO (1998), que este método baseia-se no facto de que a resistência de um tecido biológico a uma corrente eléctrica é inversamente proporcional ao volume desse tecido. Consiste em fazer passar uma fraca corrente eléctrica pelo corpo através da MIG e não através da massa gorda. O autor refere ainda que este método é mais sensível às mudanças do tronco do que dos membros, e portanto é considerado sem muita validade na estimativa da gordura abdominal e visceral.
Este teste é realizado com um aparelho próprio e permite saber de uma forma fácil e rápida a composição corporal e a quantidade de gordura corporal presente ( ROCHE, 2001). Esta ainda acrescenta que esta avaliação é útil, porque nem sempre um peso excessivo para a altura corresponde a uma situação de gordura corporal excessiva, como no caso dos atletas. Acrescenta ainda que se recomenda que a massa gorda represente aos 20 anos, 10 % do peso corporal nos homens e 20% nas mulheres. Estes valores aumentem 1% de três em três anos até aos 50 anos.
- Hidrometria
É um método que consiste na medição da água corporal total (NOLASCO, FISBERG e ESCRIVÃO, 1998).
No ponto de vista de SANTOS (1998), este método baseia-se na diluição sofrida por um isótopo estável de hidrogénio ou de deutério, que é injectado no organismo e passado algum tempo, colhe-se a amostra de sangue e faz-se nela a determinação da concentração do referido isótopo, através da seguinte fórmula C x V= c x v ( C= quantidade de isótopo injectado; V= volume de água corporal total; c= concentração do isótopo na amostra de sangue; v= volume de amostra de sangue colhida).
O mesmo autor diz também que o cálculo da massa magra e da massa gorda a partir do volume da água corporal total baseia-se na hipótese de que a massa magra apresenta um coeficiente de hidratação fixada à volta de 73,2% e a massa gorda não contém água.
2.4. Factores etiológicos
Nas diversas etapas do desenvolvimento, o organismo humano é o resultado de inúmeras interacções entre o património genético, o ambiente socio-económico, cultural e educativo com o seu ambiente individual e familiar. É deste modo, que uma pessoa apresenta diversas características peculiares que as distingue, especialmente na sua saúde e nutrição ( CZEPIELEWSKI, 2001).
Para BALLONE (2003), a obesidade é considerada muito mais do que a falta de carácter, de vontade e de auto-estima ou graves distúrbios psíquicos.
A obesidade não é mais do que o resultado de inúmeras interacções, nas quais chama a atenção os aspectos genéticos, ambientais e comportamentais (CZEPIELEWSKI, 2001).
Factores genéticos
No ponto de vista FERNANDES (2003), algumas pessoas que têm maior susceptibilidade em ganhar peso do que outras, pois trazem consigo o factor hereditariedade. A obesidade é uma doença poligénica em que existem centenas de genes no corpo humano que podem facilitar o ganho de peso. Postulam AMORIM e SALGADO (1998, p. 20), que “ os genes representam um equilíbrio corporal de calorias e energia. As crianças cujos pais são obesos tendem também a ter um peso excessivo. Uma história familiar de obesidade aumenta as hipóteses de se tornar obeso em cerca de 25 a 30 por cento”.
A hereditariedade não condiciona as pessoas a serem gordas. Contudo, influenciando a quantidade de gordura corporal e a sua distribuição, os genes podem tornar uma pessoa susceptível em ganhar peso ( AMORIM e SALGADO 1998). Daí que muitos autores, nomeadamente, CARNEIRO e GOMES (2001), referirem que diversos estudos efectuados têm mostrado haver associação entre a obesidade e hereditariedade.
Para a autora GAGNON (1999), os factores genéticos podem ser de dois tipos. O primeiro faz referência ao papel primordial que a genética tem sobre a obesidade como no caso dos síndromes Prader- willi, Bardet- bield, ashlstrom, Cohem e Carpenter. O segundo tipo refere-se à predisposição familiar. Contudo, é difícil dissociar o factor genético dos factores ambientais, pois a genética influencia a distribuição do tecido adiposo, ao passo que os factores ambientais agem sobre a quantidade de gordura corporal.
Têm-se realizado várias pesquisas genéticas para a obesidade com o intuito de encontrar algum gene que produzisse uma proteína anormal ou hormona capaz de interferir com a sensação de saciedade ( BALLONE, 2003). O autor refere que no meio da década de 90, foi descoberta uma hormona chamada leptina, relacionada à saciedade, mas 10 anos depois foi provado que somente alguns indivíduos apresentam anormalidades relacionadas a esta substância.
Em 1995 foi encontrado, primariamente associado ao tecido adiposo da área abdominal, uma anomalia num responsável pelo receptor adrenérgico beta-3, associado à obesidade, sendo que esta anomalia genética resulta na diminuição da produção de calor e menor capacidade para utilizar gordura, resultando em menor taxa metabólica e consequente ganho de peso (BALLONE, 2003). Diz ainda o autor que, na actualidade as pesquisas têm dado grande ênfase ao papel das mitocôndrias na obesidade. A mitocôndria não é mais do que a parte da célula envolvida com a utilização de energia, e é sempre herdada da mãe. Este facto pode explicar a grande correlação entre o peso da criança e o peso da mãe.
Idade
Na opinião de AMORIM e SALGADO (1998), à medida que se vai envelhecendo a quantidade de músculos vai diminuindo e a gordura passa a representar maior percentagem do peso total do corpo . Para BALLONE (2003), esta menor quantidade de massa muscular significa uma diminuição no metabolismo e na necessidade de calorias. Pois, como com o avançar da idade a taxa metabólica diminui, os indivíduos não precisam de ingerir tantas calorias para manter seu peso como quando mais jovens.
No entanto, Long e Neville (1995), consideram a idade como não sendo um factor causal da obesidade. Para as autoras, a maior parte das pessoas idosas não é excessivamente obesa, e um peso ligeiramente excessivo é considerado benéfico para as pessoas idosas, uma vez que, lhes proporciona uma fonte de nutrientes durante períodos de stress ou doença.
Sexo
De acordo com BALLONE (2003), os homens apresentam uma maior quantidade de músculos do que as mulheres, os quais queimam mais calorias do que a gordura. Por esse motivo, é que a dieta de um homem costuma conter 20 % de calorias a mais do que uma mulher com o mesmo peso e a mesma idade.
O mesmo autor refere que os homens têm taxas metabólicas maiores do que as mulheres, o que significa que o sexo masculino, como já foi referido , requer mais calorias para manter o seu peso corpóreo.
Actividade física
Os estilos de vida inactivos são tão importantes como a dieta na etiologia da obesidade, representando possivelmente o factor dominante (Prentice e Jebb cit in GREEN, 1998).
“ È claro que as pessoas mais activas requerem mais calorias que as menos activas. A actividade tende a diminuir o apetite em indivíduos obesos enquanto aumenta a habilidade do organismo em metabolizar preferencialmente gordura como fonte de energia” ( BALLONE, 2003, p.5). Acrescenta AMORIM e SALGADO (1998), que as pessoas com excesso de peso são geralmente menos activas, isto é, têm uma vida cada vez mais sedentária. Estudos realizados na Grã-Bretanha, demonstraram que há provas que sugerem que a ingestão calórica média diminui, mas a obesidade aumentou, o que sugere que os níveis de actividade física têm diminuído (GREEN, 1998), indo ao encontro da opinião dos autores acima citados.
Alimentação
As pessoas obesas tendem a fazer uma dieta com muito mais gorduras do que as pessoas de peso normal ( AMORIM e SALGADO, 1998). Em estudos efectuados, tal como refere GREEN (1998), a obesidade está mesmo associada a uma dieta rica em lípidos. Contudo, ROCHE ( 2001), refere que qualquer tipo de comida pode engordar o que está em causa é a quantidade ingerida.
Os alimentos de valor lipídico elevado são mais energéticos e, por isso, possuem maior quantidade de calorias por porção. Do mesmo modo, a conversão dos lípidos em tecido adiposo gasta menos energia que a conversão dos glúcidos no mesmo. Para além disso, quando ingerimos em excesso, relativamente à necessidade de energia, há uma maior probabilidade de armazenamento no tecido adiposo que os glúcidos ( GREEN, 1998).
Também este tipo de alimentos não satisfazem o nosso apetite da mesma forma que os alimentos ricos em glúcidos, sendo mais fácil ingerir os primeiros em maiores quantidades ( GREEN, 1998).
Acrescentam AMORIM e SALGADO (1998), que mesmo quando as calorias são as mesmas, uma pessoa com uma dieta rica em gorduras tende a armazenar mais calorias do que uma pessoa com um regime alimentar baixo em gorduras.
Um factor que pode também conduzir a um ganho de peso, é o hábito de fazer refeições desorganizadas ou à pressa , sinónimo de refeições ricas em alimentos gordos e/ ou em doces, logo ricos em calorias provocando um aumento do número e tamanho de células adiposas ( ROCHE, 2001).
Factores sócio- económicos
“ Comer é um hábito social. Alguns grupos étnicos pensam que a “gordura é formosura” e encorajam as pessoas a ingerirem grandes quantidades de alimentos. Os pais que, por hábito social ingerir grandes quantidades de alimentos, passam esse hábito aos filhos” ( Long e Neville, 1995, p. 1286). Para os mesmos autores as reuniões sociais implicam também, geralmente, comer ou beber alimentos de valor calórico elevado.
Postula FERNANDES (2003), que o maior poder de compra favorece um consumo alimentar de fraca qualidade e em maior quantidade; por outro lado, os fracos recursos económicos favorecem o consumo de alimentos com maior quantidade de gorduras, que propiciam um aumento de peso.
Por outro lado, SANTIAGO e MESQUITA (1999), dizem que é geralmente nos meios de mais baixos recursos que a obesidade é mais prevalente, explicando este facto através dos condicionamentos relativos à falta de contacto com conhecimentos científicos acerca da obesidade, em contraponto com uma maior difusão de “ corpos modelos” através da comunicação social nos meios sociais mais elevados.
Factores culturais
A modernização da nossa sociedade actual faculta todo o conforto e dá mais reforço ao sedentarismo. As mudanças de emprego, a aptidão culinária e uma vida socialmente agitada ( pois são numerosos os convites para festas e outros eventos), favorecem o consumo excessivo de doces, gorduras e bebidas alcoólicas ( FERNANDES, 2003).
Factores psicológicos
Segundo Long e Neville (1995), nas situações de stress as pessoas tendem a ingerir maior quantidade de alimentos ou alimentos de maior valor calórico, consequentemente aumentando de peso. Os mesmos autores referem que muitas vezes se verifica que estas situações desencadeiam uma necessidade compulsiva de comer, provocando obesidade grave.
Também para SANTIAGO e MESQUITA (1999), um aumento de consumo calórico ocorre em situações de stress psicológico, assim como as situações psicológicas agudas ou crónicas podem desencadear uma alimentação anómala.
Factores endócrinos
“ Tanto na menarca ( primeira menstruação) como na menopausa, ocorrem, por vezes, distúrbios hormonais, que podem alterar o metabolismo, tais como aumentar a ansiedade, o que pode levar a que as mulheres aumentem o consumo alimentar” ( FERNANDES, 2003). A menopausa de facto, faz com que as mulheres começam a ganhar peso, uma vez que a sua taxa metabólica diminui ainda mais (BALLONE, 2003).
Segundo Long e Neville ( 1995), há determinadas hormonas que podem influenciar o uso das calorias ingeridas. Por exemplo, as hormonas tiroideias estimulam o metabolismo basal, exigindo dispêndio de energia e calorias, assim, a pessoa que sofre de deficiência da tiróide poderá explicar o aumento de peso. Também para as autoras, a diminuição de insulina na Diabetes Mellitus e o aumento de produção de cortisol no Síndrome de Cushing, provoca excesso de peso.
Sistema Nervoso Central
“ A neurociência tem-se preocupado em detectar uma área cerebral mais directamente relacionada com a obesidade. Actualmente parece ser o hipotálamo o órgão mais directamente relacionado ao desejo de comer, sendo o assim chamado centro de saciedade localizado no hipotálamo ventre medial” ( BALLONE, 2003, p. 5). A destruição deste vai causar hiperfagia e obesidade, com hiperinsulinémia ( excesso de secreção de insulina), alteração da termogênese e do sistema nervoso autónomo ( CARNEIRO e GOMES, 2001).
Quanto à parte lateral do hipotálamo, compreende o centro da fome e a sua destruição leva a um estado de diminuição de ingestão alimentar e ao emagrecimento acentuado ( BALLONE, 2003).
Outros factores
Vários outros factores estão envolvidos na génese da obesidade, dizem CARNEIRO e GOMES (2001). Afirmam os autores que após o casamento e com o envelhecer observa-se um ganho ponderal. Também a cessação do vício de fumar e a gestação têm relação com o aumento do peso, assim como a adopção de um estilo de vida sedentário, já anteriormente referido. A utilização de determinadas terapêuticas farmacológicas, como glicocorticóides, antidepressivos tricíclicos, anticoncepcionais orais além do lítio, podem também causar aumento de peso.
Em relação à gravidez acrescenta BALLONE (2003), que o peso da mulher tende a aumentar 4 a 6 quilogramas em média, após cada gravidez, sendo que este ganho de peso pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade entre as mulheres.
2.6. CONSEQUÊNCIAS DA OBESIDADE
A percepção de que o excesso de peso pode provocar danos para o ser humano é antiga. Hipócrates há mais de dois mil anos já notara maior tendência à morte súbita em obesos. Também descreveu alterações do ciclo menstrual e infertilidade em mulheres. A obesidade deve ser considerada uma entidade patológica importante, além do grande trauma social que causa (CARNEIRO e GOMES, 2001).
2.6.1. consequências clínicas
Além do efeito externo ( questões estéticas e psicossociais) a obesidade causa graves danos à saúde, o que é negligenciado pela maioria dos obesos pois segundo uma pesquisa americana, 60% dos obesos não acreditam que seu excesso de peso é um risco para a sua saúde. Várias são as complicações médicas da obesidade que vão desde doenças circulatórias e dermatológicas até cancro e morte súbita (COSTA, 2000)
Tabela 1 - Riscos relativos a problemas de saúde frequentemente associados ao excesso de peso.
Muito aumentado | Moderadamente aumentado | Ligeiramente aumentado |
Diabetes mellitus (tipo 2) Hiperlipidemia Resistência à insulina Dispneia | Doença coronária Hipertensão arterial Osteoartrite (joelhos) Hiperuricemia/gota | Cancro (cancro da mama em mulheres pós-menopáusicas, cancro do endométrio, cancro do cólon) |
Fonte: ROCHE – Riscos para a saúde. [em linha] Brasil: Roche Farmacêutica, 2001 [citado em2001] [disponível em <URL:http://www.roche.pt/emagrecer/imc/emagrecer.htm
De acordo com GREEN (1998) os riscos da obesidade para a saúde estão associados à localização dos depósitos adiposos. Assim, os indivíduos cuja gordura se acumula em torno da cintura pélvica têm maior predisposição para doenças metabólicas, nomeadamente doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e doenças da vesícula. Os indivíduos cuja gordura se acumula nas ancas e região glútea são menos vulneráveis a essas doenças.
• Sistema cardiovascular
Postula FERNANDES (2003) que os indivíduos com excesso de peso estão mais propensos a apresentar patologias cardiovasculares.
Estima-se que 75% da hipertensão na população em geral pode estar associada à obesidade (COSTA, 2000).
De acordo com ESCRIVÂO e LOPEZ (1998) os mecanismos que promovem o aparecimento da hipertensão arterial não são bem conhecidos. Os estudos hemodinâmicos têm revelado que nos indivíduos obesos há uma elevação do débito cardíaco e apontam a expansão do volume sanguíneo como causa do aumento da pressão arterial.
Os autores supracitados referem ainda que a diminuição da excreção de Na, causada pelo hiperinsulinismo também poderá ser responsável pelo aumento da pressão arterial. “Também observou-se que, com o aumento do peso corporal, há aumento da relação aldosterona/actividade da renina plasmática, o que provocaria retenção de líquidos e aumento da pressão arterial“ (ESCRIVÂO e LOPEZ ,1998, p.392).
Estudos populacionais referidos por MANO (2002) revelam que a prevalência da hipertensão dobra em adultos jovens obesos e é pelo menos 50% maior nos adultos mais velhos (40-60 anos) com excesso de peso quando comparado com indivíduos de peso normal.
Em relação à doença cardíaca isquémica, TORRES, REIS e MEDINA (1991) referem que a obesidade pode ser um factor de risco indirecto, através da predisposição para a diabetes mellitus, HTA e hiperlipidémia, ou actuar como factor independente.
De acordo com RAMIREZ (200?) os indivíduos obesos mórbidos apresentam aumento da sobrecarga cardíaca e consequentemente há um estimulo para o desenvolvimento de hipertrofia do coração. O débito cardíaco aumenta devido ao aumento do volume de sangue ejectado pelo coração, necessário para irrigar os tecidos, não havendo modificação da frequência cardíaca. Seguindo esta linha de pensamento ESTEBAN e MINCHOT (2001) referem que anomalia cardíaca mais característica nestes doentes é a hipertrofia ventricular esquerda, que se evoluir pode originar episódios de insuficiência cardíaca congestiva, sobretudo se o peso ultrapassa os 140% do peso ideal.
A circulação venosa de retorno e linfática encontram-se alteradas, podendo conduzir a edema intersticial e síndroma varicoso. O risco de trombose aumenta com o peso, sem relação com o tipo de distribuição da gordura (ESTEBAN e MINCHOT, 2001). Neste contexto, BALLONE (2003) afirma que a actividade fibrinolítica, indispensável para a fluidez do sangue se encontra diminuída, predispondo à formação de coágulos. Neste caso, os níveis de Antitrombina III, importante coagulante endógeno, está significativamente reduzido e obesos mórbidos.
Os lípidos sanguíneos encontram-se alterados. Verifica-se um maior risco aterogénico, uma vez que as lipoproteínas de baixa densidade (colesterol LDL) podem estar elevadas e as lipoproteínas de alta densidade (colesterol HDL) podem estar diminuídas. (ESTEBAN e MINCHOT, 2001).
Na obesidade, Bjorntorp cit in ESTEBAN e MINCHOT (2001) afirma que existe um aumento de lipoproteínas de muito baixa densidade (colesterol VLDL) a nível do fígado, associado a hiperinsulinémia e uma diminuição da actividade lipoproteína-lipase), pelo que é frequente encontrar hipertrigliceridémia.
• Sistema Pulmonar
De acordo com ESTEBAN e MINCHOT (2001) os indivíduos obesos podem sofrer diversos transtornos pulmonares, desde pequenas alterações funcionais até ao síndrome de Pickwick e síndroma de apnéia de sono.
Segundo CARNEIRO e GOMES (2001) o aumento de gordura no tórax e abdómen pode provocar alterações no padrão respiratório. Nestes casos, há uma diminuição do volume e da complacência pulmonares e aumento do trabalho do diafragma. Em grandes obesos ocorre distúrbio da relação ventilação/perfusão, caracterizado por hipoxémia com níveis normais de PCO2. Este distúrbio é mais significativo quando em posição supina - posição em que o efeito compressivo exercido pela gordura abdominal sobre os pulmões é maior. Esta síndrome de hipoventilação é chamada Picwick.
No síndroma de apnéia obstrutiva do sono o indivíduo “ ressona (...) e acorda cansado, tem sonolência diurna e adormece com facilidade durante o dia” (CARDOSO, 2002).
• Metabolismo Glicídico
De acordo com ESCRIVÃO e LOPEZ (1998) a prevalência da diabetes mellitus tipo 2 é 2,9 vezes maior em indivíduos obesos do que em não obesos. A obesidade é responsável por aproximadamente 25% dos casos.
A obesidade é um factor de risco importante para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Na opinião de ESTEBAN e MINCHOT (2001) existe uma forte correlação negativa, sobretudo em mulheres, entre a gordura central abdominal e a sensibilidade à insulina, que é independente de outros factores nomeadamente, história familiar de diabetes mellitus tipo 2 ou antecedentes de diabetes gestacional.
Para os autores supracitados, a insulinorresistência , que se desenvolve apartir de 120% do peso ideal, tem um papel primordial no desenvolvimento da Diabetes Mellitus.
A síndrome de resistência insulínica, comum nos obesos, corresponde a uma resposta metabólica aquém da esperada. Os obesos insulinorresistentes mantêm a sua glicémia plasmática às custas dos níveis elevados de insulina. A permanência desta condição clínica a longo prazo é capaz de induzir a falência da secreção de insulina pelas células β do pâncreas com o desenvolvimento de intolerância à glicose e posteriormente D.M. II (CARNEIRO e GOMES, 2001).
• Doenças da vesícula biliar
A litíase biliar é 3 a 4 vezes mais frequente em doentes obesos, sobretudo em mulheres. A sua prevalência aumenta com e idade e o grau de obesidade. “Estes cálculos compõe-se principalmente de colesterol, pela sobressaturação da bílis por colesterol e pela estase biliar que apresentam estes doentes” ( ESTEBAN e MINCHOT, 2001, p.40). De acordo com os mesmos autores, o risco de desenvolver cálculos biliares aumenta durante as perdas de peso, especialmente quando são rápidas.
• Sistema músculo-esquelético
De acordo com CARNEIRO e GOMES (2001) observa-se uma associação entre obesidade com gota e osteoartrose.
O desenvolvimento de osteoartrose acelera-se, devido ao excesso de peso que suportam as articulações. A mais afectada é a articulação do joelho. O deslizamento da epífise da cabeça do fémur também é comum em obesos (ESCRIVÃO e LOPEZ 1998).
• Neoplasias
Estudos importantes revelaram um maior risco de neoplasias em indivíduos obesos, como o cancro da próstata ou colo-rectal no homem e o cancro do endométrio, cérvix, ovário, vesícula biliar e possivelmente cancro da mama nas mulheres. Os tumores hormono-dependentes relacionam-se com as anomalias endócrinas, especialmente com o aumento do quociente estrogénios/androgénios que acompanham a obesidade central (ESTEBAN e MINCHOT, 2001).
• Alterações endócrinas
Segundo ESTEBAN e MINCHOT (2001) a excreção urinária de cortisol está aumentada, sobretudo nas mulheres com obesidade central, com resposta normal ao teste com 1 mg de dexametasona e resposta aumentada de cortisol ao ACTH e CRH.
Os autores supracitados referem que algumas doenças endócrinas cursam com a obesidade, como o Síndrome de Cushing, o hipotiroidismo e o ovário poliquistico, pelo que se deve descartar com uma correcta anamnese e exploração física.
Segundo BALLONE (2003) em mulheres obesas verifica-se com maior frequência ovários poliquisticos, bem como uma maior produção de hormonas masculinas (androgénios) pelos ovários. Este facto pode originar hirsutismo, irregularidades menstruais, infertilidade e aumento dos ovários.
• Alterações dermatológicas
As alterações encontradas com mais frequência são as estrias, a fragilidade da pele na região das pregas cutâneas, com tendência às infecções fúngicas e acantose nigricans, com escurecimento da pele nas axilas e pescoço (ESCRIVÃO e LOPEZ, 1998).
2.6.2. Consequências psicossociais
De acordo com MATOS (1990) a obesidade apresenta desvantagens sociais que se relacionam com atitudes de rejeição da sociedade em relação ao obeso. Existem estudos que referem a discriminação a nível escolar e de emprego ( Bray cit in. MATOS, 1990)
A discriminação social em relação aos obesos é, segundo ESTEBAN e MINCHOT (2001) mais evidente no caso das mulheres.
Como refere CAMPOS (1998), foram observados transtornos no esquema corporal do obeso, caracterizada por distúrbios no reconhecimento das medidas e funções corporais e na discriminação do seu papel sexual. Como consequência, verificou-se uma depreciação da própria imagem física, que leva a que os obesos se sintam inseguros em relação com os outros, imaginando que estes os vêm com desprezo e hostilidade. Estes sentimentos estão intimamente associados ao funcionamento social prejudicado, que estes indivíduos possuem.
Na opinião de Brownell e Finley cit in. MATOS (1990), o auto-conceito dos obesos, em qualquer faixa etária, apresenta-se dentro dos limites considerados normais e não difere dos não obesos. No entanto, a auto-confiança pode estar afectada devido às dificuldades em emagrecer e manter as perdas de peso. Alguns estudos referidos por Stunkard cit in. MATOS (1990) demonstraram que um grande número de doentes obesos reage às dietas apresentando fraqueza, irritabilidade, nervosismo e depressão.
2.7. TRATAMENTO DA OBESIDADE
A terapêutica da obesidade é simples em teoria mas difícil na prática” (Bjorntorp cit in GREEN, 1998, p.17).
No panorama de possibilidades terapêuticas, VITOLO e CAMPOS (1998) referem que o melhor caminho para não se tornar obeso seria a prevenção. No entanto, estabelecida a obesidade, o tratamento requer uma abordagem clínica, psicológica e multidisciplinar.
De acordo com ESTEBAN e MINCHOT (2001), o tratamento da obesidade como doença crónica deverá ter um carácter multidisciplinar, incluindo o tratamento dietético como pedra angular ( com a realização de uma dieta pessoal que se adapte às características individuais de cada doente), o exercício físico e a modificação de comportamentos, sendo por vezes necessário o recurso a fármacos ou a um tratamento cirúrgico.
• Tratamento dietético
A terapêutica dietética é a base obrigatória da correcção do excesso de massa gorda (SANTIAGO e MESQUITA, 1999).
Na opinião de COSTA (2000) a escolha do tratamento certo deve ser criteriosa e devidamente acompanhada por um profissional de saúde que definirá as quantidades correctas, considerará as preferências alimentares, os objectivos a serem atingidos e assim levar a uma perda de peso controlada, melhorando a qualidade de vida e diminuindo os riscos de doenças.
De acordo com TORRES, REIS e MEDINA (1991) o regime alimentar deve ser individualizado, atendendo ao sexo, idade, ocupação e horários, preferências alimentares do indivíduo e ainda à existência de doenças associadas, medicação usada e estado psicológico do doente.
Neste contexto, ESTEBAN e MINCHOT (2001) afirmam que as normas dietéticas surgem como um plano alimentar estruturado mas aberto, encaminhado para reduzir o aporte energético absoluto do indivíduo, atenuar o rendimento calórico dos alimentos ingeridos e corrigir as anomalias do padrão alimentar. O objectivo fundamental é reduzir o tecido adiposo em excesso. Secundariamente existem outros objectivos, não menos importantes, tais como:
• Manter o peso perdido;
• Diminuir o risco de complicações;
• Restabelecer o equilíbrio psicossomático comprometido;
• Corrigir erros anteriores de dietas;
• Modificar comportamentos alimentares anómalos.
Os autores supracitados referem que para avaliar o consumo alimentar habitual, o individuo deverá responder a um questionário alimentar (que inclua a frequência de consumo em 24 horas e perguntas complementares) ou então efectuar um registo semanal complementar mediante um questionário pessoal.
A primeira fase da perda de peso inclui a programação de uma dieta restritiva em 1/4 a 1/3 de calorias habituais prévias, nunca inferior a 1000-1200 Kcal. Postula CZEPIELEWSKI (2001) que dietas muito restritivas (inferiores a 800 Kcal) não são recomendadas, dado que apresentam riscos metabólicos graves como acidose e arritmias cardíacas. Para CARNEIRO e GOMES (2001) as dietas com níveis muito reduzidos de hidratos de carbono e calorias conduzem à diminuição dos níveis séricos de insulina, proteólise e cetose, com aumento da diurese e desidratação.
De acordo com ESTEBAN e MINCHOT (2001) após o restabelecimento do conteúdo energético total da dieta, deve-se decidir a distribuição de calorias entre os 3 principais nutrientes, baseando-se nos requerimentos mínimos de cada um deles, a sua densidade energética e o maior ou menor rendimento energético do nutriente. Deve assegurar-se a presença de micronutrientes nos valores que determinam as RDA, o que torna difícil dietas abaixo das 1300 Kcal, sendo aconselhado por isso, um suplemento vitamínico.
Segundo CZEPIELEWSKI (2001) a forma de orientação dietética mais aceite cientificamente é a dieta hipocalórica balanceada, na qual o indivíduo recebe uma dieta calculada com quantidades calóricas dependentes da sua actividade física. Os alimentos são distribuídos em 5 ou 6 refeições por dia, com aproximadamente 50 a 60% de hidratos de carbono, 25 a 30% de lípidos e 15 a 20% de proteínas.
Ultrapassada a primeira fase de tratamento, programar-se-á um período de estabilização , cujo objectivo principal será o de manter o peso perdido evitando a sua recuperação. Deve-se contrariar todos os fenómenos adaptativos que se opõem ao emagrecimento e que causam numerosos ganhos ponderais. Mantém-se ou atenua-se a restrição calórica, associando o exercício físico diário para se conseguir potenciar a massa magra, melhorar a mobilização de substractos como a gordura e activar o sistema nervoso simpático (ESTEBAN e MINCHOT, 2001).
• Exercício físico
O exercício físico é sem dúvida condição básica para auxiliar a perda e manutenção do peso.
De acordo com CZEPIELEWSKI (2002) é importante considerar que actividade física é qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que resulta num gasto energético e que o exercício é uma actividade física planeada e estruturada com o objectivo de manter o condicionamento físico.
O autor supracitado afirma que o exercício tem uma série de vantagens para o indivíduo obeso, melhorando o rendimento do tratamento dietético. Entre os diversos efeitos incluem-se:
- Diminuição do apetite;
- Aumento da acção da insulina;
- Melhora o perfil das gorduras;
- Melhora a sensação de bem-estar e auto-estima.
Neste contexto, ESTEBAN e MINCHOT (2001) acrescentam que o exercício melhora os factores de risco cardiovascular, diminuindo a T.A. e a F.C., melhora o metabolismo miocárdico e diminui a resposta catecolaminica, além de diminuir os níveis de triglicerídeos e aumentar os níveis de colesterol HDL.
O exercício deve ser aplicado, respeitando-se os limites de cada um (idade, doenças associadas e grau de obesidade). Segundo CZEPIELEWSKI (2002) o paciente deve ser orientado a realizar exercícios regulares, pelo menos de 30 a 40 minutos, 4 vezes por semanas. Os exercícios inicialmente deverão ser leves aumentando progressivamente para moderados.
Em algumas situações, o exercício físico poderá requerer um profissional e um ambiente especializado. Na maioria das vezes, a recomendação da simples caminhada rotineira já traz grandes benefícios, estando incluída no que se denomina “mudança do estilo de vida” do paciente (CZEPIELEWSKI, 2002).
• Tratamento farmacológico
As intervenções farmacológicas na obesidade encaminham-se para 3 linhas fundamentais (ESTEBAN e MINCHOT, 2001):
- Acalmar a sensação de fome, de forma a diminuir a ingestão de alimentos;
- Interferir com a absorção intestinal dos nutrientes;
- Incrementar o gasto metabólico dos nutrientes.
- Estar isento de riscos durante o tratamento prolongado.
Na opinião de COSTA (2000) existem permissas fundamentais para a indicação de farmacoterapia em obesos, nomeadamente:
• A medicação não deve ser o único meio de tratamento (deve estar associada à dieta e exercícios);
• Deve estar focada para o tratamento geral do doente e não exclusivamente para a redução de peso;
• Devem ser sempre prescritos e acompanhados pelo médico.
De acordo com AGRAWAL , WorZniaK e Diamond (2001) os candidatos ao tratamento farmacológico para perder peso são:
- Doentes que não conseguiram perder peso apenas com dieta e exercício
- Doentes com índice de massa corporal maior que 27 ou 30
- Doentes com factores de risco ou situações patológicas associadas à obesidade.
Na opinião dos autores supracitados, este tipo de terapêutica não deve ser utilizado durante a gravidez ou amamentação. Em doentes com história psiquiátrica ou com disfunções hepáticas, a sua utilização deve ser feita com precauções especiais. Qualquer problema médico deve estar estabilizado antes de serem prescritos estes fármacos.
O uso de medicamentos anti-obesidade pode ser individualizado ou como um adjuvante para promover a perda de peso ou a manutenção do peso depois de ter emagrecido (AGRAWAL, WorZniaK e Diamond,2001).
Os fármacos para o combate da obesidade dividem-se em 3 grupos principais, de acordo com o seu modo de acção, actuando (COSTA, 2000):
• Sobre o SNC modificando o apetite ou a conduta alimentar
- Catecolaminérgico: Fentermina, Fenproporex, Anfepramona, Mazindol, Fenilpropanolamina
- Serotoninergico : Fluoxetina, Sertralina
- Serotoninergico + Catecolaminérgico: Sibutramina
• Sobre o metabolismo, incrementando a termogénese (com produção de calor e maior consumo de calorias)
- Efedrina, Cafeína e Aminofilina
• Sobre o sistema gastrointestinal diminuindo a absorção de gorduras
- Orlistat
Segundo Dias cit in. AGUIAR (2002) em Portugal existem apenas 2 fármacos, aprovados pela OMS, para o tratamento da obesidade. São eles o Orlistat (Xenical®), com acção periférica, e o Sibutramina ( Reductil®), com acção central.
O orlistat inibe as lipases intestinais e pancreática, tendo a capacidade de diminuir a absorção das gorduras, com consequente perda de peso e com a vantagem adicional de melhorar o metabolismo lipídico (reduz o colesterol total e o colesterol LDL) e hidrocarbonado ( ESTEBAN e MINCHOT, 2001).
Postula Dias cit in. AGUIAR (2002) que a sibutramina é um fármaco de dupla acção: provoca o aumento de saciedade e reduz a quantidade de alimentos ingeridos e ainda diminui o declínio da taxa metabólica pós-redução de peso. Seguindo esta linha de pensamento, ESTEBAN e MINCHOT (2001) afirmam que a sibutramina tem um potente efeito anorexígeno, uma vez que inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina e possui um efeito termogénico evidente, tendo-se revelado bastante eficaz , nos ensaios efectuados, na perda de peso e na sua manutenção.
A obesidade que decorre com depressão ou transtornos alimentares associados, pode beneficiar de tratamento com ansiolíticos ou antidepressivos. A fluoxetina, a paroxitina ou a sertralina são cada vez mais utilizados nestes doentes, sobretudo nos que possuem comportamento bulímico (ESTEBAN e MINCHOT, (2001).
Seguindo este raciocínio, AGRAWAL, WorZniaK e Diamond (2001) afirmam que a fluoxetina não tem indicação para perda de peso, mas pode ser uma boa opção terapêutica para doentes obesos deprimidos, porque não provoca ganho ponderal.
Segundo COSTA (2001) estão a ser estudadas para o emagrecimento 2 novas substâncias: a leptina e a colecistocinina. A leptina é um neuroléptico com acção de supressão do apetite. Esta substância tem criado boas expectativas em torno dos seus potenciais efeitos sobre o controle da ingestão e sobre diferentes parâmetros metabólicos da obesidade, entretanto há uma discrepância entre estudos necessitando de uma maior avaliação para a sua libertação. A colecistonina é um neurotransmissor que é capaz de produzir sensação de saciedade. A eficiência desta substância ainda está em fase de comprovação
De acordo com o autor supracitado, a suspensão temporária desses fármacos leva a retomada de ganho de peso. Desta forma aconselha-se que a duração do tratamento seja prolongado tanto quanto seja necessário, em particular em pacientes que apresentem outros factores de risco. A dieta e o exercício físico devem estar fortemente incluídos no tratamento, de modo que durante a suspensão gradual do medicamento, o novo peso seja mantido.
• Tratamento cirúrgico
A Conferência do Consenso do Instituto Nacional de Saúde Americana aceitou que a cirúrgia é o tratamento mais efectivo da obesidade mórbida. De acordo com ESTEBAN e MINCHOT (2001) a cirúrgia só deverá ser realizada por especialistas e tem uma série de indicações:
- IMC superior a 40, mantido por mais de 5 anos
- Idade entre 18 a 55 anos
- Perfil psicológico adequado
- Fracasso no tratamento dietético e/ou farmacológico
- Aspectos legais: informação sobre os riscos e complicações
- Consentimento.
Segundo os autores supracitados, existem diferentes técnicas bariátricas que se dividem em:
- Restritivas – são dirigidas para a diminuição da capacidade gástrica. A mais utilizada é a gastroplastia vertical em banda.
- Má absorção – são do tipo bypass ileocólico ou bilio-intestinal.
- Mistas - destaca-se a técnica de Scopinaro (inclui uma diminuição da capacidade gástrica e bypass biliopancreático) como a mais eficaz na redução de peso a longo prazo.
Na opinião de RAMIREZ (200?) as operações exclusivamente restritivas têm efeito menos intenso sobre a redução ponderal. Resultam em reduções de 40 a 50% do excesso de peso a longo prazo, mas falham nos doentes que gostam de alimentos ricos em açúcar.
Estas cirúrgias trazem algumas complicações, nomeadamente no local da incisão, como seromas, abcessos e hérnias. No pós-operatório imediato podem surgir broncopneumonias, embolia pulmonar e deiscência de pontos gastrointestinais. A Taxa de mortalidade nestas cirurgias ronda 1% (RAMIREZ, 200?).
• Intervenções psicológicas e comportamentais
Emagrecer pressupõe uma modificação dos hábitos alimentares e do comportamento, pelo que se revela essencial a intervenção psicológica e comportamental assegurada por profissionais e técnicos competentes ( GAGNON, 1999).
De acordo com GREEN (1998), a modificação do comportamento é muitas vezes utilizada em conjunto com as estratégias já referidas ( dieta, tratamento farmacológico, etc.). Para esta autora é importante determinar as razões pelas quais e quando o paciente come demasiado, para modificar o seu comportamento alimentar. O apoio social e psicológico revelam-se fundamentais nesta mudança.
Na opinião de GAGNON (1999), a modificação do comportamento de uma pessoa pode assumir diversas formas:
- Um controle de estímulos – a pessoa aprende a reconhecer os estímulos que a levam a comer em demasia.
- Planificação das circunstâncias onde haverá ocasiões de comer mais (nos restaurantes, por exemplo).
- Vigilância pessoal – com a ajuda de um diário alimentar, a pessoa regista os alimentos que escolhe, bem como a hora, quantidade, emoções, actividades e as circunstâncias que estão ligadas ao seu consumo alimentar, para assim conhecer e controlar o seu apetite energético.
- Uma actividade susceptível de fazer esquecer a comida quando a fome aperta demasiado.
- Uma preocupação pessoal destinada a proporcionar prazer, de modo a evitar que o prazer de comer se sobreponha a todo o resto.
Os autores VITOLO e CAMPOS (1998, p. 316) referem que “ a abordagem psicoterápica multidimensional, com o objectivo de amadurecer e emagrecer ao lado de dietas e exercícios, pode ajudar o obeso a ser mais feliz com o seu corpo, consigo mesmo, na família e na sociedade”.
3 - Prevalência
A obesidade corresponde á alteração mais prevelente nos países desenvolvidos. È uma patologia que afecta mais de 10% da população mundial.
De acordo com FREITAS(2001) as razões do aumento da prevalência da obesidade inclui:
³ - Urbanização da população mundial;
³ - Aumento da disponibilidade dos alimentos, nomeadamente dietas com elevado teor de gordura;
³ - Redução da actividade física.
O mesmo autor defende que os estilos de vida sedentários, os transportes motorizados e o equipamento motorizado diminuíram substancialmente a actividade física e que contribui para aumento da obesidade.
Postula MARGOTO (2003) que a prevalência da obesidade na Europa é estimada em 10 a 20% nos homens e 10 a25% nas mulheres.
Segundo o mesmo autor na frança 33% da população tem excesso de peso e 9% são obesos. Na Alemanha cerca de 15 a 20% dos homens e 15 a 25% das mulheres têm excesso de peso.
A prevalência da obesidade atingiu proporções epidémicas em todo o mundo e pela primeira vez na história do homem excedeu a desnutrição. Em Portugal verificaram-se valores de 35% a 14,4%.
Segundo PONS (1997) 75% das crianças obesas serão 30 a 50% adultos obesos. A sua prevalência tem vindo a aumentar, afectando 20 a 27 % das crianças e adolescentes e 33% dos adultos. Em Portugal embora não existam dados estatísticos estima-se que ronde os 16%.(MARCELO DA FONSECA,1998)