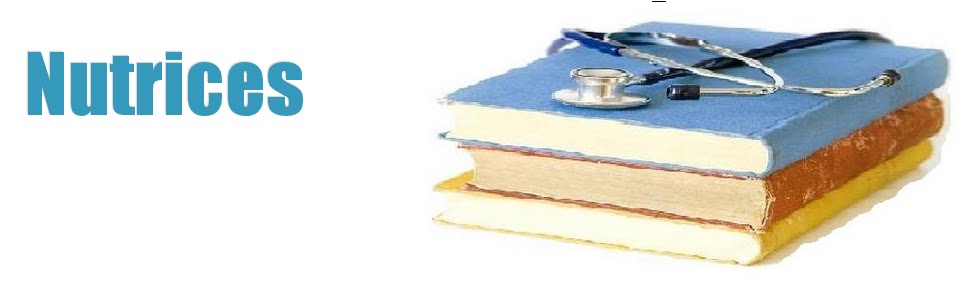1- INTRODUÇÃO
Com o intuito de tornar a profissão de enfermagem mais qualificada e interdependente, é essencial que se faça o aprofundamento do estudo sobre o envelhecimento normal e patológico para aperfeiçoar a prestação de cuidados aos três níveis de prevenção.

A boa execução prática dos cuidados de enfermagem tem por base um bom conhecimento teórico, devendo haver uma formação contínua dos enfermeiros. Assim sendo, e de acordo com o plano de actividades da unidade curricular de Enfermagem na Comunidade II, foi-nos proposto a elaboração de um trabalho sobre o envelhecimento normal e patológico do idoso a nível do sistema respiratório.
Com a realização deste trabalho, propomo-nos atingir os seguintes objectivos:
v Aprofundar os conhecimentos sobre o envelhecimento normal do sistema respiratório no idoso;
v Identificar os problemas que advenham do envelhecimento normal, para que se possa intervir precocemente;
v Abordar as patologias mais frequentes a nível do sistema respiratório no idoso e respectivas intervenções de enfermagem.
Para a realização deste trabalho e para atingir os objectivos propostos, foi necessária a recolha de informaçãoessária a recolha de informação , recorremos, por isso, à pesquisa bibliográfica em livros, revistas, compêndios e na internet.
Este trabalho encontra-se dividido em duas partes: uma primeira parte em que é abordado o envelhecimento normal do sistema respiratório do idoso, e intervenções de enfermagem a nível preventivo; numa segunda parte, em que se aborda as patologias do sistema respiratório mais frequentes nos idosos.
I PARTE
O facto de envelhecer representa um conceito relativo. A senilidade é o resultado do estancamento ou da diminuição das possibilidades intelectuais, de memorização e de criatividade. No entanto, e precisamente por ser definida desta forma, não existe já uma idade típica para o seu aparecimento, ainda que as possibilidades de que esta se manifeste aumentem à medida que se avança na idade. A velocidade a que tudo isto pode ocorrer, depende de nós mesmos, da capacidade para cultivar o nosso interesse e a nossa curiosidade, não só intelectual, mas também quanto a actividades de qualquer tipo.
Envelhecimento, segundo ERMIDA (1996) é um processo de diminuição orgânica e funcional, não decorrente de acidente ou doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo.

CONDE (2000) diz-nos que o envelhecimento é caracterizado pela incapacidade progressiva do organismo para se adaptar às condições variáveis do seu ambiente. O envelhecimento não é apenas um simples processo físico; envelhecer é também um estado de espírito. Assim sendo, perante os nossos olhos se perfila uma radical metamorfose deste estado de espírito.
Gerontologia é uma ciência bastante recente, estuda a vivência dos homens e das mulheres que envelhecem e interessa-se tanto por pessoas saudáveis, como doentes. É ainda uma ciência imprecisa cujo campo de investigação é imenso.
Geriatria designa os cuidados a prestar aos idosos é o ramo da medicina que trata aspectos médicos, psicológicos e sociais da saúde e da doença nos idosos”.
Shakespeare- caracteriza a idade avançada como uma 2ª infância: «sem olhos, sem dentes sem tudo».
2- ANATOMIA E FISIOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
O sistema respiratório é composto basicamente pelo nariz, boca, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e por conjuntos de músculos que permitem a entrada e saída do ar dos pulmões.
Figura 1 – Anatomia do Sistema Respiratório
| SISTEMA RESPIRATÓRIO - VISTA FRONTAL |
 |
As vias aéreas superiores são constituídas pela cavidade nasal, pela faringe e pelas estruturas associadas; as vias aéreas inferiores incluem a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Os movimentos respiratórios são realizados pelo diafragma e pelos músculos da parede torácica.
A respiração compreende os seguintes processos: 1) ventilação, movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões; 2) trocas gasosas entre o ar nos pulmões e o sangue, por vezes chamada respiração externa, ventilação externa ou mecânica ventilatória; 3) transporte de oxigénio e de dióxido de carbono no sangue e, 4) trocas gasosas entre o sangue e os tecidos, por vezes chamada respiração interna, ventilação interna ou dinâmica ventilatória (SEELEY, STEPHENS e TATE, 2001).
3- ENVELHECIMENTO NORMAL DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
A necessidade de respirar, tal como outras necessidades fundamentais, é razoavelmente afectada, na sua dimensão biológica, pelo envelhecimento.
As doenças do sistema respiratório observadas na população geriátrica são semelhantes àquelas observadas em adultos mais jovens. Todavia, o impacto da doença pulmonar sobre o funcionamento geral de um indivíduo idoso pode ser maior, pois a doença está sobreposta ao envelhecimento normal que ocorre nos pulmões.
Segundo CALKINS e FORD (1997), a estrutura e a função pulmonar atingem o seu desenvolvimento e eficiência máximos no início da segunda década de vida e começam a decair gradualmente em seguida. Os alvéolos pulmonares são tecidos com fibras de colagénio e de elastina. As fibras de colagénio conferem solidez e resistência a essas membranas, sendo as fibras elásticas responsáveis pela elasticidade do tecido pulmonar, sem a qual ele não poderia cumprir o seu papel essencial na oxigenação dos tecidos.
Sendo assim, “as alterações estruturais da elastina e do colagénio do pulmão levam a um aumento gradual na complacência pulmonar com o envelhecimento” (CALKINS e FORD, 1997 p. 455). As fibras elásticas alteram-se com a idade e perdem progressivamente a sua elasticidade. Depois de vários estudos sobre este tema, ROBERT (1995), considera que existe um declínio linear, constante, na capacidade vital (o volume de ar armazenado aquando de uma inspiração profunda pelos dois pulmões) após a idade de 20 a 25 anos. Esta alteração na capacidade vital é principalmente devida a um aumento no volume residual que está relacionado com a perda da capacidade de retracção das unidades pulmonares periféricas e ao fechamento precoce das vias aéreas periféricas pequenas durante a expiração. Ocorre uma leve redução na capacidade pulmonar total (CPT), mas também existe uma perda de altura devida ao estreitamento dos espaços dos discos intervertebrais. No entanto, a capacidade pulmonar total permanece essencialmente inalterada em função da altura devido ao envelhecimento.
O quadro seguinte, elaborado por BERGER e MAILLOUX-POIRIER (1995), resume as transformações fisiológicas sofridas pelo aparelho respiratório. Todas essas transformações não desencadeiam automaticamente problemas de dependência em todos os idosos. No entanto, diminuem a capacidade pulmonar, tornando-os mais vulneráveis a alterações da função respiratória.
Quadro 1 – Modificações fisiológicas do aparelho respiratório
| Modificações fisiológicas do aparelho respiratório |
| Perda de elasticidade dos tecidos que circundam os alvéolos e ductos alveolares. Perda de elasticidade do tecido pulmonar. Capacidade de expansão pulmonar limitada por modificações da estrutura torácica. Diminuição da capacidade inspiratória por calcificação da cartilagem costal. Diminuição da contractilidade dos músculos inspiratórios. Debilidade dos músculos diagramáticos e intercostais. Aumento da capacidade residual. Diminuição da capacidade vital. Diminuição da actividade ciliar das membranas brônquicas. |
Fonte: BERGER e MAILLOUX-POIRIER (1995)
3.1- PAREDE TORÁCICA
O endurecimento da grelha costal é a principal alteração fisiológica do envelhecimento associado à parede torácica. Este pode ser causado devido ao processo de osteoporose senil, que se caracteriza pela descalcificação das costelas e vértebras. Nos idosos que se dizem “fragilizados”, este processo pode ser mais intenso devido a maiores alterações posturais e menos flexibilidade resultante da inactividade física (Gomes e Ferreira, 1985).
O funcionamento do aparelho respiratório no idoso está reduzido à custa do endurecimento da parede torácica, em oposição aos efeitos da redução da elasticidade pulmonar, ocasionando mudanças no formato do pulmão, o que reduz a dinâmica respiratório. (Gomes e Ferreira, 1985)
Segundo PETROIANU e PIMENTA (1999), as alterações degenerativas da coluna torácica e costelas acentuam a cifose torácica normal e aumentam o diâmetro antero-posterior do tórax, que às vezes se assemelha ao tórax enfisematoso. A caixa torácica torna-se mais rígida, havendo maior dependência da ventilação diafragmática e do uso da musculatura abdominal. Há também redução da elasticidade pulmonar e dos fluxos respiratórios. Essas alterações causam aumento da capacidade residual funcional, volume residual e redução da capacidade vital, com aumento da capacidade pulmonar total. A redução dos fluxos expiratórios diminui a relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo, e a capacidade vital forçada.
3.2- MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS
Segundo kelson (1993) cit. in GUCCIONE (2002), a força e a resistência dos músculos esqueléticos, diminuem com a idade.
No envelhecimento fisiológico ocorre substituição do tecido muscular por tecido gorduroso, o que associado à inactividade e até à imobilidade, leva à redução da massa e da potência da musculatura esquelética, originando menos capacidade de sustentar o trabalho muscular.
O aumento da rigidez do gradeado torácico promove uma maior participação do diafragma, dos músculos abdominais e uma menor acção dos músculos torácicos na respiração (Gomes e Ferreira, 1985).
O endurecimento dos músculos respiratórios relaciona-se com a actividade física do Homem, isto é, pode ser aumentado com o exercício e, nos doentes acamados, atenuado pela fisioterapia pulmonar e motora. A atrofia dos músculos intercostais ocasiona maior predisposição dos músculos respiratórios à fadiga, sendo esta, e o consumo energético, factores associados a uma maior incidência de falência respiratória.
A redução da massa e da potência muscular é certamente um factor com grande importância na diminuição da função pulmonar e que se pode modificar através de um programa de actividade de física adequada (Gomes e Ferreira, 1985).
3.3- ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO PULMONAR
O envelhecimento é, em geral, acompanhado por uma diminuição da capacidade e da eficácia pulmonar.
Para GOMES e FERREIRA (1985), as alterações no tamanho da via aérea e da superfície alveolar contribuem para a redução do volume pulmonar útil para as trocas gasosas e para o aumento do espaço morto. O volume de ar inspirado contido no espaço morto aumenta de 1/3 para 1/2 do volume corrente em idosos.
Os mesmos autores, referem que, a capacidade residual funcional (CRF), que corresponde ao volume de gás nos pulmões no final da expiração, e o volume residual (VR), que corresponde ao volume de gás nos pulmões após expiração forçada, aumentam com a idade, enquanto a capacidade pulmonar total (CPT) e o volume corrente (VC) pouco se alteram. A capacidade vital forçada (CVF) e o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) reduzem com a idade, assim como a relação VEF1/CVF.
Tais alterações podem ser atribuídas à redução da pressão de recolhimento e consequente fechamento das vias aéreas em grandes volumes pulmonares.
Ainda, segundo GOMES e FERREIRA (1985), a habilidade do corpo em transportar oxigénio para os tecidos (Vomax) decresce com a idade, ocasionando reduções do débito cardíaco, da massa muscular corpórea, assim como alteração da relação ventilação/perfusão e redução do volume alveolar. Sendo assim, as principais alterações funcionais do aparelho respiratório do idoso repercutem-se a nível da(o):
- Redução da complacência da parede torácica;
- Aumento da complacência pulmonar;
- Redução da força dos músculos respiratórios;
- Redução da capacidade vital;
- Aumento dos volumes residuais;
- Manutenção da capacidade pulmonar total;
- Redução da relação VEF1/CVF;
- Aumento do gradiente artério-alveolar de oxigénio;
- Redução da pressão arterial do oxigénio;
- Redução da taxa de fluxo expiratório;
- Redução da difusão pulmonar de dióxido de carbono;
- Redução da sensibilidade respiratória a hipoxia e a hipercápnia.
3.4- ALTERAÇÕES DAS TROCAS GASOSAS
De acordo com GOMES e FERREIRA (1985), apesar das alterações fisiológicas que ocorrem, o sistema respiratório permanece capaz de manter as trocas gasosas adequadamente durante toda a vida, apresentando somente uma leve diminuição na pressão do oxigénio e redução não significativa da pressão do dióxido de carbono.
4-INTERVENÇÔES DE ENFERMAGEM A NÍVEL PREVENTIVO
As intervenções de enfermagem para a manutenção da independência do idoso, relacionada com a necessidade de respirar, devem iniciar-se pelo conhecimento dos hábitos relacionados com a satisfação dessa necessidade. Refere BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995), um conjunto de intervenções das quais se devem seleccionar as mais adequadas à situação:
1) Exercícios respiratórios frequentes: respiração profunda e exercícios para o diafragma e músculos intercostais;
2) Actividades físicas moderadas (marcha, natação, etc.);
3) Postura facilitadora da expansão torácica;
4) Hidratação adequada;
5) Humidade e temperatura ambiente nos limites normais;
6) Ventilação ambiente adequada;
7) Exercícios de relaxamento, através da respiração controlada;
8) Regime alimentar para pessoas com excesso de peso e refeições ligeiras;
9) Desaconselhando de fumar ou permanecer num local poluído (se possível);
10) Desaconselhamento de roupas apertadas que interfiram na respiração.
O idoso que apresente um problema pertencente a uma das categorias mencionadas deverá seguir um programa de higiene pulmonar adaptado às suas necessidades. Na opinião de BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995), este programa, elaborado pelos enfermeiros, deverá integrar:
1) Exercícios respiratórios;
2) Técnica da tosse;
3) Medidas gerais para promover a saúde.
4.1- EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS
Sabe-se que a dispneia é um problema frequente nos idosos, gera ansiedade e pode ser muito incapacitante. O enfermeiro pode-o ajudar demonstrando-lhe como respirar lentamente, de forma regular e descontraída, depois, parar a respiração e aguardar que o ritmo respiratório se regularize.
Certos exercícios respiratórios, associados a uma boa alimentação e actividades como a marcha, melhoram consideravelmente a qualidade de vida.
A respiração diafragmática e a respiração de lábios “semicerrados” contam-se entre esses exercícios. O ensino de um padrão respiratório diafragmática permite diminuir o ritmo respiratório e aumentar a quantidade de ar na base dos pulmões. O doente aprende a realizar este exercício deitado, mais tarde sentado ou mesmo durante a marcha. O controlo da respiração e da marcha aumentam a auto-confiança e a motivação.
Etapas a seguir:
a) Colocar uma mão sobre o estômago (imediatamente abaixo das costelas) e outra a meio do tórax.
b) Inspirar lenta e profundamente pelo nariz, empurrando o abdómen para cima, tanto quanto possível.
c) Expirar pela boca com os lábios semicerrados, contraindo os músculos abdominais. Durante a expiração, exercer uma pressão firme sobre o abdómen, acompanhando com o movimento.
d) Repetir durante um minuto e deixar repousar durante dois minutos.
e) Repetir durante dez minutos, duas vezes por dia.
A respiração com os lábios “semicerrados” ou sob pressão positiva tem por objectivo aumentar a capacidade respiratória, prolongando o período expiratório, diminuindo, consequentemente a retenção de dióxido de carbono.
Sequencia seguir:
Posição de deitado:
a) Inspirar pelo nariz e expirar lentamente pela boca comprimindo os lábios como para pronunciar a vogal “u”, contraindo os músculos abdominais. Contar até sete.
Posição de sentado:
a) Sentar-se numa cadeira e cruzar os braços sobre o abdómen.
b) Inspirar pelo nariz expirar lentamente pela boca comprimindo os lábios, inclinando-se para frente. Contar até sete.
Posição de pé:
a) Inspirar pelo nariz, avançando dois passos.
b) Expirar pela boca, comprimindo os lábios, avançando quatro a cinco passos.
4.2- TÉCNICAS DA TOSSE
As secreções acumuladas nas vias respiratórias são expelidas através da tosse. Como é uma actividade cansativa, é importante que os idosos aprendam uma técnica correcta e executem seguindo um horário regular.
O individuo deverá sentar-se confortavelmente antes de começar a tossir e praticar a respiração diafragmática, três ou quatro vezes. Terminando o exercício, poderá tossir de acordo com as seguintes directrizes:
a) Após o exercício de respiração diafragmática, inclinar lentamente para a frente, tossindo com força duas ou três vezes. Evitar inspirações rápidas entre a tosse.
b) Endireitar-se lentamente, enquanto inspira profundamente
c) Inclinar-se lentamente para a frente e repetir a etapa “a”.
As sessões de tosse são cansativas e ansiogénicas, pelo que é preferível permanecer junto da pessoa e instalá-la numa posição que permite a expansão livre do tórax. Existem três posições que favorecem o relaxamento e a respiração:
a) Sentar-se na beira da cama e apoiar os braços cruzados sobre duas ou três almofadas colocadas sobre o tampo da mesa da cabeceira.
b) Sentar-se numa cadeira, afastar os pés até à largura dos ombros, inclinar-se para a frente apoiando os antebraços sobre as coxas, com as mãos e braços descontraídos.
c) Manter-se de pé e apoiar as costas e ancas contra a parede. Arquear ligeiramente os ombros, afastar os pés, posicionando-os a trinta centímetros da parede.
4.3- MEDIDAS GERAIS PARA PROMOVER A SAÚDE
O idoso deve adoptar um estilo de vida que minimize os gastos energéticos para melhorar a função respiratória. A este respeito, vejamos os conselhos de BRUNNER e SUDDART (1990):
1) Ter bons hábitos alimentares
a)Se as refeições desencadearem dispneia, planear períodos de repouso antes e depois das refeições.
b) Evitar bebidas demasiadas quentes ou frias assim como alimentos que possam produzir tosse irritativa.
c) Evitar os alimentos que produzem flatulência, porque as gazes interferem com a respiração abdominal.
d) Tomar, frequentemente, pequenas refeições intercalares para diminuição da fadiga respiratória.
2) Evitar a fadiga excessiva, pois desencadeia alterações respiratórias.
3) Praticar uma boa higiene oral, para prevenção de infecções respiratórias.
4) Evitar contacto com pessoas com infecções
5) No caso de prescrição médica, proceder à vacinação contra gripe nas datas prescritas.
II-PARTE
O envelhecimento patológico afecta muitos idosos diminuindo a sua qualidade de vida sendo necessário intervenção de uma equipa multidisciplinar de saúde (médicos, enfermeiros, etc.) o mais precocemente possível. Refere BERGER e MAILLOUX-POIRIER (1995), que o aparelho respiratório está estreitamente ligado aos sistemas vascular, nervoso e muscular estando sujeito às consequências das doenças crónicas.
As doenças neurológicas, tal como a doença de Parkinson, a hemiplagia e a demência (estado avançado) interferem com a mobilização das secreções nas vias respiratórias. Assim, uma pessoa atingida pela doença de Parkinson poderá experimentar dificuldades em expectorar, em situações de total mobilidade. Poderá estar sujeito a pneumonias de aspiração, quando tem dificuldades na deglutição.
Estados avançados de demência, diminuição da eficácia dos reflexos glóticos e laríngeos associados a uma diminuição da mobilidade dificultam a expectoração, alterando assim as trocas gasosas. Segundo BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995), são patologias pulmonares que podem afectar o idoso tais como DPCO, pneumonia, tuberculose, cancro do pulmão, doença pulmonar intersticial, embolia pulmonar.
A compreensão de, ou dos problemas médicos dos utentes, permite ao enfermeiro prever a origem das dificuldades e fazer determinados diagnósticos de enfermagem. Assim, impõe-se uma metodologia sistemática com colheita, análise e interpretação de dados para evitar a prestação estereotipada de cuidados inadequados às necessidades reais dos utentes.
5- SINAIS DE ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA
Limpeza ineficaz das vias aéreas segundo BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995), caracteriza-se pela incapacidade de permeabilizar as vias aéreas obstruídas pelas secreções.
-sons respiratórios patológicos (fervores, sibilos),
-alterações do ritmo e amplitude da respiração,
-taquipneia,
-tosse,
-cianose,
-dispneia.
Padrão respiratório ineficaz (determinado por BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995) como estado durante o qual a inspiração e a expiração não permitem ao pulmão uma insuflação e desinsuflação adequada do ar).
-dispneia,
-respiração superficial,
-taquipneia,
-frémitos,
-gasometria arterial anormal,
-cianose,
-tosse,
-adejo nasal,
-alteração da amplitude respiratória,
-adopção da posição de sentido, uma mão colocada em cada joelho, tórax inclinado para frente,
-respiração com os lábios semicerrados e prolongamento do tempo expiratório,
-utilização dos músculos acessórios da respiração.
Compromisso das trocas gasosas (na opinião de BERGER e MAILOUX-POIRIER (1995) será estado em que o individuo tem uma diminuição da passagem de oxigénio e/ou dióxido de carbono entre os alvéolos pulmonares e o sistema vascular).
-confusão,
-sonolência,
-agitação,
-irritabilidade,
-incapacidade de expectorar,
-hiperpneia,
-hipóxia.
6- PATOLOGIAS ASSOCIADAS
Anteriormente referimos os sinais de alteração da função respiratória mais comuns do envelhecimento. Muitos deles são indicativos de determinadas doenças que afectam mais o idoso, uma vez que este se encontra mais vulnerável. A seguir iremos abordar as patologias mais comuns do sistema respiratório resultantes do envelhecimento patológico.
6.1- DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA (DPOC)
As doenças pulmonares crónicas são geralmente confundidas com o início e o impacto do envelhecimento devido às suas semelhanças fisiológicas.
Segundo CUNHA (1999), a DPOC é um estado patológico aéreo que não é totalmente reversível, sendo esta limitação, geralmente, progressiva e associada a uma resposta inflamatória anómala dos pulmões a partículas ou gases nocivos.
Conceito
PHIPPS [et al.] (1999), a designação DPCO refere-se a um estado fisiopatológico caracterizado por limitação de passagem de ar na expiração. Consiste numa combinação variável de asma, bronquite crónica e enfisema pulmonar (cada tema será estudado num subcapítulo, mais à frente).
Etiologia
Na grande maioria dos doentes, a DPOC é causada pelo fumo dos cigarros. 10 a 15% dos fumadores vêem a sofrer de DPOC, sendo responsável por 90% dos casos. Os ex-fumadores e qualquer pessoa exposta ao fumo do tabaco (fumadores passivos) são também potenciais candidatos (BOEHRINGER INGELHEIM, 2003).
Algumas exposições profissionais também podem causar DPCO: fumos químicos, poeiras orgânicas e inorgânicas. Nos fumadores a poluição atmosférica é um factor de agravamento (GOMES [et al.], 2001).
Há uns anos atrás foram o fumo das lareiras e as poeiras dos ambientes de trabalho, hoje são o fumo do tabaco e os poluentes industriais.
A exposição continuada a irritantes ambientais aliada a alguma predisposição genética constitucional levarão ao surgimento da doença.
Quem quiser e/ou ainda puder prevenir o aparecimento da DPOC, conhecendo nos seus antecessores familiares, doentes desta doença, procurará ambientes de ar puro para viver (CUNHA, 1999).
Epidemiologia
A DPOC é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade a nível mundial.
A DPOC é também uma realidade no nosso País, afectando cerca de 500 mil Portugueses e, como tal, deve ser atentamente seguida pela comunidade responsável pela prestação de cuidados de saúde e pelas entidades governamentais. Trata-se de um grave problema de saúde pública, constituindo a única das principais causas de morte, cuja prevalência continua a aumentar.
Segundo dados da OMS, estima-se que em 2020, a DPOC ocupe o terceiro lugar entre as doenças mais incapacitantes, tornando-se responsável por elevada morbilidade e mortalidade, sendo considerada um dos principais desafios na área das doenças respiratórias para as décadas vindouras (GLAXOSMITHKLINE, 2003).
Em Portugal, de acordo com CUNHA (1999), a DPOC é a segunda causa de internamento por doenças respiratórias, verificando-se desde 1993, um número crescente de internamentos hospitalares, mortes e custo motivados pela doença.
De acordo com GOMES [et al.] (2001), a doença atinge mais os homens do que as mulheres devido ao maior número de homens que fumam. Com o aumento do número de fumadoras, espera-se no futuro que esta diferença se reduza.
Anualmente morrem cerca de 8,7 por 100.000 habitantes por DPOC.
Manifestações clínicas
As alterações anatómicas e fisiológicas do envelhecimento que reduzem a capacidade de reserva pulmonar dos idosos, funcionam em conjunto com a patologia da DPOC para exagerar os sintomas pulmonares associados ao envelhecimento (GUCCIONE, 2002).
Na opinião de GLAXOSMITHKLINE (2003), a DPOC manifesta-se clinicamente por dispneia, tosse e aumento de produção de secreções brônquicas. À medida que a doença progride, as agudizações dos sintomas, tornam-se progressivamente mais frequentes e mais graves, condicionando limitações importantes, na capacidade dos doentes realizarem as suas actividades diárias e, consequentemente, reduzindo a sua qualidade de vida.
Os sintomas mais comuns são:
¨ A secreção excessiva de muco e infecções crónicas das vias aéreas devido a causas inespecíficas (bronquite).
¨ Aumento dos espaços aéreos distais, destruição dos alvéolos e ruptura das paredes alveolares (enfisema).
¨ Estreitamento das vias aéreas brônquicas devido a uma anomalia nos nervos simpáticos que não conseguem relaxar a musculatura lisa quando expostos a agentes aos quais são particularmente hipersensíveis, contraem-se e não conseguem diminuir a secreção e provocam edema da mucosa brônquica (asma).
Evolução
Na opinião de GOMES [et al.] (2001), a doença instala-se lenta e progressivamente. Por isso muitas vezes o doente só recorre ao médico numa fase mais avançada.
Inicialmente o doente apenas tem uma tosse acompanhada por expectoração que não valoriza; começa a fazer infecções respiratórias – episódios de Bronquite aguda – mais frequentes. Surge o cansaço fácil com os esforços que se vai acentuando ao longo do tempo até surgir mesmo com pequenas tarefas, como a higiene diária e a fala.
Durante algum tempo , apesar dos sintomas, o pulmão consegue levar a efeito a sua função principal: receber o oxigénio do ar e transportá-lo até ao sangue, e receber deste o anidrido carbónico que elimina para o ar.
À medida que a doença evolui e que a porção de pulmão afectado vai aumentando, esta função do pulmão vai-se reduzindo; o oxigénio que chega ao sangue vai sendo menor e o anidrido carbónico vai-se acumulando.
Diagnóstico
O diagnóstico de DPOC deve ser considerado, de acordo com GLAXOSMITHKLINE (2003), em qualquer pessoa que apresente sintomas como tosse, expectoração, dispneia, e/ou uma história de exposição a factores de risco desta doença, tais como tabagismo e exposição profissional a poluentes atmosféricos. É importante que o diagnóstico da doença seja feito atempadamente e, sempre que possível, deverá ser confirmado por espirometria, método de diagnóstico que permite a avaliação de diversos parâmetros da função pulmonar.
O teste de espirometria, mede dois valores importantes:
VEMS – Corresponde à quantidade de ar que se consegue expelir, numa expiração forçada, num segundo.
CVF – Corresponde ao volume total de ar que se consegue expelir numa expiração forçada.
Estes "valores pulmonares" darão as informações necessárias para avaliar a saúde dos pulmões, e recomendar um tratamento adequado (BOEHRINGER INGELHEIM, 2003).
Tratamento
De acordo com CUNHA (1999), aos já doentes, devem apostar além de um ambiente puro e saudável, no recurso aos conhecimentos médicos, actualmente de resultados bastante satisfatórios:
v A reabilitação respiratória: treino dos músculos, respiratórios e todos os outros, reaprender a respirar, a executar a higiene brônquica;
v A alimentação equilibrada, evitar os abusos, procurando a qualidade alimentar no conteúdo (produtos) e na sua ingestão (número de refeições diárias);
v Fazer exercício físico, sem se esforçar para além das suas capacidades;
v Deixar de fumar é a única medida que impede a doença de se ir agravando;
v Evitar as infecções respiratórias: vacinar contra as infecções bacterianas e contra a gripe.
v Tratar as infecções respiratórias: em geral não se acompanham de febre. Reconhecem-se pela cor amarela da expectoração, pelo aumento da viscosidade da expectoração que se torna mais difícil de expulsar.
v Oxigénio: se insuficiência respiratória, mas com indicação médica (GOMES [et al.], 2001).
O tratamento farmacológico visa melhorar e impedir o aparecimento de sintomas, aumentar a tolerância ao exercício e melhorar a qualidade de vida dos doentes, dramaticamente afectada com o aparecimento e agravamento da doença (GLAXOSMITHKLINE, 2003).
Teofilina
Segundo CALKINS e FORD (1997), a teofilina em sido muitos anos a base principal do tratamento da DPOC. Produz broncodilatação e pode ser administrado por via oral ou intravenosa.
Vários factores influenciam o seu metabolismo, diminuindo a eliminação de teofilina e pode levar a um aumento deste medicamento, caso a dosagem não seja reduzida: a idade avançada, a doença hepática, a insuficiência cardíaca congestiva e medicamentos que diminuem a sua eliminação (cimetidina e eritromicina) .
Os efeitos tóxicos da teofilina incluem as náuseas, irritabilidade, arritmias cardíacas e, em níveis bem altos, convulsões. Nos idosos, parece haver uma incidência aumentada de efeitos colaterais com o uso da teofilina.
Beta-2-agonistas
Os broncodilatadores mais eficazes para a maioria dos doentes são os beta-agonistas. Em pessoas idosas, as queixas de taquicardia ou palpitações não são raras, como um efeito colateral transitório destas medicações.
Os idosos podem ser ensinados a usarem inalador de doses médias que são extremamente eficazes (CALKINS e FORD, 1997).
Ipratrópio
Segundo CALKINS e FORD (1997), o Ipratrópio é um medicamento anticolinérgico. Apresenta um início de acção mais lento do que os beta-agonistas, com o efeito máximo observado cerca de uma hora após a sua inalação. O seu efeito pode durar de seis a oito horas. Os efeitos colaterais são raros.
Esteróides
A terapia crónica com um esteróide por via oral, apresenta muitos riscos associados, especialmente em idosos. As possibilidades de produzir ou agravar a intolerância à glicose, à osteoporose, à catarata ou a alterações mentais, são factores de risco significativos e devem ser pesados contra os benefícios produzidos pelo medicamento (CALKINS e FORD, 1997).
Cuidados de enfermagem
Segundo PHIPPS [et al.] (1999), a intervenções de enfermagem a implementar são:
Manter a permeabilidade das vias aéreas através de:
Ø Avaliação da função respiratória;
Ø Administrar broncodilatadores prescritos por aerossol ou dissolvidos em água;
Ø Proporcionar uma boa ingestão de líquidos para fluidificar as secreções (se a condição do doente o permitir).
Ø Ensinar o doente a usar correctamente o aerossol e a fazer o número de inalações prescrito (cuidados com o excesso);
Ø Evitar a ingestão de alimentos (líquidos ou sólidos) muito frios ou muito quentes, que podem provocar broncoespasmos ou aumentar as secreções;
Ø Fazer drenagens posturais, conforme prescrito;
Ø Conservar a humidade ambiente e livre de irritantes inaláveis;
Ø Evitar mudanças bruscas de temperatura.
Facilitar as trocas gasosa através
ØFornecer oxigénio (por catéter e baixo fluxo), conforme prescrito;
ØProporcionar exercícios respiratórios;
ØProporcionar tempo necessário para a execução de AVD;
ØProporcionar repouso e ensinar técnicas de relaxamento;
ØAspiração de secreções em S.O.S.;
ØPosicionamentos;
ØGasimetria – cuidados inerentes;
ØEvitar narcóticos e sedativos.
Manutenção de um bom estado nutricional
ØProporcionar refeições pequenas e frequentes;
ØDar refeições suplementares com elevado teor de proteínas;
ØManter sempre boa higiene oral;
ØProporcionar ambiente confortável, agradável e tempo suficiente para comer, no sentido de diminuir a fadiga;
ØJejuns prolongados podem agravar a função respiratória por esgotamento grave das reservas de glicogénio.
Prevenção e/ou tratamento de infecções :
ØRestringir o contacto com portadores de infecções das vias aéreas superiores;
ØEnsinar medidas de prevenção de infecções;
ØEncoraja-lo a fazer a imunização anual contra a gripe;
ØUtilizar medidas necessárias na prevenção de infecção;
ØAntibioterapia, corticosteróides e respectivos cuidados;
ØFazer colheita de expectoração.
Dar apoio emocional ao doente:
Ø Dar oportunidade se o doente expressar as suas preocupações, nomeadamente as relativas às suas limitações impostas pela DPOC;
Ø Explicar as actividades necessárias e os efeitos positivos;
Ø Incentivar a família e amigos a prestar o apoio necessário;
Ensino e orientação após a alta:
Ø Natureza da doença e necessidade de seguir o esquema terapêutico e a actividade prescrita;
Ø Cuidados com os inaladores;
Ø Evitar contacto com produtos irritantes e infecções respiratórias, adoptar estilo de vida saudável;
Ø Sinais que exigem atenção médica;
Ø Outros cuidados que deve ter (exercícios respiratórios, etc. ).
6.1.1- Bronquite Crónica
A Bronquite crónica é definida quando há presença de tosse com muco na maior parte dos dias do mês, em 3 meses do ano, sem outra doença que explique a tosse. Quase todos os casos da doença ocorrem pelo efeito nocivo nos pulmões por vários anos, o que determina um inflamação da mucosa dos brônquios (LANÇA(1), 2003).
Conceito
A bronquite crónica caracteriza-se pelo aumento de volume de secreção mucosa, de forma recorrente, suficiente para provocar expectoração.
Segundo GLAXOSMITHKLINE (2003), a bronquite crónica é uma inflamação crónica dos brônquios e define-se como a presença de tosse e expectoração na maior parte dos dias, 3 durante 3 meses 2 anos consecutivos.
É caracterizada, fisiologicamente, por hipertrofia e hipersecreção das glândulas mucosas brônquicas, e alterações estruturais dos brônquios e dos bronquíolos (PHIPPS [et al.], 1999).
Figura 2– Bronquite crónica
 |  |  | |
Fonte: GLAXOSMITHKLINE – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica [em linha]. © 2003-2004 GlaxoSmithKline, 2003. Última actualização em 28 de Maio de 2003 [citado em 05 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.gsk.pt/articles/30202.asp?fromArea=9601>.
Etiologia
Na opinião de LANÇA(1) (2003), a bronquite crónica surge, na maioria dos casos, após 20 a 30 anos de exposição das vias aéreas (brônquios) a irritantes como o fumo, poluição do ar e outras fontes. Estes fazem com que ocorram modificações na mucosa dos brônquios. Quando há inflamação, a produção de muco aumenta consideravelmente. Além disso, o fluxo de ar nos brônquios afectados pela doença fica prejudicado.
Epidemiologia
Segundo GOMES e FERREIRA (1985), a bronquite crónica é mais importante a partir dos 60 anos. À medida que os anos passam, vai-se tornando mais grave, sofrendo grande influencia dos factores ambientais, como o frio e a humidade, piorando ainda mais com o uso do fumo, que aumenta a sua mortalidade.
Manifestações clínicas
Segundo LANÇA(1) (2003), os sintomas mais frequentes são:
Ø Tosse
Ø Expectoração de muco
Ø Encurtamento da respiração (falta de ar)
Ø Pode ocorrer febre quando a pessoa estiver com uma infecção respiratória associada
Ø Sibilos nas exacerbações da doença
Ø Edema nos membros inferiores, pelo agravamento das condições de trabalho do coração, em decorrência de uma bronquite muito avançada.
De acordo com PHIPPS [et al.] (1999), as pessoas que sofrem de bronquite crónica costumam adaptar, inconscientemente, o seu nível de actividade por forma a acomodar os seus sintomas respiratórios às suas vidas diárias.
Não procuram o médico até experimentarem uma grave exacerbação dos seus sintomas, geralmente precipitada por infecção respiratória.
Diagnóstico
Os dados referidos pelo doente são os mais importantes para o diagnóstico da doença. O relato de tabagismo de longa data, associado à tosse crónica com produção de muco, torna o diagnóstico muito provável. O exame físico também poderá ajudar.
Aceita-se que um doente tem tosse com expectoração pelo menos 3 meses, durante 2 anos consecutivos(PHIPPS [et al.] (1999).
Para LANÇA(1) (2003), uma radiografia do tórax costuma demonstrar alterações compatíveis com a bronquite crónica, além de excluir outras doenças. A gasometria também mostra como estão os níveis de oxigénio no corpo do doente.
Outro exame que avalia a função pulmonar é a espirometria, no qual se realiza a seguinte manobra: com a boca ligada ao tubo do aparelho, o doente enche totalmente os pulmões de ar e depois sopra vigorosamente até esvaziar os pulmões. Este exame mostrará como está a capacidade pulmonar e os fluxos de ar do doente.
Tratamento
Uma medida importante para iniciar o tratamento é eliminar os irritantes, como o fumo ou poeiras tóxicas inaladas.
Para PHIPPS [et al.] (1999), parar de fumar para doentes com uma bronquite crónica bem estabelecida, não fará com que a doença melhore, mas, certamente, ajudará a desacelerar a sua progressão.
Segundo LANÇA(1) (2003), alguns doentes podem melhorar com tratamento com corticóides, na tentativa de controlar a inflamação crónica dos brônquios e, assim, minimizar os sintomas da doenças. Outra classe de medicamentos importantes são os broncodilatadores. Estes podem melhorar o fluxo de ar nesta doença, aliviando a falta de ar e os sibilos.
A maioria das pessoas poderá melhorar com os exercícios da terapia de reabilitação, que fazem com que os doentes sejam capazes de utilizar a sua energia mais eficientemente ou de uma forma em que haja menos dispêndio de oxigénio.
Na opinião de PHIPPS [et al.] (1999), a oxigenoterapia também poderá melhorar os sintomas dos doentes, além de aumentar a expectativa de vida.
Prevenção
Entre 80% e 90% dos casos de bronquite crónica resultam do consumo de tabaco. Assim, a principal medida preventiva é não fumar. O médico deverá auxiliar o doente neste sentido, podendo ou não usar medicações auxiliares. A reposição de nicotina, seja por pastilhas, adesivos ou outros recursos, pode ser utilizada. Existe também a bupropiona, um medicamento que tem vindo a ser utilizado com sucesso, que tem o efeito de diminuir os sintomas de abstinência do fumo (LANÇA(1), 2003).
O mesmo autor refere que, na bronquite crónica, é importante a vacinação actual contra o vírus causador da gripe, uma vez que esta pode agravar a doença. Com este mesmo objectivo, está indicado também o uso da vacina contra o pneumococo, que é a principal bactéria causadora de infecções respiratórias, entre estas, a pneumonia.
Segundo PHIPPS [et al.] (1999), o progresso na prevenção da bronquite crónica tem sido impedido pelo lento e insidioso processo de instalação da doença. Os recentes progressos, nas provas de função pulmonar, têm permitido a identificação de anomalias nas pequenas vias respiratórias dos pulmões. As investigações têm revelado que algumas das anomalias associadas às modificações das pequenas vias respiratórias podem ser reversíveis. Assim, se pudessem ser identificadas as populações de alto risco, e se fizesse um rastreio fiável, poderiam ser instruídas medidas preventivas, antes de ocorrerem as lesões pulmonares permanentes e as doenças crónicas.
Intervenções de enfermagem
De acordo com o Dicionário Médico Enciclopédico Taber (2000), para a bronquite temos como intervenções de enfermagem:
- Incentivar o doente a repousar, a ingerir líquidos e a evitar substâncias “irritantes”;
- Proporcionar uma dieta equilibrada e nutritiva;
- Avaliar a necessidade de mudança de estilo de vida e incentivar o doente a implementar essas mudanças;
- Identificar outros problemas de saúde que possam estar associados à bronquite;
- Proporcionar apoio emocional, pois muitas vezes este problema é prolongado e pode tornar-se muito desencorajador para o doente.
6.1.1- Enfisema
Para GOMES e FERREIRA (1985), o enfisema é o que mais se destaca, pela frequência, pelas complicações que determina, levando à incapacidade física e por se apresentar principalmente nos períodos pré-senil e senil.
Conceito
Na opinião de GLAXOSMITHKLINE (2003), o enfisema é a dilatação anormal e permanente dos alvéolos pulmonares, com perda de elasticidade, causada pela destruição das suas paredes (sem sinais de cicatrização).
Segundo GOMES [et al.], o enfisema pode surgir isoladamente ou como complicação da Bronquite crónica. Há uma destruição progressiva dos alvéolos e o pulmão vai perdendo a elasticidade. As vias aéreas vizinhas colapsam.
 | |
Fonte: GLAXOSMITHKLINE – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica [em linha]. © 2003-2004 GlaxoSmithKline, 2003. Última actualização em 28 de Maio de 2003 [citado em 05 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.gsk.pt/articles/30202.asp?fromArea=9601>.
Etiologia
Segundo LANÇA(2) (2003), quase todos os casos são causados pelo tabagismo. Poucos casos são devidos à deficiência de alfa-1-antripsina (enzima produzida nos pulmões).
Cerca de 10-15% dos fumadores mais susceptíveis ao efeito nocivo do fumo é que desenvolvem a doença. Os fumadores, na maioria das vazes, passa a sentir as alterações causadas pela doença só após vários anos.
Manifestações clínicas
Para PHIPPS [et al.] (1999), os primeiros sintomas que anunciam o início do enfisema são dispneia com o esforço, que progride para dispneia crónica. A produção de expectoração tem tendência a ser escassa ou ausente.
Na opinião de LANÇA(2) (2003), a principal característica da doença é a dispneia. Na maioria das vezes, são fumadores de longa data, que, em torno dos 60 anos, passam a sentir falta de ar para fazer esforços. Mantendo o hábito de fumar, poderão chegar a uma fase mais avançada da doença, em que falta de ar surge com tarefas simples. Neste momento, muitos tornam-se incapacitados para o trabalho e passam a maior parte do tempo na cama ou sentados.
A tosse também pode ocorrer, mas é mais frequente nos fumadores, assim como a bronquite crónica.
Diagnóstico
O médico faz o diagnóstico, na maioria dos casos, baseado na longa exposição ao tabaco referida pelo doente, associada a queixas e às alterações detectadas no exame físico.
De acordo com LANÇA(2) (2003), pode haver o auxílio de exames complementares de diagnóstico, com exames de imagem (radiografia e TAC), exames de sangue e espirometria.
Os exames complementares ajudam a estabelecer o nível de gravidade da doença e, portanto, auxiliam na decisão do melhor tratamento para cada caso.
Tratamento
Alguns casos podem melhorar parcialmente, segundo LANÇA(2) (2003), com o uso de medicamentos. Podem ser usados corticóides ou broncodilatadores, por via oral ou inalatória. Esta última é preferida por ter efeito mais rápido e contabilizar menos efeitos indesejáveis. Diferentemente da asma e bronquite crónica, doentes com enfisema não costumam melhorar ou têm pouco benefício com o uso de broncodilatadores. Mas muitos podem ser beneficiados com a terapia de reabilitação, que ensina a usar a sua energia de uma forma eficiente, de maneira a que ocorra um gasto menor de oxigénio. Assim, as pessoas tornam-se mais preparadas para as actividades diárias.
A terapia com oxigénio melhora a expectativa de vida em vários casos. Em casos seleccionados, poderão ser realizadas as cirurgias redutoras de volume pulmonar. São removidas áreas mais comprometidas de um ou ambos pulmões para melhorar a mecânica respiratória, resultando numa melhoria dos sintomas e no dia-a-dia dos doentes.
Prevenção
Não há maneira, até agora, refere LANÇA(2) (2003), capaz de definir os indivíduos que serão susceptíveis ao desenvolvimento da doença com o hábito de fumar.
Quanto mais cigarros por dia ou mais anos fumando, maior a hipótese de desenvolvimento da doença. A forma de prevenir é não fumar a interrupção do consumo de tabaco em qualquer fase da doença, pode estancar a progressão da mesma, embora não reverta a doença já estabelecida.
Segundo PHIPPS [et al.] (1999), pessoas com história familiar de enfisemas, deverão ser observadas para verificar se têm deficiências de alfa-1-antitripsina.
Intervenções de enfermagem
De acordo com o Dicionário Médico Enciclopédico Taber (2000), para o enfisema as intervenções de enfermagem são:
- Auxiliar a manter as vias respiratórias desobstruídas, eliminando todos os irritantes brônquicos, como é o caso do fumo;
- Incentivar o doente a aumentar a ingestão de líquidos por via oral, dentro do permitido, para auxiliar na fluidificação das secreções;
- Administrar medicamentos prescritos (broncodilatadores, anti-inflamatórios, expectorantes) e ensinar ao doente acções desejáveis e efeitos colaterais, dos mesmos, a serem comunicadas;
- Administrar medicamentos por inalação (prescritos) e realizar cinesiterapia respiratória;
- Incentivar a fazer refeições pequenas e frequentes (ricas em proteínas e não em hidratos de carbono);
- Explicar que as refeições menores reduzem o esforço respiratório;
- Ensinar alguns exercícios respiratórios, como a respiração diafragmática para que seja aumentada a eficiência ventilatória e exercícios expiratórios para melhorar a capacidade funcional;
- Alertar quanto aos perigos do aumento da ingestão de oxigénio por um doente que depende de um impulso hipóxico para a ventilação;
- Proporcionar apoio emocional ao longo das frequentes exacerbações e remissões e incentivar a sua participação em grupos e serviços de apoio, para que seja ajudado a lidar com a diminuição das capacidades funcionais.
6.1.3- Asma
A asma brônquica é uma doença pulmonar frequente e que está a aumentar em todo o mundo (LANÇA(3), 2003).
Conceito
Segundo PALOMBINI, DANIELLE e HETZEL cit. in TARANTINO (1990), a asma é uma doença crónica das vias aéreas inferiores (brônquios). É caracterizada pelo estreitamento dos mesmos, devido ao aumento da reactividade brônquica face a uma multiplicidade de estímulos (físicos, químicos, farmacológicos) que produzem a inflamação.
De acordo com MARTINS (2000), as alterações são episódicas e reversíveis, quer espontaneamente, quer como resultado da terapêutica, em curtos períodos de tempo.
Mas, REIS (1978) considera a existência de duas formas de asma (intrínseca e extrínseca), considerando que a mais frequente entre os idosos é a asma intrínseca. Refere ainda que a asma extrínseca é rara, sendo difíceis de evidenciar os factores alérgicos, podendo algumas vezes existir correlação com os factores climáticos. Logo, a importância do aspecto alérgico diminui com a idade.
Segundo LIONTAKIS (1997):
Asma extrínseca
· Início na infância.
· Associada a atopias.
· História familiar.
· Testes cutâneos positivos e alérgenos.
· Altamente reversível.
· Períodos longos de remissão.
· Precipitantes identificáveis.
Asma intrínseca
· Início na idade adulta.
· Não associada a atopias.
· História familiar ausente.
· Testes cutâneos negativos.
· Tendência à cronicidade.
· Persistente.
· Precipitantes não identificáveis
Incidência
A asma é mais frequente em crianças, e surge frequentemente em certas estações do ano (CalKins e FORD, 1997). Algumas pessoas desenvolvem asma crónica e nunca retornam ao estado “normal”. O estabelecimento de sibilo em pessoas idosas pode ter várias causas e é importante compreender que a asma pode surgir em idades mais avançadas.
Manifestações clínicas
A asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas que, em indivíduos susceptíveis, origina episódios recorrentes de pieiras, dispneia, aperto torácico e tosse, particularmente, nocturna ou no início da manhã. Estes sintomas estão geralmente associados a uma obstrução generalizada, mas variável das vias aéreas sendo esta reversível, espontaneamente ou através de tratamento (direcção geral da saúde, 2000).
Tosse que pode ser ou não acompanhada de alguma expectoração. Na maioria das vezes não tem expectoração. Pode haver falta de ar, sibilos e dor no peito. (Lancia(3), 2003)
Quadro 2: Classificação de gravidade das crises de asma
| Tipo de crise | Sinais e sintomas (O doente…): |
| Ligeira | - apresenta dispneia à marcha - tolera a posição de decúbito - apresenta um discurso quase normal - está consciente - apresenta-se habitualmente calmo, podendo mostrar alguma ansiedade - não apresenta habitualmente tiragem respiratória - a frequência respiratória está habitualmente normal, podendo estar ligeiramente elevada - a frequência cardíaca está habitualmente abaixo dos 100 batimentos/minuto - apresenta sibilos moderados - não apresenta pulso paradoxal |
| Moderada | - apresenta dispneia a falar - adopta a posição de sentado - fala com frases curtas - está consciente mas ansioso - apresenta tiragem respiratória - a frequência respiratória encontra-se elevada - a frequência cardíaca encontra-se entre 100 e 120 bt/min - apresenta sibilos evidentes - pode apresentar pulso paradoxal |
| Grave | - apresenta dispneia em repouso - encontra-se inclinado para a frente - fala apenas através de palavras - encontra-se ansioso ou até agitado - apresenta tiragem respiratória - a frequência respiratória é superior a 30 batimentos/minuto - a frequência cardíaca é superior a 120 batimentos/minuto - apresenta sibilos muito evidentes - apresenta geralmente pulso paradoxal |
| Com paragem respiratória iminente | - apresenta-se sonolento ou em estado de confusão - apresenta bradicardia - apresenta silêncio respiratório - não apresenta pulso paradoxal |
Fonte: DIRECÇÃO GERAL DE SAÚDE, 2001.
Diagnóstico
Segundo FANTA (1986) cit in GUCCIONE (2002), é difícil diagnosticar a asma nos idosos, na medida em que é difícil diferenciar entre a apresentação da doença pulmonar obstrutiva crónica a asma, principalmente nos indivíduos idosos que fumam. À medida que o indivíduo envelhece a asma torna-se mais persistentes aumentando progressivamente o grau de obstrução. O diagnóstico deve basear-se na anamenese, na presença de sinais e sintomas típicos da doença (dispneia, sibilos, opressão torácica e tosse) e exames de função pulmonar. É necessário fazer o diagnóstico diferencial com o DPCO (http://www.asmabrônquica.com.br/pierre/23.1ASMA-IDOSO.htm).
Existem exames complementares que podem auxilar o médico. Entre eles podem referir-se a radiografia no tórax, exame de sangue e da pele e ainda espirometria. O asmático também poderá ter em casa um aparelho que mede o pico do fluxo de ar importante para monotorizar o curso da doença (Lancia(3), 2003).
Tratamento
De acordo com PHIPPS [et al.] (1999), o plano de tratamento tenta aliviar os sintomas, controlar factores causais específicos e promover a saúde óptima.
“Sob o ponto de vista terapêutico a abordagem do asmático idoso não difere de qualquer doente de outros grupos etários” (FREITAS e COSTA, 1997, p. 359).
Segundo, PETROIANU e PIMENTA (1999 p. 180), a via inalatória continua a ser a preferida para a administração dos diversos fármacos, devido ao “uso de menor dose, menor incidência de efeitos adversos e efeito terapêutico mais rápido do que por via oral”. Mas, como grande número de idosos tem dificuldade na coordenação mão-pulmão, nomeadamente na manipulação de dispositivos pressurizados (como é o caso de doentes com artrite) devem ser prescritos dispositivos que aliviem o problema e facilitem a inalação, como as câmaras expansoras ou os inaladores com pó – para inalação (PETROIANU e PIMENTA, 1999).
Para tratar a asma a pessoa deve ter certos cuidados com o ambiente, principalmente na sua casa e no trabalho. Paralelamente deverá usar medicação e manter consultas médicas regulares (LANÇA(3), 2003).
O tratamento não se pode basear em broncodilatadores, pois pode não resultar no desaparecimento dos sintomas, e a inalação com preparação de esteróides é frequentemente necessária para reduzir o edema da via aérea (GANBERT, (1989) cit. in CALKIN e FORD (1997)).
Um teste alérgico de rotina não é geralmente necessário para pessoas idosas apresentando uma crise de asma pela primeira vez (CALKINS, 1997).
As pessoas com asma podem e devem praticar desporto, pois o exercício físico aumenta a capacidade torácica.
Controlo da asma
Segundo a DIRECCÇÃO REGIONAL DE SAÚDE (2001), para controlar a asma é indispensável conhecer os factores a que se é sensível e evitá-los.
ü Contra os ácaros
 - aspirar e arejar a casa regularmente;
- aspirar e arejar a casa regularmente;- mudar os lençóis da cama uma vez por semana;
- limpar os cobertores uma vez por mês;
- usar uma cobertura especial sobre o colchão da cama;
- se possível, usar edredões sintéticos em vez de cobertores.
ü Contra o pólen da Primavera
- dormir com as janelas fechadas;
- evitar relvados com muita vegetação;
- evitar fazer campismo;
- viajar com as janelas fechadas.
O asmático também poderá ter em casa um aparelho que mede o pico de fluxo de ar, importante para monitorizar o curso da sua doença (LANÇA(3), 2003).
Intervenções de enfermagem
De acordo com o Dicionário Médico Enciclopédico Taber (2000), são intervenções enfermagem:
- Avaliar a frequência respiratória e esforço respiratório;
- Avaliar presença e momentos de ocorrência de ofegação, uso de grupos musculares auxiliares e outros sintomas indicativos de fadiga ou angústia respiratória;
- Posicionar o doente de modo a facilitar o esforço respiratório e a ventilação;
- Monitorizar os sinais vitais e o estado mental, em busca de ansiedade, irritabilidade e redução do nível de consciência;
- Administrar oxigénio ou ar humidificado, conforme prescrição médica;
- Proporcionar ambiente calmo;
- Avaliar sinais e sintomas de desidratação e fornecer mais líquidos orais, em quantidades pequenas e frequentes, para auxiliar na fluidificação das secreções respiratórias;
- Avaliar e registar características das secreções;
- Administrar medicação prescrita e avaliar a resposta do doente.
Não há como prevenir a existência da doença, mas sim as suas exacerbações e os seus sintomas diários. (LANÇA(3), p. 54, 2003)
6.2- DERRAME PLEURAL
Na cavidade pleural de indivíduos normais existe uma certa quantidade de líquido que varia entre 3 a 15 ml. ” O derrame pleural é caracterizado pela presença de líquido em quantidade anormal entre as pleuras” (TARANTINO, 1990). “Efusão do líquido contido normalmente nos vasos ou órgão oco para a cavidade pleural” (DICIONÁRIO ENCICLOPÉDICO DE MEDICINA, 1997).
Na opinião de TARANTINO (1990), a presença de líquido, em quantidade anormal, entre as pleuras é a alteração mais frequente e mais importante que ocorre no tórax.
Para BRUNNER e SUDDARTH (1990), o derrame pleural pode conter dois tipos diferentes de líquido: o transudato e o exsudato. O transudato é caracterizado como um filtrado de plasma que sai através das paredes capilares intactas, geralmente devido a desequilíbrios nas pressões hidrostática ou oncótica (é frequente na insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência renal), é inodoro, de cor clara, ligeiramente amarelada, não viscoso, por vezes tem um aspecto sanguinolento.
Aparece o exsudato, geralmente, quando ocorre uma inflamação por produtos bacterianos ou tumores envolvendo as superfícies pleurais. O exsudato contém uma taxa alta de proteínas.
Este processo patológico raramente ocorre como primário, geralmente é decorrente de outras doenças.
O liquido tem a mesma fracção proteica que o plasma, a albumina um pouco mais elevado e o fibrogênio pleural em taxas menores. Sempre que houver inflamação local, o teor proteico do líquido pleural sobe, aproximando-se do seu valor no plasma. O derrame pleural consequente ao aumento da pressão hidrostática é de maior volume e mais comum à direita.
Classificação
Segundo TARANTINO (1990), o derrame pleurais podem classificar-se obedecendo a diferentes critérios:
Frequência
a)Muito frequentes (tuberculose, pneumonias bacterianas, carcinoma); brônquico, metástases, insuficiências cardíaca congestiva);
b)Frequentes (enfarto pulmonar, cirrose hepática, traumatismos);
c)Pouco frequentes (pericardite viricótica, infeçoes bactericas, pneumotorax);
d)Raros (infeçoes micoticas, infecções vicóticas, artrite reumatóide, etc.).
Etiologia
a) Infecções (bacterianas, tuberculosas, viroticas, mycoplasma, micoticas protozooses);
b) Insuficiência cardíaca congestiva;
c) Neoplasias:
-Primarias (mesotelioma local benigno, mesotelioma difuso maligno),
-Secundarias (carcinoma brônquico, carcinoma da mama, linfomas);
d) Hipoproteinémia
-Cirrose,
-Nefrose;.
e) Colagenoses
-Lúpus eritmatoso,
-Doença reumatóide;
f) Outras causas
-Pulmonares (enfartes pulmonares, derrame estéril sindroma de Loffler sarcoidose),
-Torácicas (traumatismo e metástases da parede, hemopneumotórax),
-Subdiafragmáticas (abcesso subtrênico, pancreatite. Síndrome de Mergis, cirurgia abdominal).
Aspecto liquido
a) Serofibrinoso (tuberculose, pneumonias bacterianas, virose, Colagenoses);
b) Hemorrágico (tumores, enfartes pulmonares, traumatismo torácico);
c) Purulento (tuberculose, certas bactérias).
Localização
a) Unilateral
b) Bilateral
c) Grande cavidade
d) Interlobar
e) Intrapulmonar
f) Mediastínico
Manifestações clínicas
Para LUCKMANN e SORENSEN (1996), as manifestações clínicas no derrame pleural dependerão do líquido presente e do grau de compressão pulmonar.
A dor localizada é a queixa mais comum e precoce de um derrame em correspondência com a zona lesada, com ou sem irradiação que aumenta com os movimentos respiratórios. A tosse seca e não produtiva, é outro elemento característico da síndrome pleural. Como a instalação do derrame pleural ocorre lenta e progressivamente, o pulmão tem tempo para se adaptar o que justifica o facto de dispneia ser, às vezes, tão discreta, até em derrames volumosos.
A doença inicia-se por manifestações gerais como astenia, fadiga fácil e suores nocturnos. A febre em alguns casos não existe ou então é tão discreta que passa por despercebida.
A radiografia do tórax, exames físicos e toracocentese, são os meios de confirmação da presença de líquido. Examina-se o aspirado para determinar a doença subjacente.
Tratamento
Há casos em que o tratamento farmacológico é insuficiente. Por vezes, são usadas corticosteroides que aceleram a absorção do líquido, melhoram as condições gerais do doente e reduzem o processo inflamatório.
A fisioterapia respiratória tem real valor na recuperação desses doentes, devendo ser indicada o mais precocemente possível.
Na opinião de TARANTINO (1990), a constatação de derrame pleural é quase sempre sinonimo de toracocentese evacuadora. Contudo tudo depende da etologia e gravidade do derrame pleural.
Segundo BRUNNER e SUDDARTH (1990), os objectivos do tratamento são descobrir a causa das origens do derrame, para prevenir a recidiva do acúmulo de líquidos e aliviar o desconforto do doente. O tratamento específico é dirigido no sentido de se tratar a causa subjacente.
Contudo, se a causa subjacente for uma doença maligna, o derrame poderá recidivar em alguns dias ou semanas. Toracocenteses repetidas resultam em dor, deplecção proteica e electrolítica e por vezes pneumotorax. Nestes casos, a drenagem deverá ser feita por drenos torácicos conectados a um sistema de drenagem com selo de água ou fonte de sucção para esvaziar o espaço pleural ou prevenir o acumular de líquidos.
Quando é determinada a etiologia do derrame, faz-se o tratamento específico, quando possível.
Prevenção
Uma vez que os derrames pleurais não são uma patologia primária, a sua prevenção baseia-se essencialmente na actuação precoce dentro das causas precipitantes. Deverá haver uma vigilância apertada nos doentes que possuem características para um provável aparecimento desta patologia, prevenindo assim o aparecimento de maiores complicações.
Intervenções de enfermagem
- Preparar, posicionar o doente, e colaborar durante os procedimentos médicos;
- Ajudar o doente a assumir posições que sejam as menos dolorosas possíveis;
- Administrar medicação analgésica conforme prescrito ou quando necessário;
- No caso do doente apresentar dreno torácico e um sistema de selo de água, o enfermeiro é responsável pelo controle do funcionamento do sistema e pelo registo da quantidade drenada e suas características;
- Ajudar o doente na realização das suas actividades de vida diária.
- Os cuidados de enfermagem relacionados com a patologia subjacente ao derrame pleural serão os específicos para essa patologia.
6.3- PNEUMONIA
Infecções respiratórias e pneumonias são doenças com significativo impacto na morbilidade e mortalidade de utentes idosos.
O envelhecimento da população propiciado pelo desenvolvimento social, sabidamente levou a um aumento da incidência de doenças crónicas, sendo também o responsável pelo surgimento de uma população de saúde frágil com múltiplos factores para o desenvolvimento de pneumonias graves.
Definição
De acordo com o site http://www.sbpt.org.br/leigos/pneumonia.htm, a pneumonia é uma inflamação ou infecção dos pulmões. Os alvéolos enchem-se de pus, muco e outros líquidos e não podem funcionar adequadamente. O oxigénio não pode alcançar o sangue. Se existe oxigénio insuficiente no sangue, as células do corpo não podem funcionar adequadamente. Devido a isto e também porque a infecção se pode espalhar pelo corpo, a pneumonia pode causar a morte.
A pneumonia afecta os pulmões de duas maneiras. Na pneumonia lobar uma parte do pulmão (lobo) é afectada de maneira uniforme. A broncopneumonia afecta os pulmões de maneira “salpicada” (figura abaixo).
Figura 4 – Pneumonia lobar e Broncopneumonia
Fonte: Pneumonia [em linha]. [citado em 8 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.sbpt.org.br/leigos/pneumonia.htm>
Além disso, a pneumonia é dividida naquela adquirida na comunidade, fora do ambiente hospitalar e aquela que é adquirida no hospital ou nosocomial. Esta última costuma ser causada por microorganismos de maior agressividade e por consequência é mais grave. Estes dados são confirmados pelos índices de mortalidade bem mais elevados.
A infecção de ambos os pulmões é popularmente chamada de pneumonia dupla.
Etiologia
Segundo o site http://www.sbpt.org.br/leigos/pneumonia.htm, pneumonia não é uma doença única. Ela pode ter mais de 30 causas diferentes. As causas principais das pneumonias são cinco:
· Bactérias
· Vírus
· Micoplasma e Clamídia
· Outros agentes infecciosos, tais como fungos
· Várias substâncias químicas
As pneumonias bacterianas raramente são contagiosas, porém pneumonias causadas por vírus, Micoplasma, Clamídia e Legionella podem atacar várias pessoas de uma mesma família ou que convivem em um mesmo ambiente.
Ainda, de acordo com outro site consultado, http://www.fisiomax.hpg.ig.com.br/areas/p8.htm, pode-se afirmar que a colonização da orofaringe é o passo inicial na patogénese da maior parte das pneumonias.
Figura 5 – Colonização da orofaringe
Fonte: Pneumonia [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.ne.jp/asahi/fumi/dental/perio3/medicine/pneumonia.gif>
Sabe-se que os microorganismos responsáveis por pneumonias comunitárias em idosos diferem daqueles presentes em jovens, especialmente pela maior incidência de gram negativos. S. pneumoniae ainda parece ser o agente mais frequente, causando até 50% das infecções em algumas séries.
Legionella pneumophila é classicamente descrita em pacientes idosos, grupo no qual sua incidência está aumentada, determinando uma doença de curso grave. Mycoplasma pneumoniae, por sua vez, tem em idosos incidência menor do que em pacientes jovens, não sendo uma preocupação habitual para a decisão terapêutica.
Esta taxa de colonização parece estar directamente relacionada ao estado geral do paciente, em especial ao grau de dependência, e à presença de insuficiência cardíaca, DPOC, diabetes e insuficiência renal. À colonização, segue-se a aspiração (em geral inaparente) de microorganismos da naso/orofaringe, em especial entre pacientes com reflexo de tosse reduzido, disfagia e diminuição do nível de consciência.
A função respiratória de idosos é reduzida por perda da sustentação elástica dos tecidos que circundam os alvéolos e ductos alveolares.
O quadro abaixo mostra de forma concisa as principais doenças relacionadas com o desenvolvimento de pneumonia em idosos e os mecanismos pelos quais elas contribuem para o surgimento dessa infecção.
Quadro 3: Principais doenças relacionadas com o desenvolvimento de pneumonia em idosos e os mecanismos pelos quais elas contribuem para o surgimento dessa infecção.
| Doenças | Efeito nas defesas do hospedeiro |
| Desnutrição | Diminui imunidade celular/humoral; |
| Neoplasia | Neutropenia; alteração da flora orofaríngea |
| Insuf.renal crónica | Diminui imunidade humoral/macrófagos/neutrófilos |
| Diabetes | Diminui função de macrófagos/neutrófilos |
| Insuf.cardíaca | Diminui drenagem linfática pulmonar/ maior crescimento bacteriano em edema pulmonar |
| Doença neurológica | Broncoaspiração |
| DPOC | Diminui clearance mucociliar |
| Insuf.hepática | Diminui imunidade celular/humoral |
Fonte: Pneumonia [em linha]. [citado em 8 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.sbpt.org.br/leigos/pneumonia.htm>;
Factores de risco
No site http://www.fisiomax.hpg.ig.com.br/areas/p8.htm, são identificados os factores de risco gerais mais frequentes em utentes idosos: idade superior a 75 anos, presença de duas ou mais condições mórbidas, aumento da colonização da orofaringe, micro ou macroaspiração, redução do transporte mucociliar, institucionalização, desnutrição, hospitalização recente, presença de sonda nasogástrica ou nasoenteral, e piora recente do estado geral e do grau de dependência (dificuldade para a deambulação, infecção urinária).
Manifestações clínicas
O site http://www.fisiomax.hpg.ig.com.br/areas/p8.htm, diz-nos que quanto mais cedo for diagnosticada e tratada a pneumonia, maiores são as hipóteses de cura e menores os riscos de complicações. Os sintomas de pneumonia podem-se iniciar lentamente ou serem súbitos. Os sintomas característicos são:
· Calafrios
· Tremores
· Suores intensos
· Dor no peito ao respirar
· Tosse com catarro cor de ferrugem ou esverdeado
· Febre de até 39º C ou até mais
· Respiração e pulso rápidos
· Os lábios e as unhas podem ficar roxos por falta de oxigénio no sangue (casos graves)
· Pode haver confusão mental ou delírio (casos graves)
Já, o site http://www.fisiomax.hpg.ig.com.br/areas/p8.htm, refere que, em idosos, os sintomas clássicos de tosse produtiva, febre, estertores, dor torácica, dispneia e calafrios podem estar ausentes ou atenuados. Por sua vez, confusão mental, redução do nível de consciência, fraqueza, anorexia, dor abdominal, delirium, taquipneia, febre baixa e tosse seca podem ser considerados os dados de exame físico e anamnese mais frequentemente presentes isoladamente ou combinados.
Leucocitose com desvio está presente em menos de 75% dos casos, e febre, por sua vez, pode ser encontrada em apenas metade dos pacientes. As consequências desta apresentação não usual das pneumonias nesse grupo de doentes é o retardo do diagnóstico e do início do tratamento, o que parece estar directamente ligado a um pior prognóstico.
Figura 6 – Sintomas da pneumonia
Fonte: Pneumonia no idoso [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://images.google.com/images?q=pneumonia+&hl=pt&lr=&ie-8&oe=UTF-8&start =20&sa=N>.
Exames complementares de diagnóstico
O recurso a um eficaz tratamento, bem como um acompanhamento da evolução da situação clínica do utente, relativamente à pneumonia, não seria possível, sem recorrer a determinados exames complementares de diagnóstico, que permitem confirmar suspeitas e conseguir novos dados importantes para a implementação de medidas de prevenção de complicações e tratamento farmacológico mais eficientes.
Deste modo, BARE e SMELTZER (1999) apresentam os seguintes exames complementares de diagnóstico:
Þ Diagnóstico clínico
Þ Radiologia
Þ Exame das secreções traqueobrônquicas
Þ Hemoculturas
Þ Aspiração transtraqueal
Þ Aspiração transtorácica
Þ Broncoscopia
Þ Broncografia
Þ Biópsia cirúrgica
Þ Leucograma
Fonte: Pneumonia [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.puk.ac.za/wellness/images/typpneumonia.jpg>.
Prevenção
Para BARE e SMELTZER (1999), dever-se-á tomar as seguintes medidas preventivas:
- Encorajar a tosse frequente e a expectoração das secreções;
- Ensinar os exercícios de respiração profunda;
- Tomar precauções especiais para prevenir infecções;
- Mudar o utente, frequentemente de posição;
- Realizar aspiração traqueobrônquica para utentes em risco ou que estão incapacitados de expectorar as secreções;
- Realizar cinesioterapia torácica para fluidificar as secreções e melhorar a expectoração das mesmas;
- Promover higiene oral frequente para utentes com dieta zero ou com antibioterapia para minimizar a colonização de microrganismos;
- Administrar sedativos e opióides, criteriosamente para evitar a supressão das respirações;
- Estar especialmente em alerta para o risco de pneumonia no idoso, nos utentes no pós-operatório, naqueles com depressão do sistema imunitário, naqueles com comprometimento da função respiratória e naqueles que estão inconscientes;
- Assegurar-se de que o equipamento respiratório está adequadamente limpo;
- Encorajar as pessoas a parar de fumar e a reduzir a ingestão de álcool.
De acordo com os mesmos autores, para reduzir ou prevenir as sérias complicações da pneumonia em grupos de risco, recomenda-se a vacinação contra as infecções pneumocócicas e pelo vírus Haemophilus influenzae; pessoas acima de 50 anos de idade; utentes debilitados, com doença cardiovascular; utentes submetidos a esplenectomia e aqueles com anemia falciforme ou alcoolismo. A vacina proporciona prevenção específica contra a pneumonia que é causada pelos principais microrganismos.
Tratamento
O tratamento da pneumonia inclui a administração do antibiótico adequado, conforme determinado pelos exames realizados.
Segundo BARE e SMELTZER (1999), a penicilina G é, nitidamente o antibiótico de escolha para a infecção por Streptococus pneumoniae. As outras substâncias eficazes incluem a eritromicina, clindamicina, tetraciclinas, a segunda e terceira gerações de cefalosporinas e outras penicilinas.
As inalações quentes e húmidas são valiosas para aliviar a irritação brônquica. O utente é colocado em repouso no leito até que a infecção mostre sinais de resolução. Se a hipoxemia se desenvolve, o utente recebe oxigénio (a avaliação da gasimetria arterial é realizada para determinar a necessidade de administrar oxigénio e avaliar a eficácia da oxigenoterapia).
Cuidados gerais a um utente com uma pneumonia
· Aspectos a vigiar
Para GRONDIN [et al.], (1992), devem-se vigar os seguintes aspectos num utente com pneumonia:
- Sinais vitais: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial, de 2 em 2 horas;
- Coloração da pele e mucosas;
- Aumento da dispneia;
- Estado de consciência;
- Presença de reflexos da tosse, se analgésico administrado;
- Características das secreções;
- Sinais de dificuldade respiratória;
-Relatórios de exames laboratoriais: gases arteriais, bacteriologia, …
· Intervenções de enfermagem
BARE e SMELTZER (1999), apresentam as seguintes intervenções de enfermagem a ter com estes doentes:
- Melhorar a permeabilidade das vias aéreas:
- A remoção das secreções é importante porque as secreções retidas interferem com a troca gasosa e podem provocar a resolução lenta da doença;
- Encorajar a ingestão hídrica (2 a 3 l/dia), pois a hidratação solubiliza e liquefaz as secreções pulmonares e também repõe as perdas hídricas que resultam da febre, diaforese, desidratação e dispneia;
- Humidificar o ar para liquefazer as secreções e melhorar a ventilação;
- Encorajar a tosse.
- Administrar oxigénio, de acordo com as manifestações clínicas da hipoxia e pela análise dos gases arteriais;
- Realizar drenagem postural, percussão e vibração, que é extremamente importante na liberação e mobilização das secreções;
- Caso as secreções não sejam expelidas pela tosse, ter-se-á que recorrer à aspiração nasotraqueal ou aspiração brônquica.
- Monitorizar a temperatura, pulso, respiração e pressão arterial de 4 em a horas ou sempre que necessário.
- Promover o repouso e conservar a energia:
- Encorajar o utente a repousar e permanecer no leito, de modo a evitar esforço excessivo e possível exacerbação dos sintomas;
- Providenciar uma posição confortável para promover o repouso e a respiração (por exemplo, semi-fowler) e mudar de posição frequentemente;
- Avaliar o nível de consciência antes que sedativos ou tranquilizantes sejam administrados.
6.4- CANCRO DO PULMÃO
Tudo começa quando uma célula degenera, ou seja, deixa de ser saudável para se transformar em maligna. A partir daqui outras células começam a multiplicar-se de uma forma anormal e descontrolada, sofrendo mutações e transformando-se em células cancerígenas ou malignas.
Os tecidos alteram-se, formando-se tumores e quistos malignos capazes de levar à morte se não forem detectados a tempo. BOAVIDA (2004), afirma que a probabilidade de desenvolver um tumor pulmonar será até 14 vezes maior nos fumadores do que nos não fumadores.
Epidemiologia e Etiologia
Este tipo de tumor é a causa mais frequente de morte por cancro, tanto em homens como em mulheres – apesar de afectar mais os homens, sendo a principal causa de morte por cancro nos homens desde 1955, e nas mulheres desde 1985 (BOAVIDA, 2004).
Os idosos estão predispostos ao desenvolvimento de cancro do pulmão por causa da sua exposição mais prolongada durante a vida ao fumo e a outros irritantes ambientais.
O cancro do pulmão aumenta de forma linear com o número de cigarros fumados com o avanço da idade, com um pico de incidência observado ao redor dos setenta anos de idade. Vários outros factores também podem influenciar o risco de desenvolvimento do cancro do pulmão. Para CALKINS e FORD (1997) a DPOC parece representar um risco significativo, com um aumento linear no risco de cancro do pulmão ocorrendo conforme VEF ( volume expiratório final) diminui. De maneira geral, os doentes com obstrução significativa do fluxo de ar apresentam um rico aumentado em três vezes de desenvolver cancro de pulmão. Outros factores de risco incluem a predisposição genética, a exposição ambiental ao amianto, arsénico, crómio, níquel, éter clorometílico, gás radão, e a outros agentes. Para PHIPPS [et al.] (1999) a mortalidade das pessoas que sofrem de cancro do pulmão depende principalmente do tipo específico de cancro, e do tamanho do tumor na altura em que é detectado. O carcinoma de células escamosas é o mais comum, seguindo-se-lhe o adenocarcinoma; o carcinoma de pequenas células indiferenciadas (de “oat cells”) é o menos comum.
Figura 8 – Pulmão humano
Fonte: BOAVIDA, Joana – Sistema Respiratório [em linha]. [citado em 10 de Março de 2004] Disponível em: <http://www-2sic.pt/index.php?article=3821visual=4>.
Sinais e sintomas:
Na perspectiva de BOAVIDA (2004) e muitos outros autores que se dedicaram ao estudo desta doença, os sinais e sintomas que um doente apresenta dependem de diversos factores, incluindo a localização da lesão. Estes surgem devido a lesões nos brônquios e nos pulmões.
Tosse persistente
Sangue na expectoração (hemoptise)
Dispneia e sibilos unilaterais
Perda de peso
Fadiga
Dor torácica
Pneumonias pós-obstructivas recorrentes
Dor no ombro e no braço
Rouquidão devido à paralisia do nervo laríngeo
Dificuldade na deglutição devido à compressão do esófago
Inchaço e veias salientes no pescoço
Dores de cabeça
Convulsões
Gânglios linfáticos aumentados
Nódulos cutâneos
Figura 9 – Rx ao pulmão de um fumador
Fonte: BOAVIDA, Joana – Sistema Respiratório [em linha]. [citado em 10 de Março de 2004] Disponível em: <http://www-2sic.pt/index.php?article=3821visual=4>.
Tratamento
Ao avaliar um paciente com suspeita de cancro de pulmão, vários aspectos importantes devem ser considerados, tal como foi referido anteriormente. Segundo, CALKINS e FORD (1997), em primeiro lugar devemos proceder à determinação do tipo de células tumorais. Uma distinção útil consiste em separar os cancros do pulmão em carcinoma de células pequenas ou carcinoma de células não-pequenas. Os carcinomas de células não pequenas incluem o carcinoma de células escamosas, o adenocarcinoma, o carcinoma de células alveolares e as variedades de células grandes. Os carcinomas de células pequenas tendem a se disseminar precocemente, agindo mais como um linfoma.
Cancro do pulmão sem pequenas células
Numa fase em que o tumor ainda está localizado, a cirurgia é o melhor tratamento. No entanto, a radioterapia também pode ser usada nestes doentes quando recusam a cirurgia ou não são bons candidatos devido a outro tipo de complicações clínicas. Para BOAVIDA (2004) a quimioterapia não é aconselhada no tratamento de cancro do pulmão localizado sem pequenas células.
Cancro do pulmão de pequenas células
Normalmente os pacientes que sofrem deste tipo de cancro têm já tumores malignos espalhados nos ossos, fígado, medula óssea ou cérebro. Devem ser tratados com quimioterapia combinada e a sobrevivência média é de cerca de um ano (BOAVIDA,2004).
Os poucos doentes com verdadeira doença localizada no tórax são tratados com ressecção cirúrgica seguida de quimioterapia combinada no pós-operatório.
Note-se que o carcinoma de células pequenas, que em si é considerado uma doença sistémica no momento de aparecimento, está numa posição mais elevada do que os tumores de células não pequenas. Na medida em que só a ressecção cirúrgica dos tumores em fase precoce oferece a possibilidade de uma sobrevivência prolongada sem doença (JOHNSTON, 1998).
Segundo CALKINS e FORD (1997) a capacidade de um doente idoso de tolerar uma quimioterapia agressiva pode ser limitada, especialmente quando há presença de uma doença significativa em outros sistemas de órgãos.
Cuidados de enfermagem
A actuação de enfermagem engloba os cuidados de saúde primários, secundário e terciário. Ao nível dos cuidados primário, o enfermeiro deverá actuar no sentido de explicar os perigos do tabaco e dar um exemplo positivo a esse respeito. Um dos papéis mais importantes dos enfermeiros consiste explicar ao público como o cancro do pulmão pode ser evitado ou, pelo menos, diagnosticado o mais cedo possível. É importante esclarecer que a prevenção passa ainda por evitar a exposição a radiações e a substâncias como o amianto, arsénico, crómio, níquel, ou gás radão.
A acção de enfermagem passa ainda pelo cuidar do doente que é sujeito a ressecção cirúrgica, que recebe quimioterapia ou radioterapia (cuidados secundários e terciários). Sendo assim, para PHIPPS [et al.] (1999), na avaliação de enfermagem deveram constar os seguintes itens:
Dados subjectivos
Os dados subjectivos incluem:
1. Inicio e duração dos sinais e sintomas.
2. O que o doente entende sobre o motivo porque foi hospitalizado.
a. Testes de diagnóstico.
b. Cirurgia torácica, ou radiação ou quimioterapia.
3. Se o doente declara que tem carcinoma do pulmão ou se suspeita tê-lo.
4. História de tabagismo.
5. História profissional de exposição a asbesto ou outros agentes carcinogénicos.
Dados objectivos
Os dados objectivos incluem:
1. Presença de tosse e se é ou não produtiva.
2. Se houver expectoração, se é raiada de sangue.
3. Hemoptise
4. Dispneia ao falar ou ao fazer esforço.
5. Sibilo unilateral à auscultação.
Na opinião deste mesmo autor, os resultados que são de esperar no doente, que se submete a cirurgia torácica, podem incluír o que se segue, não estando a isto limitados. O doente, ou os que lhe estão mais próximos, sabem:
1. Explicar alterações, recomendadas.
a. Quais as actividades usuais a limitar e por quanto tempo.
b. Programa de exercícios.
2. Explicar as alterações requeridas no estilo de vida (razão e planos de alterações na ocupação e em hábitos como fumar, nível de actividade, etc.).
3. Referir o nome, a dosagem, a acção e os efeitos secundários dos medicamentos prescritos.
a. Como e quando usar determinados medicamentos.
b. Programação de outros medicamentos, e como tomá-los.
4. Indicar os recursos profissionais e comunitários, necessários, para a estruturação de um ambiente compatível com a convalescença.
a. Planos para obtenção da ajuda de entidades.
b. Planos para as necessárias modificações no domicílio.
5. Descrever planos de acompanhamento de cuidados.
a. Sinais e sintomas que requerem ajuda médica, imediata.
b. Referir planos de cuidados em curso.
Os cuidados de enfermagem são diferentes, conforme o doente já foi diagnosticado e está em tratamento, ou é admitido para tratamento de metástases ou para cuidados de apoio, na fase terminal de doença.
É de esperar que todos os doentes se mostrem receosos e ansiosos, e necessitem de grande apoio emocional. O enfermeiro e o médico deverão discutir o plano de tratamento do doente, a fim de todas as informações a dar ao doente e à sua família serem cuidadosamente coordenadas.
6.5- SÍNDROME DE ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA DO ADULTO (SARA)
É o nome dado a um síndrome de insuficiência respiratória, hipoxémica, aguda, que representa séria ameaça à vida, e está associado a choque, traumatismo, “sepsis”, coagulação intravascular disseminada (CID), embolias e outras doenças críticas (PHIPPS [et al.], 1999).
Conceito
Na opinião de NUNES e DIOGO (1996), Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto é um termo que engloba uma falência respiratória aguda catastrófica de diversas etiologias e alto grau de mortalidade. Comummente associado com sepsis e um síndrome de disfunção multiorgânica. É geralmente caracterizado por uma reacção imunológica aparente que leva à lesão alveolar difusa, tromboses micro vasculares a nível pulmonar, agregação das células inflamatórias, principalmente os neutrófilos e os macrófagos, com a consequente estagnação do fluido sanguíneo através dos pulmões. Implícito está que a SARA não é uma doença, mas um síndrome fisiopatológico.
Etiologia
Para NUNES e DIOGO (1996), existe uma grande variedade de causas e factores de risco que podem desencadear um SARA. Estas causas podem ser pulmonares ou extra-pulmonares.
Cerca de 75% de todos os casos de SARA são resultantes da aspiração e de sepsis, 50% são devido a sepsis ou processos infecciosos.
A aspiração de conteúdo gástrico é a 2ª causa mais frequente de SARA. O agente etiológico é a acidez de conteúdo gástrico que produz uma lesão directa do parênquima pulmonar que posteriormente provocará uma infecção.
Quadro 4 – Causas de SARA
CAUSAS | |
| Extra pulmonar | Pulmonar |
| Traumatismos múltiplos | Aspiração conteúdo gástrico |
| Sepsis | Contusão pulmonar |
| Pancreatite aguda | Infecção pulmonar |
| Transfusões múltiplas | Inalação de gases tóxicos |
| Cid | Afogamento |
| Choque | Enforcamento |
| Estados neurogénicos | Laringoespasmo |
| Doenças sistémicas não pulmonar | Edema pulmonar de elevada altitude |
| Bypass cardiopulmonar | Líquido amniótico |
| Drogas – AAS, Opiáceos | |
| Radiação em doses elevadas | |
| Queimaduras graves | |
| Eclampsia | |
| Lúpus eritematoso disseminado | |
| Embolia pulmonar | |
| Paraquat |
Fonte: NUNES, Fernando ; DIOGO, Sofia – Síndrome de Dificuldade Respiratória do Adulto. Sinais Vitais. Lisboa. N.º 9 (Novembro 1996), p.31.
Manifestações clínicas
Segundo PHIPPS [et al.] (1999) os sintomas mais comuns do SARA são:
Ø Taquipneia, dispneia e cianose;
Ø Respiração polipneica, “fome de ar”;
Ø Cianose;
Ø Hipoxémia, PaO2 < 50mm Hg;
Ø Infiltrações bilaterais, intersticiais e alveolares;
Ø Confusão, agitação até com;
Ø Crepitações em todo o campo pulmonar
Ø Febre, tosse seca;
Diagnóstico
Refere NUNES e DIOGO (1996), que os critérios baseiam-se na origem da insuficiência respiratória aguda. Esta deve ser súbita, e não pode haver doença cardíaca subjacente, nomeadamente insuficiência cardíaca esquerda, ou doença pulmonar crónica. As manifestações clínicas são essencialmente a taquipneia com dispneia associada e respiração abdominal com tiragem, na auscultação nota-se a presença de crepitações e por vezes sibilos.
A nível radiológico, a presença de infiltrados difusos bilaterais, inicialmente intersticial e depois alveolar. A nível fisiológico há diminuição da compliance pulmonar e a PaO2 baixa, inferior a 50 mmHg, apesar de gradualmente se ter aumentado o FiO2 até 60%.
Figura 10 – Infiltrados Difusos Bilaterais
 |
Fonte: NUNES, Fernando ; DIOGO, Sofia – Síndrome de Dificuldade Respiratória do Adulto. Sinais Vitais. Lisboa. N.º 9 (Novembro 1996), p.32.
Tratamento
O tratamento deste doentes para NUNES e DIOGO (1996), é essencialmente de suporte, já que não há nenhuma intervenção capaz de prevenir. Os objectivos terapêuticos, incluem o alívio da hipoxémia, o suporte cardiovascular e nutricional, tratamento das infecções e evitar as complicações iatrogénicas.
Suporte ventilatório
Quando o trabalho respiratório do doente é excessivo e este mostra sinais de fadiga, ter-se-à de recorrer à entubação endotraqueal e ventilação mecânica.
Este tipo de ventilação mecânica permite recrutar espaços alveolares colapsados e desloca o líquido alveolar para a superfície do alvéolo ganhando espaço para a entrada de gás e melhora o intercâmbio gasoso.
Monitorização hemodinâmica e Balanço hídrico
A função cardíaca pode estar alterada como resultado da fisiopatologia subjacente ou secundária ao tratamento efectuado. De igual modo a hipotensão pode estar presente. Como esta não pode ser compensada com volumes, recorre-se ao uso das drogas inotrópicas, sendo a dopamina o fármaco de eleição. Depois de se conseguir uma estabilidade hemodinâmica, deve-se minimizar as entradas de fluídos, tendendo-se o balanço hídrico para negativo, de modo a manter o pulmão “seco”. Se for necessário diminuir o edema pulmonar, administra-se diuréticos.
Suporte nutricional
Estes doentes têm como característica um estado de hiper metabolismo e rapidamente ficam subnutridos. Assim, a instituição da alimentação precoce, é essencial no seu tratamento. É preferida a alimentação enteral, pelo menor risco de infecção e para permitir manter a integridade da mucosa gastrointestinal.
Tratamentos farmacológicos
Também se administra corticosteróides, pelos seus efeitos de inibição da activação leucocitária e agregação plaquetar que contribui para o restabelecimento do endotélio micro vascular.
Prevenção
Segundo NUNES e DIOGO (1996), diversos estudos demonstram que o quadro clínico completo do SARA se manifesta dentro das primeiras 48-72 horas após o início do factor desencadeante. Da análise de vários estudos realizados, identificam-se como principais factores de risco o choque séptico e o politraumatismo grave com choque, hipovolémia ou contusão pulmonar grave. No entanto, a prevenção do SARA não existe. O que deve é ser feita uma vigilância rigorosa deste grupo de doentes.
Cuidados de enfermagem
O doente com SARA é um doente crítico que carece de vigilância rigorosa. Para PHIPPS [et al.] (1999), à enfermagem compete:
Ø Avaliar função respiratória;
Ø Manter oxigenoterapia em concentrações elevadas (100%) fase aguda – reduz-se gradualmente antes de suspender;
Ø Controlar gases arteriais (gasometrias e oximetria de pulso);
Ø Colaborar na entubação endotraqueal S.O.S. e apoio ventilatório (cuidados inerentes);
Ø Administrar medicação prescrita (diuréticos, etc.) ;
Ø Tratar a causa subjacente do SARA;
Ø Implementar cinesioterapia logo que possível;
Ø Avaliar S.V., e diurese 1/1
Ø Colaborar na introdução de catéter arterial no pulmão para medir a pressão do capilar pulmonar;
Ø Avaliar estado neurológico e reacção fotomotora das pupilas;
Ø Cuidados de higiene e conforto;
Ø Dar apoio psicológico ao doente e família.
Sinais de insuficiência respiratória aguda:
v Respiração rápida;
v Pulso filiforme;
v Ansiedade e angústia;
v Inquietação ou agitação;
v Confusão mental;
v A cianose pode ou não estar presente.
A inquietação sendo um sinal de aparecimento precoce, alerta o enfermeiro para a necessidade de uma observação mais cuidada, a fim de detectar outras alterações sugestivas de insuficiência respiratória. Deve, pois, certificar-se de que as vias aéreas estão desobstruídas.
Objectivos da intervenção de enfermagem
Manter as vias aéreas permeáveis, com a fim de facilitar as trocas gasosas, através da aspiração, cinesiterapia (do posicionamento correcto e da estimulação da tosse, etc.);
ü Aumentar a eficácia ventilatória tratar a causa;
ü Promover a oxigenação adequada;
ü Diminuir as necessidades orgânicas de O2;
ü Contribuir para diminuir a ansiedade do doente
6.6-GRIPE
A designação de gripe inclui um conjunto vasto de sintomas respiratórios e gerais provocados de forma inespecífica por diversos agentes virusais em contexto clínico dificilmente diferenciáveis.
Segundo MOITA (1997), a gripe assume especial importância pela sazonalidade, envolvimento preferencial de adultos idosos, e sobretudo por constituir o principal desencadeante de infecções bacterianas.
Conceito
Na opinião de LANÇA(4) (2003), a gripe é uma infecção respiratória causada pelo vírus Influenza, pode infectar milhões de pessoas anualmente, é altamente contagiosa e ocorre mais no final do Outono, Inverno e início da Primavera.
Segundo o mesmo autor, existe três tipos deste vírus: A, B e C. O vírus Influenza A pode infectar humanos e outros animais, enquanto que o Influenza B e C infectam só humanos. O tipo C causa uma gripe muito leve e não causa epidemias.
De uma maneira geral, o vírus Influenza ocorre de maneira epidémica uma vez ao por ano. As pessoas com alguma doença respiratória crónica, com fraqueza imunológica, imunidade enfraquecida e idosos têm uma tendência para as infecções mais graves, com possibilidade de complicações fatais.
Etiologia
O vírus Influenza tem um revestimento que se modifica constantemente. Isto faz com que o organismo das pessoas tenha dificuldades em defender-se das agressões deste microorganismo, sendo também difícil desenvolver vacinas para protecção contra a infecção causada por ele. Por isso a gripe é um dos maiores problemas de saúde pública (LANÇA(4), 2003).
Segundo AMARAL (2003), o vírus debilita as defesas naturais do nosso organismo, afectando o aparelho respiratório e outros órgãos (olhos, nariz, faringe) e poderá ainda causar náuseas, vómitos, diarreia, cólicas intestinais e febre alta.
Fonte: ROCHE – Gripe. [em linha]. Copyright © 1996-2004 – Rochenet, Roche Farmacêutica Química, Lda, 2004. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.roche.pt/gripe/>.
Epidemiologia
No que concerne aos sintomas, 3 em cada 10 portugueses (em especial crianças e idosos) são atingidos pela síndrome gripal, que se manifesta subitamente e se prolonga durante 4 a 6 dias (AMARAL, 2003).
Refere CUINHA (2002), que ao longo destas últimas duas décadas verificou-se um aumento de 7 a 15 vezes mais as hospitalizações por pneumonia das pessoas de risco, durante os picos das epidemias de gripe.
A mortalidade associada à doença pode ser elevada nos indivíduos mais idosos e nos muito jovens e em indivíduos com patologias respiratórias, cardiovasculares, renais, diabetes, etc. A gravidade da doença pode ser devida ao próprio vírus ou, mais frequentemente, a infecções bacterianas que se sobrepõem na sequência duma gripe (GOMES, 2003).
Os doentes idosos, segundo MARQUES e COSTA (1995), têm características específicas que aumentam o risco de gripe:
v Processo natural de envelhecimento;
v Modificação das defesas do hospedeiro;
v Diminuição da resposta imune.
Desenvolvimento da doença
Causada pelo vírus Influenza, a gripe é uma doença contagiosa, de aparecimento inesperado, habitualmente durante o Inverno, e de propagação muito rápida. O período de incubação é de 48 a 72 horas, de acordo com a quantidade de vírus infectantes e das defesas imunológicas do indivíduo (CUNHA, 2002).
Normalmente, a propagação, segundo ROCHE (2004), é feita através das gotículas expelidas ao espirrar, tossir ou falar. O vírus entra no organismo através da boca, narinas ou olhos, e instala-se nas células de revestimento do aparelho respiratório. A replicação viral começa 24 horas antes de surgirem os sintomas, pelo que o tratamento deve ser iniciado assim que se manifestem os primeiros sintomas.
A replicação viral e, consequentemente, a infecção prosseguem durante 4 a 5 dias, mas os sintomas permanecem durante muito mais tempo.
A pessoa infectada pode continuar a propagar o vírus durante mais 5 a 7 dias após o desaparecer dos sintomas.
Manifestações clínicas
Segundo ROCHE (2004), o início dos sintomas é súbito. Os sintomas são muito intensos e incapacitantes:
Febre elevada e arrepios – eleva-se rapidamente nas primeiras horas e pode chegar a durar uma semana.
Dores musculares – podem atingir qualquer parte do corpo, mas são mais comuns nas pernas, coxas e região lombar. São frequentes dores articulares. Nos idosos, a fraqueza causada pela gripe poderá durar várias semanas.
Fotofobia – pode haver também intolerância à luz, com sensação de ardor nos olhos.
Tosse seca persistente e dor de garganta podem durar até 2 semanas.
Para PFIZER (2002), é importante saber que os sintomas da gripe não são específicos, sendo frequentemente parecidos com os causados por outros vírus respiratórios que podem estar a circular numa comunidade.
Complicações
Como complicações possíveis da gripe encontra-se a pneumonia, normalmente, não pelo vírus Influenza, mas por uma bactéria – pneumococo ou estafilococo, geralmente (LANÇA(4), 2003).
Para ROCHE (2004) outras complicações respiratórias incluem: otite média, agravamento de doença respiratória crónica e bronquiolite em bebés e crianças.
As complicações não respiratórias incluem: convulsões febris, síndroma de Guillan-Barré, encefalopatia, miosite, miocardite, entre outras.
Refere AMARAL(2003) que, se a gripe afectar a população mais vulnerável, esta deverá consultar de imediato o médico, após os primeiros sintomas gripais, evitando assim o aparecimento de infecções secundárias que poderão ser fatais.
Diagnóstico
Segundo LANÇA(4) (2003), o médico faz o diagnóstico através dos sinais e sintomas referidos pelo doente e com o auxílio do exame físico.
Na maioria das vezes, não necessitará de exames complementares. Mas, se o médico suspeitar de complicações causadas pelo vírus Influenza, poderá solicitar:
v Análises sanguíneas;
v Análise da secreção respiratória;
v Radiografia ao tórax, já que a pneumonia é a complicação mais séria do Influenza.
Tratamento
Não há tratamento curativo eficaz para a gripe. A única terapêutica antiviral específica, susceptível de abreviar a duração da doença e de interromper a replicação viral após contágio é a amantadina (apenas reduz o tempo de doença em 50%) e rimantadina que podem ajudar no processo de cura nos casos de gripe pelo vírus A, desde que utilizados nas primeiras 48 horas da doença (ROSA, 1991).
Para FÓRUM DA FAMÍLIA (2000), o zanamivir, em pó para inalação, mas também este só reduz (em cerca de 1,5 dias segundo o fabricante) a duração da doença. Na maioria das pessoas saudáveis não é compensador submeter-se aos efeitos secundários deste medicamento, visto que a gripe passa espontaneamente.
Os antibióticos são inúteis pois os vírus não são sensíveis. A nebulização com essências (eucalipto, mentol, etc) não tem qualquer interesse terapêutico e pode provocar reacções alérgicas ou agravamento de uma asma preexistente.
Para o mesmo autor, o tratamento de suporte consiste em:
v Alimentar-se bem e beber muitos líquidos, para manter uma boa hidratação facilitando a "limpeza" dos brônquios e restantes vias aéreas respiratórias;
v Ficar em casa, se tiver febre;
v Tomar analgésico/antipirético, para reduzir o desconforto da febre e dores musculares;
v Os antihistamínicos não curam, mas podem aliviar rinorreia, bem como as gotas nasais de vasoconstritores, se usadas por períodos curtos (3-4 dias);
v Retorno às actividades normais, só deve ser feito após ausência de sintomas.
Prevenção
A melhor maneira de proteger da gripe é fazer a vacinação anual contra o Influenza antes de iniciar o Inverno. Ela pode ajudar a prevenir os casos de gripe ou, pelo menos, diminuir a gravidade da doença. A sua eficácia em idosos muito frágeis, porque têm pouca capacidade de desenvolver anticorpos protectores após a imunização é de 30-40%. Contudo, a vacinação conseguiu proteger contra complicações graves da doença como as hospitalizações e as mortes. Vacinar todos os idosos doentes ou em risco de contraírem doença é hoje uma recomendação universal e indiscutível (MOITA, 1997).
Refere GOMES (2003), que as vacinas usadas na Europa são vacinas inactivas, preparadas a partir de vírus cultivados, fragmentados e purificados. A vacina tem antigénios de superfície da estirpe do vírus escolhida anualmente, em função de informação epidemiológica, segundo recomendações da OMS. Todos os anos, em Fevereiro, a composição da vacina é decidida a nível europeu.
Contudo, ao contrário do senso comum, a vacinação não é destinada a toda a população, nem evita a 100% a doença. O seu efeito influi na resistência do nosso organismo ao vírus e na consequente redução dos riscos de infecções bacterianas secundárias do tracto respiratório inferior – vulgarmente designadas como “pneumonias” – a dos sistemas nervoso e cardiovascular (AMARAL, 2003).
A vacina não faz parte do Plano Nacional de Vacinação e não é gratuita.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as pessoas mais vulneráveis deverão prevenir esse contágio através da vacinação. Essas pessoas, de acordo com GOMES (2003), são:
ü Indivíduos com 65 ou mais anos de idade, particularmente os residentes em lares ou instituições comunitárias;
ü Pessoas residentes ou com internamentos prolongados em instituições prestadoras de cuidados de saúde, independentemente da idade;
ü Todas as pessoas com idade superior a 6 meses, incluindo grávidas e mulheres a amamentar, que sofram de:
Ø Doenças crónicas pulmonares (incluindo asma), cardíacas, renais e hepáticas
Ø Diabetes mellitus
Ø Outras doenças que, pelas suas características, provocam geralmente diminuição da resistência às infecções (ex.: SIDA e cancro);
ü Pessoas sem abrigo;
ü Crianças e adolescentes em terapêutica prolongada com salicilatos.
Para o mesmo autor, a vacina está contra indicada para:
ü Pessoas com antecedentes de reacção grave a uma dose anterior da vacina;
ü Pessoas com alergia ao ovo;
ü A vacina NÃO está contra-indicada em grávidas;
ü Pessoas que tiveram Síndrome de Guillan-Barré, em que se suspeitou que tivesse sido após uma vacina anti-Influenza;
ü Pessoas com alguma doença febril actual.
Segundo PFIZER (2002), mesmo vacinadas, algumas pessoas podem contrair gripe. Porém, na maioria dos casos os sintomas são mais fracos, parecidos com os de uma constipação.
Na opinião do FÓRUM DA FAMÍLIA, a vacina apenas oferece protecção por um tempo limitado - inferior a 1 ano - tendo que ser repetida no ano seguinte porque o vírus da Influenza muda de "aspecto" escapando às vacinas. É por este motivo que a vacina da gripe tem uma composição que é alterada todos os anos, conforme a "aparência" previsível do vírus para esse ano.
Reacções pós-vacinais
A vacina contra a gripe é muito segura. Pode provocar dor, eritema, formação de um nódulo duro no local de injecção. Mais raramente podem ocorrer febre baixa, mal-estar e mialgias, que desaparecem geralmente entre 24 a 48 h (GOMES, 2003).
A prevenção das infecções respiratórias, segundo FÓRUM DA FAMÍLIA (2000) consiste em reduzir o risco de contágio:
ü Lavar as mãos com frequência, sobretudo depois de tocar no nariz, olhos ou boca.
ü Evitar contacto directo com pessoas que estejam constipadas, sobretudo nos primeiros 2-3 dias em que o contágio é mais fácil.
ü Durante os períodos de epidemia, evitar locais onde se concentrem muitas pessoas: estes lugares são autênticos "banhos" de vírus.
usar (e fazer com que os outros usem ...) lenços de papel para se assoar;
usar (e fazer com que os outros usem ...) lenços de papel para se assoar;
ü Tapar a boca quando se espirra ou tosse.
ü Fazer exercício físico. Comer uma dieta variada e dormir o necessário. O sistema imunitário trabalha melhor quando estamos em boa forma física.
7- CONCLUSÃO
Ao realizarmos este trabalho, ficámos a conhecer melhor o envelhecimento normal e patológico do idoso, a nível do sistema respiratório. Verificámos que esta é uma fase de vida muito vulnerável, onde todos os órgãos sofrem um conjunto de alterações, podendo levar a patologias mais ou menos graves.
Chegámos à conclusão que a pneumonia é uma das patologias que afecta mais os idosos, já que grande parte delas são oportunistas.
Uma vez que não conseguimos abordar todas as patologias do sistema respiratório, mas sim as mais frequentes, poderemos dizer que não conseguimos atingir os objectivos, que nos propusemos, na totalidade. Quanto aos dados recolhidos, foi difícil fazer uma síntese, devido à extensa bibliografia que encontrámos.
Consideramos que esta é uma área importante para desenvolver trabalhos, de forma a melhorar a qualidade de cuidados e actuar aos três níveis preventivos, principalmente a prevenção, já que a população idoso está a aumentar. Esta tendência de envelhecimento da população exige dos gestores públicos o planeamento específico e o investimento em acções voltadas para a promoção da saúde dos idosos, de modo a garantir a prevenção de doenças e a assistência, bem como a sua reabilitação.
BIBLIOGRAFIA
AMARAL, Cláudia – A Gripe - Aqui Fica o Conselho: Previna-se. [em linha]. © 1999-2003 Espigueiro - Central de Informações Regionais. Última actualização em 24 de Novembro de 2003. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.espigueiro.pt/reportagem/eed5af6add95a9a6f1252739b1ad8c24.html>.
Asma no Idoso [em linha] [citado em 10 de Março] Disponível em: <http://www.asmabrônquica.com.br/pierre/23.1ASMA-IDOSO.htm>.
BARE, Brenda; SMELTZER, Suzanne – Brunner & Suddarth Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
BERGER, Louise M. Éd.; MAILLOUX-POIRIER, Danielle. Pessoas idosas : uma abordagem global. Lisboa: Lusodidacta, 1995.
BOAVIDA, Joana – Sistema Respiratório [em linha]. [citado em 10 de Março de 2004] Disponível em: <http://www-2sic.pt/index.php?article=3821visual=4>.
BOEHRINGER INGELHEIM – Doenças Respiratórias [em linha]. © Copyright 2003 Boehringer Ingelheim, Lda [citado em 4 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.boehringer-ingelheim.pt/produtos/produtos_prescricao_respiratorias.html>.
BRUNNER, Liliane e SUDDARTH, Doris – Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
CALKINS, Evan ; FORD, Amasa B. ; Katz, Paul R. – Geriatria Prática. 2ª ed. Rio de Janeiro : Revinter, 1997.
CONDE, António – Os últimos dias do Outono. Porto: Revista Informar. Ano VI, nº 21 (Abril/Junho de 2000), p.19 – 22.
CUNHA, José – DPOC [em linha]. Guarda : Jornal Nova Guarda, Serviços Internet: Dom Digital, Lda, 1999. [citado em 5 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.novaguarda.pt/070503/g_opi1.htm>.
CUNHA, José – Constipações e Gripe. [em linha]. Guarda : Jornal Nova Guarda, Serviços Internet: Dom Digital, Lda, 2002. Última actualização em 5 de Janeiro de 2002. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.novaguarda.pt/050100/g_opi3.htm>.
DICIONÀRIO ENCICLOPÈDICO DE MEDICINA. 3ª ed. 1º Vol., 1997.
Dicionário Médico Enciclopédico Taber. 17ª Edição. São Paulo: Editora Manole, 2000.
DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE – Auto-controlo da asma. CD-ROM. Lisboa: Citi, 2000.
DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE – Auto-controlo da asma. CD-ROM. Lisboa: Citi, 2001.
ERMIDA, J. Gomes – Avaliação geriátrica compreensiva. Lisboa: Revista Geriatria. vol. IX, nº 84 (Abril de 1996), p.5-12.
FORUM DA FAMÍLIA – A Gripe. [em linha]. © CS 2000 Fórum da Família. Última actualização em 23 de Novembro de 2000. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://forumdafamilia.no.sapo.pt/medicina/adultos/gripe.htm>.
GLAXOSMITHKLINE – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica [em linha]. © 2003-2004 GlaxoSmithKline, 2003. Última actualização em 28 de Maio de 2003 [citado em 05 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.gsk.pt/articles/30202.asp?fromArea=9601>.
GOMES, Frederico Alberto de Azevedo ; FERREIRA, Paulo César Affonso – Manual de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro : EBM, 1985.
GOMES, Manuel Carmo – Gripe - Vacina Contra a Gripe. [em linha]. © 2003 Pedro MR Gomes, 2003. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://correio.fc.ul.pt/~mcg/vacinacao/gripe/>.
GOMES, Maria João Marques [et al.] – O que é a DPOC [em linha]. © 2001-2004 - Sociedade Portuguesa de Pneumologia e © 2001-2004 MNI - Médicos na Internet, Desenvolvido por MNI - Médicos na Internet, Saúde na Internet, S.A. [citado em 05 de Março de 2004]. Disponível em <http://www.sppneumologia.pt/index.php?titulo=Não%20profissionais&file=l_geral_txt&fileleft=geral_txt&area=Não%20profissionais&cod=119>.
GRONDIN, Louise [et al.] – Planificação dos cuidados de enfermagem. Lisboa: Instituto Piaget, 1992.
GUCCIONE, Andrew A. – Fisioterapia Geriátrica. 2ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2002.
JOHNSTON, Michael R. – Cancro do Pulmão Curável: como Detecta-lo e Trata-lo. Lisboa. Vol. 9, N.º3 (Abril, 1998), p.31.
LANÇA(1), Márcio Ataíde – Bronquites. Grande Enciclopédia Médica – Saúde da Família. Matosinhos : QuidNovi. Vol.3 (2003), p.8-17.
LANÇA(2), Márcio Ataíde – Enfisema Pulmonar. Grande Enciclopédia Médica – Saúde da Família. Matosinhos : QuidNovi. Vol.6 (2003), p.32-39.
LANÇA(3), Márcio Ataíde – Asma. Grande Enciclopédia Médica – Saúde da Família. Matosinhos : QuidNovi. Vol.2 (2003), p.50-55.
LANÇA(4), Márcio Ataíde – Gripe. Grande Enciclopédia Médica – Saúde da Família. Matosinhos : QuidNovi. Vol.8 (2003), p.10-15.
LIONTAKIS – Insuficiência respiratória [em linha] Revista de psiquiatra clínica, 1997. [citado em 20 de Março de 2004] Disponível em: <http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/r244/iresp244.htm>.
LUCKMANN e SORENSEN – Enfermagem Médico Cirúrgica – uma abordagem psicofisiológica. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1996.
MARQUES, Raul de Amaral ; COSTA, Manuel de Freitas – Gripe: Uma Doença Evitável. Geriatria. Lisboa. N.º 78 (Outubro 1995), p. 5-10.
MARTINS, Dr. Borges – Apontamentos de Enfermagem Médico-Cirúrgica I. Viseu: Escola Superior de Enfermagem de Viseu, 2000.
MOITA, Joaquim – A gripe no Idoso. Geriatria. Lisboa. N.º 98 (Outubro 1997), p. 9-11.
NUNES, Fernando ; DIOGO, Sofia – Síndrome de Dificuldade Respiratória do Adulto. Sinais Vitais. Lisboa. N.º 9 (Novembro 1996), p.31-34.
PETROIANU, Andy e PIMENTA, Luiz Gonzaga – Clínica e cirurgia geriátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
PFIZER – Gripe [em linha]. Copyright 2002 Laboratórios Pfizer Lda, 2002. [citado a 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.pfizer.pt/faqs/faq.php?tema=gripe>.
PHIPPS, Wilma J. [et al.] – Enfermagem Médico-Cirúrgica – Conceitos e Prática Clínica. 2ª ed. (em português). Lisboa : Lusodidacta, Vol. 1, Tomo 2, 1999.
Pneumonia [em linha]. [citado em 8 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.sbpt.org.br/leigos/pneumonia.htm>.
Pneumonia no idoso [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://images.google.com/images?q=pneumonia+&hl=pt&lr=&ie-8&oe=UTF-8&start =20&sa=N>.
Pneumonia [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.ne.jp/asahi/fumi/dental/perio3/medicine/pneumonia.gif>.
Pneumonia [em linha]. [citado em 29 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.puk.ac.za/wellness/images/typpneumonia.jpg>.
REIS JR, José – Medicina Geriátrica: Prevenção, tratamento, reabilitação. 2ª Edição. Lisboa: Citécnica, 1978.
ROBERT, Ladislas – O envelhecimento. Lisboa : Instituto Piaget, 1995.
ROCHE – Gripe. [em linha]. Copyright © 1996-2004 – Rochenet, Roche Farmacêutica Química, Lda, 2004. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www.roche.pt/gripe/>.
ROSA, A. Pereira – Gripe: Prevenir é opção válida. Geriatria. Lisboa. N.º 37 (Setembro 1991), p. 30-31.
SALLUH, Jorge – Pneumonia no idoso [em linha]. [citado em 9 de Março de 2004]. Disponível em: <http://www. fisiomax.hpg.ig.com.br/areas/ p8.htm>.
SEELEY, Rod R. ; STEPHENS, Trent D. ; TATE, Philip – Anatomia e Fisiologia. Lisboa: Lusodidacta, 1997.
TARANTINO, Affonso Berardinelli – Doenças Pulmonares. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1990.