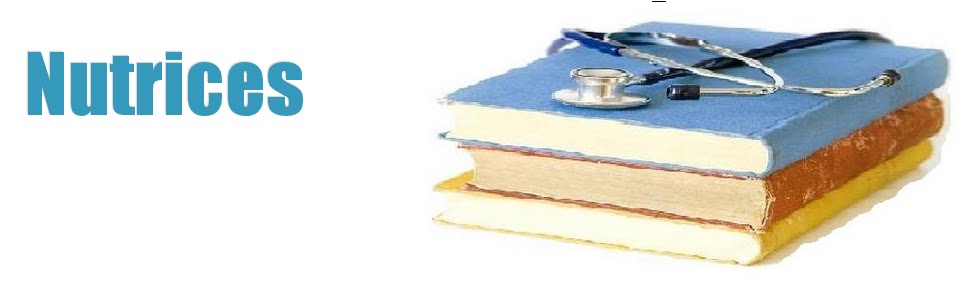1- INTRODUÇÃO
No âmbito da unidade curricular de Enfermagem na Comunidade II foi-nos proposta a realização do trabalho com o tema: “Alterações fisiológicas/patológicas no envelhecimento”. Cabe-nos, dentro deste, abordar as alterações que ocorrem a nível do sistema músculo-esquelético.
Um dos objectivos deste trabalho é conhecer e compreender melhor o processo de envelhecimento como fase do ciclo da vida, nomeadamente a nível do sistema músculo-esquelético. Pretendemos, portanto, alargar os nossos conhecimentos, por um lado no que diz respeito às alterações normais que ocorrem a partir de certa idade e respectivas medidas preventivas, e por outro, abordar as patologias mais frequentes. Desejamos ainda, salientar as intervenções de enfermagem em algumas dessas alterações patológicas.
O nosso trabalho encontra-se dividido em duas grandes partes. Na primeira, serão abordadas as alterações fisiológicas normais do envelhecimento e intervenções preventivas no sistema músculo-esquelético e, na segunda, serão abordadas as situações patológicas mais frequentes no idoso e respectivas intervenções de enfermagem. Dentro das patologias mais frequentes salientamos: a polimialgia reumática, osteomalácia, osteoporose, fractura do colo do fémur, espondilite anquilosante, artrose, artrite reumatóide e gota.
2- ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Shakespeare cit. In FREITAS (2002) referiu-se à velhice como uma segunda infância: "sem olhos, sem dentes, sem nada". Muito antes, Sêneca considerava a velhice como uma doença, e um ditado grego anterior dizia que morriam cedo aqueles que eram amados pelos deuses. Geriatras de hoje querem a velhice "tardia, lenta, sana e serena".
Será a velhice uma doença e, como tal, poderá ser tratada e prevenida, ou uma fase normal do viver, se bem que não tão cristalina quanto a adolescência, por exemplo? A separação das doenças na velhice dos processos íntimos do envelhecimento parece ser cada vez mais falsa que real; a dicotomia velhice natural versus patológica, de facto, é inexistente. Quais seriam as doenças integradas no processo natural do envelhecimento?
Em sentido amplo, o envelhecimento inicia-se no momento em que se verifica a concepção. Em sentido restrito, o indivíduo começa a ficar velho muito tempo depois. Este tempo varia com o indivíduo e com a época em que ele viveu ou vive. Assim é que, a julgar pela duração da vida e tendo presente que a velhice é o período terminal desta, no início deste século, a vida durava em média 49 anos e, actualmente, pelo menos nos Estados Unidos, a média passou a ser aproximadamente, de 78 anos para as mulheres e 75 anos para os homens.
Com estes dados, pode-se estabelecer que a idade média com a qual um indivíduo passa a ser velho ou idoso, neste fim de século, seja considerada 65 anos.
Segundo afirma Max Burger cit. in ENCICLOPÉDIA SALVAT DE SAÚDE (1984), o processo de envelhecimento inicia-se “no momento da concepção, é um facto fisiológico normal, e como tal deve ser considerado”. Permite uma boa qualidade de vida, adaptada a uma diferente situação orgânica e funcional. Para a atenção e unidade deste envelhecer fisiologicamente devem tender os esforços de todos: da população e dos serviços de saúde.
Como dizia Úcero, cit. in ENCICLOPÉDIA SALVAT DE SAÚDE (1984) “é possível envelhecer sem azedar como os bons vinhos”.
Outra coisa é o envelhecimento patológico, que supõe que a doença ou doenças interferem no processo natural e o modificam desfavoravelmente. Logicamente é neste caso, que há algo a dizer e principalmente a fazer: prevenir o envelhecimento patológico...
2.1 SAÚDE E ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO NORMAL
O ser humano não envelhece de uma só vez, mas antes duma maneira gradual, e a velhice parece instalar-se sem que se dê por isso. O processo ainda não está completamente elucidado e compreendido, apesar das numerosas teorias que tentam explicar o envelhecimento biológico. No entanto, nem tudo o que se liga à velhice é necessariamente nefasto ou desastroso. A saúde não desaparece automaticamente com a chegada da velhice, que não é sinónimo de doença ou handicap. De resto, a maior parte dos idosos consideram-se saudáveis. A velhice e a saúde são mais processos evolutivos do que estados.
No processo de envelhecimento são atingidos todos os sistemas importantes do organismo, e o efeito destas mudanças nos contextos ambientais específicos modificam os comportamentos individuais. Trata-se no entanto de processos normais, e não de sinais de doença.
O ser humano tem um poder de adaptação extraordinário. Mesmo na velhice, consegue manter a hemodinâmica e estabilizar as diferentes constantes fisiológicas, de modo a manter-se com saúde.
A deterioração das estruturas e das capacidades funcionais do organismo limita progressivamente a actividade do ser humano, torna-o cada vez menos apto a suportar o stress e arrasta-o inexoravelmente para a morte. Este processo de deterioração tem, no entanto, um carácter diferencial.
2.2 ENVELHECIMENTO DIFERENCIAL
Ninguém envelhece da mesma maneira ou ao mesmo ritmo. As modalidades de senescência variam imenso de uma população humana para outra, bem como no interior de uma mesma população. Chama-se a isso envelhecimento diferencial.
No homem, os indivíduos de um mesmo grupo demográfico apresentam muitas vezes uma direcção mutável no horário de envelhecimento; certos idosos podem mesmo conservar níveis de desempenho semelhantes aos de grupos mais jovens.
As modificações fisiológicas do envelhecimento humano têm efeitos cumulativos, fazem-se sempre de maneira progressiva, são irreversíveis e finalmente deletérios para todos os seres humanos. Ao contrário da doença, o processo de envelhecimento é um fenómeno normal e universal. As alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se a um ritmo diferente para cada pessoa e dependem de factores externos como o estilo de vida, actividades e ambiente, e de factores internos como a carga genética e o estado de saúde.
O envelhecimento dos sistemas fisiólogos internos é também um processo individual. A involução não começa no mesmo momento, não se desenvolve ao mesmo ritmo e não atinge o mesmo grau de degenerescência para todos os sistemas orgânicos. O processo de envelhecimento resulta por um lado de factores internos, mas também de factores externos que determinam a diferenciação, como o clima, as agressões físicas e psicológicas, as radiações, o estado nutricional, educação, medidas de higiene, etc.
Não se deve medir o envelhecimento pela idade cronológica, a relação entre a idade biológica e a idade cronológica não varia só de um indivíduo para outro mas também, numa mesma pessoa, de um órgão para outro.
O envelhecimento orgânico não é homogéneo. Alguns tecidos não envelhecem, outros renovam-se constantemente e outros, não se renovam nunca. São numerosas as causas do envelhecimento diferencial, que se agrupam geralmente em quatro grandes categorias:
· Causas genéticas, como a hereditariedade;
· Ausência de uso, ou mau uso de uma função ou de uma aptidão durante o crescimento e idade adulta, como o envelhecimento acelerado do sistema muscular no sedentário;
· Factores de risco que agravam a senescência, como o tabagismo e os excessos alimentares;
· As doenças intercorrentes que aceleram o envelhecimento sobretudo depois dos sessenta anos, como um acidente ou um problema de saúde importante.
Certos idosos parecem mais velhos do que a sua idade biológica, enquanto para outros é exactamente o contrário. Por outro lado, as modificações fisiológicas normais podem mascarar ou dissimular certos sintomas de doença e dificultar a avaliação. Não se conhecem actualmente a/as razões do envelhecimento diferencial, da mesma maneira que é impossível identificar todos os seus factores.
2.3 PROCESSO DE SENESCÊNCIA
O envelhecimento foi durante muito tempo percebido como um fenómeno patológico relacionado com o desgaste do organismo e as sequelas das doenças da infância e da idade adulta. Mas a senescência não é uma doença e não se pode comparar com qualquer estado patológico actualmente conhecido.
A senescência é um processo multifactorial que arrasta uma deterioração fisiológica do organismo. É um fenómeno normal, universal, intimamente ligado ao processo de diferenciação e de crescimento. Todo o organismo vivo conhece, de acordo com um esquema específico e determinado (programa de desenvolvimento), um período de crescimento seguido de um período de decrescimento (ou declínio). Mesmo que sejam ainda mal conhecidas as causas precisas da senescência, sabe-se que o processo depende de factores endógenos e exógenos.
A senescência não é, pois, uma doença, mas pode levar a uma quantidade de afecções, porque se caracteriza pela redução da reserva fisiológica dos órgãos e sistemas. Cedo ou tarde, o equilíbrio homeostático desregula-se. Os problemas aparecem principalmente em momentos de stress fisiológico, porque o organismo já não tem as reservas necessárias para resistir às agressões e manter as funções vitais. Segundo Serge Laganiére cit. in BERGER (1995): "À redução fisiológica inerente à idade vêm somar-se as perdas funcionais resultantes da não utilização e das sequelas de doenças agudas anteriores ou de afecções crónicas."
A senescência é um processo natural e não é sinónimo de senilidade, termo que designa uma degenerescência patológica, de facto muitas vezes associada à velhice, mas que tem origem em disfunções orgânicas.
O sinal mais evidente de senescência é a diminuição da capacidade de adaptação do organismo face às alterações do meio ambiente. Este declínio acentua-se com a idade e com o surgir de afecções crónicas.
2.4 ENVELHECIMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
O envelhecimento primário refere-se ao processo de senescência normal, enquanto que o envelhecimento secundário se refere ao aparecimento, com a idade, de lesões patológicas muitas vezes múltiplas, mas que se mantêm potencialmente reversíveis. No envelhecimento primário (senescência), as qualidades necessárias à vida e à sobrevivência modificam-se e são substituídas por outras. No envelhecimento secundário, a existência de lesões associadas às diferentes alterações normais contribui para alterar mais ainda a capacidade de adaptação do indivíduo. A presença de doenças desempenha um papel determinante no estabelecimento da esperança de vida.
Tanto no plano terapêutico, como no de diagnóstico, nem sempre é fácil distinguir de maneira precisa o envelhecimento primário do secundário, ou a senescência da doença. Certos problemas fisiológicos e certas doenças que acompanham o envelhecimento são muitas vezes confundidos com as manifestações do envelhecimento normal.
As modificações fisiológicas que se produzem no decurso do envelhecimento resultam de interacções complexas entre vários factores intrínsecos e extrínsecos. Por isso é tão difícil determinar quais as mudanças intrínsecas, e por isso inevitáveis, e quais as que resultam de factores externos, portanto reversíveis.
2.5 MODIFICAÇÕES FISIOLÓGICAS
Para melhor compreender as alterações anatómicas e fisiológicas que a senescência produz nas células e órgãos vejamos um pouco da anatomia e fisiologia a nível do sistema músculo-esquelético.
Sistema esquelético
O sistema esquelético é constituído por ossos, cartilagens, tendões e ligamentos.
As funções deste sistema são: suportar o corpo (ossos), protecção dos órgãos que envolve, possibilitar os movimentos do corpo, armazenar minerais e gorduras e constituem um local de produção de elementos sanguíneos.
Tendões e ligamentos
Os tendões permitem a inserção dos músculos nos ossos e os ligamentos fixam os ossos uns aos outros.
Os fibroblastos produzem a matriz de tendões e ligamentos. Os fibrócitos são fibroblastos completamente envolvidos pela matriz.
As fibras de colagénio nos tendões estão dispostas paralelamente. Nos ligamentos nem todas as fibras se encontram paralelas e algumas contêm elastina.
O crescimento aposicional ocorre quando os fibroblastos segregam matriz para o exterior das fibras existentes, o crescimento intersticial ocorre quando os fibrócitos produzem matriz nova no interior do tecido.
Cartilagem hialina
A matriz da cartilagem contém grandes quantidades de água que tornam a cartilagem resiliente.
Os condroblastos produzem cartilagem e tornam-se condrócitos. Os condrócitos encontram-se localizados nas lacunas envolvidas pela matriz.
O pericôndrio envolve a cartilagem. A camada externa contém fibroblastos. A camada interna contém condroblastos.
A cartilagem cresce por crescimento aposicional e por crescimento intersticial.
Osso
Os ossos podem ser classificados como longos, curtos, achatados ou irregulares.
A diáfise é o corpo de um osso longo e as epífises as extremidades. A placa epifisária é o local de crescimento ósseo em comprimento.
A cavidade medular é um espaço no interior da diáfise.
A medula vermelha é o local de produção de células sanguíneas e a medula amarela consiste em gordura.
O periósteo cobre a superfície externa do osso. A camada externa contém vasos sanguíneos e nervos. A camada interna contém osteoblastos e osteoclastos. As fibras perfurantes sustentam o periósteo, os ligamentos e os tendões mantendo-os no seu lugar.
O endósteo reveste as cavidades no interior do osso e contém osteoblastos e osteoclastos.
Os ossos curtos, os chatos ou achatados e os irregulares são formados externamente por osso compacto, que envolve o osso esponjoso.
Matriz óssea:
O tecido ósseo é composto por uma matriz orgânica (na maior parte colagénio) que proporciona flexibilidade e uma matriz inorgânica (hidroxiapatite) que suporta as força de compressão.
Os osteoblastos produzem matriz óssea e tornam-se osteócitos. Os osteócitos encontram-se localizados nas lacunas e ligam-se entre si através dos canalículos.
Os osteoclastos destroem (reabsorvem) tecido ósseo.
O tecido ósseo dispõe-se em finas camadas denominadas lamelas.
Osso esponjoso
As lamelas combinam-se para formar trabéculas, que se interligam para formar uma estrutura entrelaçada. As trabéculas orientam-se ao longo das linhas de tensão e dão força estrutural.
Osso compacto
Os canais no interior do osso compacto permitem um meio de troca para gases, nutrientes e produtos de excreção: os canalículos ligam osteócitos uns aos outros e aos canais de Havers; os canais de Havers contêm vasos sanguíneos que se dirigem para os canais de Volkmann; e os canais de Volkmann transportam vasos sanguíneos para e do periósteo ou endósteo.
O osso compacto é constituído por lamelas altamente organizadas: lamelas circunferenciais cobrem a superfície exterior dos ossos compactos; as lamelas concêntricas rodeiam os canais de Havers, formando sistemas de Havers; as lamelas intersticiais são remanescentes de outras Iamelas abandonadas após a remodelação óssea.
Homeostasia do cálcio
A hormona paratiróide aumenta a reabsorção do tecido ósseo subindo assim os níveis sanguíneos de cálcio. A calcitonina tem um efeito oposto.
Remodelação óssea
A remodelação converte osso não laminar em osso laminar e possibilita ao osso alteração da forma, ajuste à tensão, reparação e regulação dos níveis de cálcio. O osso ajusta-se à tensão por adição de tecido ósseo novo e através do reajustamento do osso por remodelação.
Reparação óssea
A reparação de uma fractura começa com a formação de um coágulo. O coágulo é substituído por uma rede de fibras e cartilagem que se denomina calo fibrocartilagíneo. O calo fibrocartilagíneo é ossificado para formar um calo ósseo, que é depois remodelado.
Articulações
Articulação ou junta é o local onde dois ou mais ossos se mantêm em contacto. As articulações designam-se de acordo com os ossos ou partes de ossos envolvidos. Classificam-se de acordo com a função ou de acordo com o tipo de tecido conjuntivo que os mantém juntos e com a eventual existência de líquido entre os ossos.
Articulações assinoviais fibrosas
As articulações assinoviais fibrosas são aquelas em que os ossos são unidos por tecido fibroso, sem cavidade articular. Têm pouco ou nenhum movimento. As suturas mantêm unidos por tecido conjuntivo denso e fibroso ossos com uniões digitiformes. Encontram-se em diversos ossos do crânio. Sindesmoses são articulações formadas por ligamentos fibrosos. Gonfoses são articulações que aderem por superfícies curvas, por exemplo as alvéolodentárias, mantidas por ligamentos periodontais. Algumas suturas e outras articulações são susceptíveis de ossificar (sinostoses).
Articulações assinoviais cartilaginosas
Sincondroses são articulações imóveis em que os ossos são unidos por cartilagem hialina, as epífises por exemplo. As sínfises são articulações ligeiramente móveis constituídas por fibrocartilagem.
Articulações sinoviais
As articulações sinoviais são móveis. Consistem no seguinte:
¶ Cartilagem articular nas extremidades dos ossos, proporcionando uma superfície macia para a articulação. Os meniscos podem proporcionar resistência adicional.
¶ Uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso que mantém os ossos unidos embora permitindo flexibilidade e uma membrana sinovial, que produz líquido sinovial que lubrifica a articulação.
As bolsas são extensões de articulações sinoviais que protegem a pele, tendões ou osso das estruturas que poderiam exercer atrito sobre elas.
As articulações sinoviais classificam-se de acordo com as formas das superfícies articulares adjacentes: planas (duas superfícies lisas), em sela (duas superfícies em forma de sela), em tróclea (superfícies côncava e convexa), cilíndrica (projecção cilíndrica no interior de um anel), em esfera (esfera num encaixe) e condilartroses (superfície condiliana e convexa e sua oposta plana ou côncava).
Tipos de movimento
1. Os movimentos angulares são a flexão e a extensão, a abdução e a adução.
2. Os movimentos circulares são a rotação, pronação e supinação, e circundução.
3. Os movimentos especiais incluem elevação e abaixamento, projecção e retracção, didução, oponência, e inversão e eversão.
4. Os movimentos combinados envolvem dois ou mais dos movimentos supracitados.
Sistema muscular
O músculo apresenta contractilidade, excitabilidade, extensibilidade e elasticidade. Os três tipos de músculo são: esquelético, liso e cardíaco.
As alterações anatómicas e fisiológicas ligadas à velhice iniciam-se muitos anos antes do aparecimento dos sinais exteriores. Várias destas alterações começam a manifestar-se progressivamente a partir dos quarenta anos e continuam até à morte, isto é, até que o organismo se deixe de poder adaptar.
No plano fisiológico, o processo de senescência causa o envelhecimento das estruturas e do aspecto geral do corpo, e o declínio das funções orgânicas.
- Mudanças estruturais
As mudanças estruturais dão-se sobretudo a nível metabólico e celular, e na repartição dos componentes corporais. Estas alterações podem modificar não apenas o funcionamento do organismo como ainda a aparência corporal. Neste contexto analisar-se-à apenas as alterações percepcionadas no sistema músculo-esquelético por se encontrarem mais dirigidas para o tema principal (quadro 1).
· Músculos, ossos e articulações
As alterações a nível do sistema locomotor são as que aparecem mais rapidamente. Não só modificam a aparência e a estrutura física mas também o funcionamento do organismo. Atingem os músculos, ossos e articulações, mas também o conjunto de tecidos de suporte.
Todos os músculos do organismo, e em especial os do tronco e das extremidades, atrofiam-se com o tempo, o que leva a uma deterioração do tónus muscular e a uma perda de potência, força e agilidade. O peso total dos músculos diminui para metade entre os 30 e os 70 anos. O envelhecimento dos músculos é o resultado da atrofia das fibras musculares e do aumento do tecido gordo no interior dos músculos. Estes perdem muita força, sobretudo nos antebraços, pernas e dorso, bem como na mandíbula e nos lábios. O tremor das mãos, dos braços e da face é um fenómeno corrente nas pessoas de idade.
Também as articulações sofrem mudanças: os ligamentos calcificam-se, ossificam, e as articulações tornam-se mais pequenas porque as superfícies articulares são erodidas. Enquanto que, ao degenerar, algumas articulações tornam-se menos flexíveis, outras, pelo contrário, tornam-se mais flexíveis e hiperelásticas. Mesmo conservando a aparência exterior, os ossos também sofrem modificações. O processo de reabsorção do cálcio sofre um desequilíbrio e o tecido ósseo torna-se mais poroso e mais frágil por uma desmineralização constante da massa e da densidade óssea. Este fenómeno ligado à senescência e designado por "osteoporose" é frequente nas pessoas de idade, mas parece fazer mais vítimas entre as mulheres a partir da menopausa. A osteoporose é também um dos factores responsáveis pela perda dos dentes. Esta perda liga-se com efeito a uma inflamação e a uma reabsorção por desmineralização (similar à osteoporose) do osso em torno do dente. Os restantes dentes achatam-se e o maxilar atrofia-se, o que dá a impressão de que os dentes são mais compridos e mais espaçados. Esta reabsorção óssea dos maxilares e da mandíbula acentua-se com a queda dos dentes. Reduz-se a distância entre o queixo e o nariz e os dentes migram para traz, modificando com o tempo a fisionomia do idoso.
A redução da altura é também um fenómeno a atribuir ao envelhecimento. Na realidade, consiste no encolher da coluna vertebral (de 1,2 a 5 cm) causado por um estreitamento das vértebras dorso-lombares (osteoporose). Este fenómeno, mais marcado nas mulheres do que nos homens, começa pelos cinquenta anos e liga-se à interacção de diversos factores como a idade, sexo, raça e ambiente. Este encolher da coluna vertebral cria um efeito de desproporção, visto os braços e as pernas manterem o comprimento normal. Por outro lado, provoca um desvio da parte superior do tórax e uma, acentuação da curva natural da coluna vertebral. É a "cifose". Para manter o equilíbrio, o idoso tem que se inclinar para a frente de forma a manter o centro de gravidade. Com o tempo, as cartilagens desgastam-se, e as flexões tornam-se permanentes. A cavidade torácica diminui também de volume e as costelas deslocam-se para baixo e para a frente. Esta redução da caixa torácica pela osteoporose das costelas, associada à atrofia dos músculos respiratórios, diminui a amplitude respiratória, a largura dos ombros, e é responsável pela posição inclinada para a frente com a cabeça inclinada para traz de muitos idosos. Este enrolar do corpo altera a aparência, dificulta a mobilidade e acentua ainda mais o encolher do corpo. Nas mulheres, os seios tornam-se pendentes, atrofiam-se, e por vezes os mamilos ficam umbilicados. Todas estas mudanças de figura e de estatura afectam a aparência pessoal, o equilíbrio, a postura e a marcha e podem ser responsáveis por problemas respiratórios, mas também cardíacos e/ou digestivos.
QUADRO 1: Modificações fisiológicas do sistema músculo-esquelético
Fonte: BERGER (1995)
2.6 NÍVEIS DE PREVENÇÃO EM GERONTOLOGIA
A prevenção bem estruturada deve ser planeada com antecedência. Em gerontologia, a prevenção é individual e colectiva. No plano individual, toca o aspecto físico, psíquico e social da saúde do idoso, enquanto no plano colectivo permite determinar os serviços sociais e sanitários disponíveis para as pessoas deste grupo etário.
Para prevenir, é preciso começar por identificar uma situação e reconhecer os seus riscos e os perigos inerentes. À imagem do conceito de saúde, que evoluiu e se reveste agora de uma conotação diferente e mais positiva do que a "ausência de doença", o conceito de prevenção também evoluiu e já não se limita a designar o simples despiste das doenças. Para os beneficiários, profissionais e sociedade em geral, a prevenção engloba uma série de intervenções positivas numa perspectiva mais alargada.
. A responsabilidade da saúde pertence ao conjunto da sociedade.
A OMS define três níveis de prevenção, primária, secundária e terciária, e três etapas na doença, a deficiência, a incapacidade e o handicap (quadros 2, 3, 4).
Deficiência: Anomalia de um órgão ou de um sistema; ex.: artrose (BERGER, 1995).
Incapacidade: Limitação funcional ou restrição de actividades imposta pela deficiência; ex.: dificuldade em subir uma escada por causa da artrose (BERGER, 1995)
.
Handicap: Desvantagem que a deficiência e a incapacidade conferem ao indivíduo, em relação com as expectativas e exigências da sua rede social e tendo em conta os seus recursos. Por exemplo, um velho incapaz de subir uma escada porque sofre de artrose terá um handicap se morar num terceiro andar (BERGER, 1995).
| NÍVEL PRIMÁRIO | |
| Prevenção da doença, promoção e manutenção da saúde | |
| Objectivos: | ¶ Fazer desaparecer os factores de risco ¶ Tornar o organismo mais resistente ao ataque ¶ Levantar barreiras contra o invasor |
| Meios: | ¶ Educação ¶ Tratamento das deficiências ¶ Imunização ¶ Modificações dos hábitos de vida ¶ Ajuda concreta: regimes de pensão, cursos de preparação para a reforma, etc. |
| Locais: | ¶ Cuidados no domicílio ¶ Serviços não institucionais ¶ Grupos de idosos ¶ Clínicas de diagnóstico |
QUADRO 2 Nivel primário da prevenção em gerontologia
Fonte: BERGER (1995)
| NÍVEL SECUNDÁRIO | |
| Curar a doença, travar ou retardar a sua progressão | |
| Objectivos: | ¶ Descobrir precocemente o processo patológico ¶ Erradicar o mais possível as deficiências ¶ Controlar os handicaps e baixas de capacidade |
| Meios: | ¶ Despiste precoce ¶ Detecção das doenças específicas dos idosos ¶ Identificação dos factores de risco ¶ Avaliação psicossocial e familiar ¶ Ensino aos beneficiários: exames de saúde, analisas regulares, etc. |
| Locais: | ¶ Todos os níveis do sistema de saúde ¶ Profissionais especializados ¶ Grupos de idosos ¶ População em geral |
Quadro 3 Nível secundário da prevenção em gerontologia
Fonte: BERGER (1995)
| NÍVEL TERCIÁRIO | |
| Diminuir as consequências e as repercussões da doença | |
| Objectivos: | ¶ Instaurar medidas para retardar a progressão da doença ¶ Instituir medidas que permitam um funcionamento óptimo ¶ Prevenir e reduzir as sequelas |
| Meios: | ¶ Rede de cuidados gerontológicos integrado e adaptado ¶ Modificação da atitude dos intervenientes ¶ Revalorização do papel da família ¶ Actividades de readaptação: fisioterapia, ergoterapia, reabilitação, ortofonia, etc. |
| Locais: | ¶ No domicílio ¶ Instituições especializadas ¶ Serviços externos ¶ Serviços especializados ¶ Família e rede de suporte |
Quadro 4 Nível terciário da prevenção em gerontologia
Fonte: BERGER (1995)
2.7 A LONGEVIDADE AO ALCANCE DE TODOS
A qualidade de envelhecimento pode ser em parte influenciada por nós. O envelhecimento ocorre ao longo da vida. Os factores genéticos e hereditários, do meio ambiente, os hábitos de vida e os comportamentos influenciam-no. Com o passar do tempo ocorrem várias transformações que devem ser aceites com naturalidade mas que implicam a adaptação das pessoas a novas situações
Alguns agentes agressores podem influenciar o envelhecimento, como: o tabaco, o álcool a poluição, o excesso de exposição ao sol, o sedentarismo, a vida agitada, o peso a mais podem contribuir para o aparecimento da doença, para um envelhecimento cedo de mais e para o isolamento social.
- Uma alimentação equilibrada tem muita influência na manutenção da nossa saúde, energia e vitalidade e diminui os riscos de aterosclerose, doenças cardiovasculares e cancro. Faça uma alimentação rica em frutas, vegetais e cereais. Use as gorduras com moderação e na abuse dos doces nem do sal. Beba água e não esteja muitas horas sem comer.
- Proteja os seus ossos da osteoporose. Tenha uma alimentação rica em cálcio – o leite, o queijo e o peixe são bons exemplos. Faça passeios ao ar livre. Apanhe sol, mas proteja-se dos excessos.
- Previna os acidentes e quedas. Ande regularmente a pé e mantenha a actividade física. Utilize calçado que não escorregue e procure ter boa alimentação em casa.
- Construa todos os dias a sua autonomia. Continue a cuidar de si próprio (a) sozinho (a) enquanto puder. Cuidar de si ajuda as pessoas a manter-se mais saudável, equilibrada, autónoma e feliz. O treino é muito importante para manter todas as nossas funções. Faça planos para o dia-a-dia, organize as suas tarefas. Não se isole do contacto com os outros.
- Treine a sua memória. A atenção e a repetição são factores importantes para fixar. Contar as suas recordações, falar com outras pessoas, conviver e estar a par das notícias, são estímulos importantes para manter ou melhorar as suas capacidades. Não mude as coisas dos sítios habituais, é mais fácil encontra-las quando as procura.
- Envelhecer saudável – prevenção é a palavra de ordem. Faça controles médicos regulares, incluindo a observação dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus dentes e próteses dentárias. Controle regularmente a sua tensão arterial.
- Envelhecer no feminino e no masculino. As mulheres têm responsabilidade nos cuidados com a sua saúde em geral e em particular com o exame periódico das mamas e do útero. Os homens têm responsabilidade nos cuidados com a sua saúde em geral e em particular com o exame periódico da próstata.
- Mantenha a comunicação com o mudo que o rodeia. A actividade física e a intelectual reforçam a agilidade do espírito. Os órgãos dos sentidos são essenciais para comunicar. Melhorar a visão e a audição podem ajudá-lo a melhorar a sua qualidade de vida.
- É preciso contrariar o isolamento e a dependência. O isolamento é muitas vezes causa de sofrimento e depressão. Mantenha um bom relacionamento com os seus familiares e vizinhos. Informe-se sobre os serviços mais próximos (centro de saúde, posto de enfermagem, farmácia) e ajudas úteis (tapetes antiderrapantes, apoios para a banheira, ou para o chuveiro, ajudas telefónicas)
- Para quem presta cuidados a pessoas idosas. A formação e a informação das pessoas sobre a melhor forma de cuidar, ajuda quem cuida e quem é cuidado. Os familiares que cuidam dos seus idosos devem poder dispor de tempo para ter cuidados consigo próprios. Pense antecipadamente nalgumas situações que podem ocorrer e como seria possível organizar-se para as resolver.
Mas os benefícios biológicos não passam somente pelas dez regras acima citadas, passa também pelos exercícios ou actividades físicas. Vejamos como poderá o exercício físico auxiliar no envelhecimento do sistema músculo-esquelético.
· Aspectos Esqueléticos:
O processo de envelhecimento acarreta, entre outras consequências, a perda de densidade óssea, que pode levar à osteoporose, principal preocupação em relação aos aspectos esqueléticos no idoso.
Muitos autores afirmam que o stress mecânico aplicado aos ossos, a ingestão de cálcio durante a infância e as hormonas sexuais são os factores mais importantes para alcançar o pico de massa óssea.
A actividade física aumenta a massa e diminui a perda óssea, independentemente de idade, género ou nível de densidade óssea inicial. Esse facto é explicado pela hipertrofia a que o osso responde quando ultrapassa seu limiar de stress. O local onde foi aplicada a carga responde mecanicamente, enquanto o esqueleto tem uma resposta através do nível de cálcio.
O stress mecânico no osso gera potenciais eléctricos locais que afectam o equilíbrio da actividade osteoblástica e osteoclástica, aumentando a densidade óssea.
Certamente, a actividade física produz um aumento da densidade óssea, ou, ao menos, a mantém, mas qual a melhor estratégia de treino (intensidade, duração e frequência) para alcançar esse objectivo ainda é uma dúvida que muitos pesquisadores procuram esclarecer.
Há um duplo efeito da actividade física na diminuição dos riscos de fractura consequente à osteoporose: a redução da incidência e gravidade das quedas e o aumento da quantidade e qualidade ósseas.
Diversos estudos permitem afirmar que a intensidade deve estar acima de um limiar para que haja estimulação óssea, mas, ao mesmo tempo, uma intensidade elevada pode causar, entre outros riscos, hipertrofia óssea.
Actividades que implicam suportar o peso corporal e estão pouco acima das basais são consideradas dentro desse limiar, ou seja, se o indivíduo é sedentário, a caminhada pode lhe ser útil, mas, se já pratica caminhadas no seu dia-a-dia, então a corrida pode ser estimuladora. Mas, deve ser ressaltado que não é tão simples assim sugerir uma actividade física a um idoso; é importante que vários outros factores de risco para a saúde sejam observados.
Autores concordam quando estabelecem a infância e a adolescência como idades ideais para se começar a pensar na prevenção da osteoporose, pois é nessa fase que se atinge o pico de massa óssea. Além disso, estudos têm mostrado que a prática da actividade física deve ser constante e duradoura, o que justifica o facto de pessoas com uma história de actividades físicas habituais apresentarem maior densidade óssea do que sedentários.
· Aspectos Articulares e Musculares:
O idoso, para se manter funcionalmente independente, precisa, dentre outras capacidades, de força muscular, resistência muscular localizada e flexibilidade.
Forças estáticas e dinâmicas sofrem reduções durante o processo de envelhecimento. Mas esse quadro pode ser revertido através da prática regular de actividades de força, que podem, ainda, causar um aumento de 30 a 40% dessa força em indivíduos idosos.
Autores discutem, ainda, se esse ganho de força se dá devido ao ganho de massa muscular ou à melhora no recrutamento neural ou na habilidade dos movimentos. O que já não se discute é que há um aumento de força considerável, proporcionando melhor qualidade de vida aos indivíduos pertencentes à terceira idade.
Qualquer tipo de actividade física aumenta a massa muscular, mas são os exercícios resistidos que estimulam melhor esse ganho. A sobrecarga estimula o aumento de massa óssea e muscular, bem como do tecido conjuntivo elástico nos músculos, tendões, ligamentos e cápsula articular. Os exercícios de força trazem benefícios gerais para a saúde do idoso, ou seja, melhoram a mobilidade e impedem a atrofia muscular, revertem o quadro de hipertensão e alta frequência cardíaca durante a realização de actividades da vida diária, aumentam massa óssea e evitam doenças cardíacas. O exercício de força é o mais completo dentre todas as demais formas de treino físico, apesar de não melhorar a resistência aeróbia.
Problemas gerados pela instabilidade articular, como artrite e quedas, podem ser amenizados através do fortalecimento dos músculos responsáveis pela articulação em questão. Pode-se concluir, então, que o treino de força é seguro, desde que aplicado conforme as características, condições e necessidades do executante, e dá grandes resultados quando também implementado em populações idosas.
O envelhecimento traz consigo a deterioração da elasticidade e estabilidade dos músculos, tendões e ligamentos, e, ainda, a diminuição da massa muscular e redução da força, prejudicando a flexibilidade e danificando articulações.
A flexibilidade também é considerada um factor de segurança para prevenção de acidentes. A sua falta dificulta a realização de certas actividades ligadas à vida diária, como vestir uma meia, lavar as costas, entre outras. Isso causa desconforto e incapacidade no idoso.
Apesar de a flexibilidade ser bem menos estudada que a força muscular, ela pode ser melhorada quando treinada em programas específicos ou em outros tipos de programas.
3- POLIMIALGIA REUMÁTICA
A polimialgia reumática (PMR) foi descrita por GOMES e FERREIRA (1985) como “uma doença que ocorre principalmente em indivíduos idosos, a maioria dos casos situando-se entre os 60-75 anos de idade, com predomínio do sexo feminino”.
Na opinião de BRANCO (1989), a PMR é “uma doença geriátrica relativamente comum, caracterizada por dor bilateral e simétrica, acompanhada de rigidez, ao nível da musculatura proximal dos membros e do pescoço”.
Para SCHNEIDER (1995), a PMR “é uma doença dolorosa com grave comprometimento do estado geral e que aparece geralmente na idade mais avançada”.
Mais recentemente, FREITAS (2002) refere que a PMR é uma das principais manifestações de uma “artrite generalizada que compromete artérias de calibres médio e grande” e que é uma condição inflamatória que acomete “alvos celulares diferentes em indivíduos geneticamente predispostos”.
INÊS (2003) define PMR como “uma síndrome clínica bem conhecida pelas suas manifestações clássicas. Estas consistem em dor e rigidez, de predomínio matinal das cinturas escapular e pélvica, acompanhadas de manifestações constitucionais (astenia, anorexia, perda de peso, febre) e velocidade de sedimentação eritrocitária elevada.
3.1 EPIDEMIOLOGIA
FREITAS (2002) refere que a PMR ocorre “em ambos os sexos, com predomínio de mulheres (2:1). A incidência é crescente após os 50 anos de idade, e a idade média do diagnóstico é de aproximadamente 70 anos”. Este autor refere ainda que, apesar da sua distribuição ser universal e acometer todos os grupos étnicos, é mais frequente em brancos, ”sobretudo naqueles de ancestralidade norte-europeia”.
3.2 ETIOLOGIA
A causa da PMR é desconhecida, mas pode estar associada a uma artrite de células gigantes.
Na opinião de FREITAS (2002) pode “ocorrer uma predisposição genética e, uma vez que são condições ‘próprias’ da velhice, sugere-se a sua ligação com os processos do envelhecimento”. Este autor é da opinião que pode haver uma causa infecciosa, sobretudo pelos vírus da influenza, da hepatite B e pelo parvovírus B19 (agente do eritema infeccioso na infância). No entanto, questiona-se ainda se há associação entre infecção e PMR.
O mesmo autor refere ainda que a PMR pode resultar de uma “reacção imune ‘suave’ mas disseminada”.
3.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA
De acordo com SCHNEIDER (1995), os doentes “adoecem crónica ou agudamente com grave comprometimento do estado geral”.
Para FREITAS (2002) “são achados frequentes uma febre baixa (alguns a têm alta, acompanhada por sudorese nocturna), mal-estar geral, fadiga, anorexia, perda de peso e depressão”.
A PMR caracteriza-se por uma rápida instalação de dores musculares generalizadas, mais acentuadas na musculatura proximal – pescoço, ombros, quadris (Figura 1) – que são acompanhadas por rigidez. Inicialmente, a dor e a rigidez podem ser tão severas que incapacitam quase totalmente o doente. A rigidez é de carácter matinal e recorre quando em períodos de repouso e de imobilidade. A fraqueza muscular pode estar presente, mas não é significativa. Aquando da palpação da musculatura afectada há evidência de dor moderada. Também podem ocorrer sinovites transitórias em 2/3 dos doentes.
|
3.4 EXAMES LABORATORIAIS
Os achados laboratoriais mais frequentes na fase aguda são:
- velocidade de hemossedimentação (VHS), que habitualmente se situa acima dos 70 mm (são comuns valores acima dos 100 mm e valoriza-se, para, diagnóstico, valores acima de 40-50 mm) no método de Westergreen (1ª hora);
- níveis muito elevados da proteína C reativa (PCR);
- anemia normocrômica ou hipocrômica consistente com uma situação de doença inflamatória crónica;
- testes negativos para o factor reumatóide (FREITAS, 2002).
3.5 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico é muitas vezes difícil de confirmar dada a grande frequência de apresentações atípicas e a extensão do diagnóstico diferencial a considerar (INÊS, 2003).
Segundo FREITAS (2002) os critérios de diagnóstico são baseados em aspectos clínico-laboratoriais que possibilitam o seu diagnóstico de exclusão.
Este autor refere como critérios de diagnóstico os seguintes:
- Início da doença aos 50 anos ou mais;
- Dor importante (ou rigidez) em, pelo menos, duas das seguintes regiões: pescoço, cintura escapular e cintura pélvica;
- VHS superior a 40 mm (1ª hora);
- Sintomatologia superior a 4 semanas
- Rápida resposta clínica à corticoterapia em baixa dose (10 mg prednisona; 72-96 horas).
3.6 TRATAMENTO
O tratamento recomendável da PMR consiste na administração de corticosteróides em baixas dosagens (SCHNEIDER, 1995).
FREITAS (2002) refere que “a resposta é rápida, ocorrendo alívio da sintomatologia em 48-72 horas”.
Segundo este autor, inicialmente (2 a 4 semanas) há quem proponha o uso de um anti-inflamatório não-hormonal. Se não houver uma resposta adequada, passa-se à corticoterapia:
- toma única matinal de 5 a 20 mg de prednisona/dia;
- a resposta clínica e a normalização da VHS orientam para a redução gradual das doses (2,5 a 5mg/cada 2-4 semanas) até atingir a dose de “manutenção” (quase sempre entre 5-7,5 mg/dia) que deverá ser mantida por 18-24 meses, pois aquando da suspensão precoce há o risco de recidivas.
Uma forma alternativa ao regime clássico anterior é a prescrição de prednisona 15 mg/dia (3dias), 10 mg/dia (7dias) e 5 mg/dia (1 ano) e, a partir daí, retirar 1 mg/dia/mês até a suspensão.
A prescrição adicional de fisioterapia contribui para melhorar a mobilidade dos ombros, prevenindo assim a rigidez residual não-inflamatória associada ao quadro.
3.7 PROGNÓSTICO
De acordo com FREITAS (2002) a PMR tem “um curso autolimitado de vários meses até 5 anos”.
Na opinião deste autor, o uso da prednisona permite que a evolução média seja de mais ou menos 2 anos, podendo prolongar-se até aos 10 anos. Em 20% dos casos podem observar-se recorrências.
3.8 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Tendo por base ROGERS-SEIDL (1995) pode-se sistematizar as intervenções de enfermagem a prestar a um doente com PMR.
Ä Mal-estar geral relacionado com febre baixa, perda de peso, fadiga e depressão.
w Administrar antipiréticos segundo prescrição.
w Promover uma dieta rica em proteínas e suplementos vitamínicos.
w Estimular a ingestão hídrica de acordo com a tolerância cardiovascular do doente.
w Proporcionar períodos de repouso adequados.
w Proporcionar apoio emocional e psicológico.
w Mostrar compreensão e disponibilidade.
w Esclarecer as dúvidas do doente.
w Estabelecer intercâmbio equipa/doente/família.
w Proporcionar à família a oportunidade de partilhar preocupações e compreender as limitações da actividade.
Ä Alimentação inadequada: relacionada com dores musculares generalizadas e fadiga
w Estabelecer um padrão do aparecimento da dor a fim de aproveitar os momentos de alívio para lhe oferecer alimentos.
w Durante as refeições colocar o utente numa posição confortável.
w Situar as intervenções num clima de intervenção empático.
w Levar o utente a expressar-se sobre a experiência dolorosa que está a viver.
w Explicar ao utente a importância de ingerir um mínimo de alimentos e de líquidos, a fim de conservar as forças e o equilíbrio hídrico.
w Identificar as capacidades e as limitações físicas para beber e comer.
w Prever um período de repouso antes das refeições.
w Assegurar-se de que as capacidades e as limitações são respeitadas durante as refeições e durante as actividades.
w Oferecer alimentos fáceis de mastigar, se necessário.
w Oferecer, no início das refeições, os alimentos mais nutritivos.
w Explicar ao utente a necessidade de comer em quantidade e qualidade suficientes para aumentar as forças.
Ä Dificuldade/incapacidade para se movimentar relacionado com dor e rigidez musculares generalizadas e fadiga
w Permitir ao utente que exprima os seus sentimentos dolorosos, se necessário.
w Avaliar as características da dor: localização, intensidade, duração, frequência, factores que a aumentam/diminuem.
w Auxiliar o doente a adoptar a posição mais confortável.
w Ajudar a realizar, segundo o nível de tolerância, os exercícios activos ou passivos do movimento articular dos membros e os que efectua na cama se se encontrar acamado.
w Promover mudanças de decúbito e posicionamentos adequados se estiver acamado.
w Massajar as zonas de maior pressão com substância oleosa.
w Ajudar o doente a realizar as actividades de auto-cuidado segundo a tolerância; ajudar a realizar as AVD segundo a necessidade.
w Explorar com o utente actividades de distracção: música, trabalhos manuais, leitura.
w Fazer o utente praticar uma técnica de relaxamento, se necessário.
w Identificar as capacidades e as limitações físicas.
w Planear os períodos de repouso, se necessário.
w Assegurar-se de que as capacidades e as limitações são respeitadas durante as actividades.
w Avaliar as capacidades motoras do utente para se vestir.
w Providenciar vestuário fácil de vestir e de apertar: roupa aberta atrás, soutien a apertar à frente, etc.
w Colocar o vestuário junto do utente pela ordem de utilização.
w Dar tempo suficiente ao utente para se vestir e despir.
w Providenciar fisioterapia adicional segundo prescrição.
4- OSTEOMALÁCIA
Para SCHNEIDER (1995) a “osteomalácia é anatomopatologicamente definida como mineralização deficiente ou não-mineralização do osteóide da matriz óssea, fisiologicamente neoformado”, devido à deficiência de vitamina D.
Segundo o DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001) “osteomalácia, que significa literalmente o amolecimento do osso, é uma desmineralização ou descalcificação do osso, menos frequente que a osteoporose” em que “…as trabéculas ósseas têm dimensões normais, mas encontram-se incompletamente mineralizadas”.
A principal fonte de vitamina D advém da produção da pele após exposição à irradiação ultravioleta (função endócrina da pele). A dieta alimentar também fornece vitamina D mas em menor quantidade. Na sua forma activa, a vitamina D estimula a absorção intestinal de cálcio e fósforo, promovendo a mineralização óssea e agindo na função muscular (figura 2).
ETIOLOGIA
A osteomalácia (ou raquitismo em criança) pode resultar de uma carência de aporte ou de absorção: regime pobre em cálcio e fósforo (substâncias contidas em produtos lácteos e gorduras) e aporte ou formação de vitamina D insuficientes, principalmente pela falta de exposição à luz solar ou pelo aumento da pigmentação da pele. As pessoas de raça negra apresentam maior risco de contrair osteomalácia porque a melanina absorve os raios ultravioletas, diminuindo a fotoconversão da vitamina D, embora estas tenham uma maior densidade óssea inicial, característica étnica, que protege contra fracturas ósseas na velhice.
Na origem da osteomalácia estão também presentes as perturbações digestivas (gástricas, intestinais, pancreáticas) e certos medicamentos, nomeadamente os anticonvulsivantes, que inibem a acção ou a formação da vitamina D, diminuindo assim a absorção do cálcio no intestino.
A insuficiência renal também pode participar na génese da osteomalácia de aporte, visto que dificulta a absorção intestinal do cálcio e do fósforo; este mecanismo é muito mais raro que os precedentes e é devido geralmente a um compromisso do túbulo renal por afecções adquiridas ou congénitas. Os doentes submetidos a hemodiálise crónica também podem sofrer de osteomalácia devido à composição do líquido da diálise e ao uso de antiácidos contendo alumínio para tamponar o fosfato, complicação que vem diminuindo ao longo do tempo.
A nutrição parenteral, contendo no seu hidrolisado altos níveis de alumínio, também pode provocar osteomalácia.
A osteomalácia desenvolve-se ainda por outras razões nas quais se inclui: toxicidade pelo fluoreto, envenenamento pelo cádmio e doenças malignas vasculares raras.
4.1 SINTOMATOLOGIA
As dores começam habitualmente nos ossos da cintura pélvica. Agravando-se com a posição de pé e com a marcha e acalmam-se com a posição de deitado. São muito intensas, responsáveis por uma impotência na marcha que é lenta, por vezes bamboleante. Tardiamente, as dores atingem o tórax, o ráquis e por vezes a cintura escapular. Num estádio mais avançado, o doente fica confinado ao leito.
Podem surgir fracturas, provocadas por um traumatismo mínimo.
Enfim, por oposição à osteoporose, o estado geral do doente é com frequência deficiente: o emagrecimento é habitual, a astenia é constante e a palidez frequente.
|
Devem ter-se em atenção os seguintes sinais:
4.2 SINAIS RADIOLÓGICOS
São características na maioria dos casos:
¶ Aumento da transparência óssea; os ossos têm um aspecto desfocado, desbotado; porém os contornos ósseos são menos nítidos do que na osteoporose.
¶ Fissuras ou estrias ósseas de Looser-Milkman, que são frequentes e características da osteomalácia, observam-se sobretudo nos ossos da bacia, mas também nos ossos da cintura escapular. São estrias ou bandas claras com alguns milímetros da largura, que atravessam o osso na sua totalidade ou em parte.
¶ As deformações do esqueleto, embora tardias, não são excepcionais: deformações do tórax “em sino”, da bacia em “corações de carta de jogar”, encurvamento dos fémures.
4.3 EXAMES LABORATORIAIS
Ao realizar os exames laboratoriais podemos encontrar:
Ø Calcemia habitualmente diminuída de modo moderado;
Ø Fosforemia quase sempre diminuída;
Ø Fosfatases alcalinas sanguíneas discretamente elevadas;
Ø Taxa de vitamina D bastante diminuída;
Ø Calciúria das vinte e quatro horas quase constantemente diminuída;
Ø A biopsia óssea, que não é indispensável, permite confirmar histológicamente a osteomalácia ao revelar que as trabéculas ósseas têm largos bordos constituídos por tecido osteóide em excesso.
4.4 TRATAMENTO
A vitamina D constitui a essência do tratamento. É administrada geralmente por via oral, diariamente em doses fracas, ou em doses mais fortes e de modo intervalado; por vezes utiliza-se a via intramuscular.
O tratamento com a vitamina D impõe a vigilância regular da fosforemia e da calciúria, cuja normalização precede sempre a da calcemia. Os sais de cálcio (e eventualmente os de fósforo) bem como uma dieta rica em queijo e leite completam a acção da vitamina D sobre o tecido osteomalácico.
4.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
Um consumo adequado de produtos lácteos ricos em vitamina D, assim como a exposição do corpo à luz solar, podem prevenir a osteomalácia causada por deficiência de vitamina D nos adultos.
4.6 INTERVENÇOES D ENFERMAGEM
ü Alimentação inadequada: défice relacionado com falta de conhecimentos sobre os alimentos ricos em gorduras, vitaminas, cálcio, sódio, …
· Informar o utente sobre alimentos ricos em gordura: manteiga, ovos, leite gordo, natas, queijos gordos;
· Informar o utente sobre os alimentos ricos em vitaminas: frutos citrinos, tomates, …;
· Informar o utente sobre alimentos ricos em sódio: ketchup, carne fumada, sardinhas, presunto;
· Informar utentes ricos em cálcio: leite, iogurtes, gelados, brócolos, melaço.
ü Exposição solar insuficiente
· Informar o utente sobre os benefícios da exposição solar diária;
· Explicar que aquando da exposição solar a sintetize de vitamina D é responsável por muitos mecanismos de absorção;
· Evitar exposições que coincidam com os períodos de maior incidência solar.
5- OSTEOPOROSE
 |
Osteoporose significa “ossos porosos” (fig. 3) e é um problema em que os ossos vão perdendo progressivamente a sua densidade, tornando-se mais finos, frágeis e quebradiços. Embora os ossos não encolham, tornam-se porosos e menos densos e, assim sendo, mais propensos à fractura.
É a mais frequente das descalcificações difusas do esqueleto, sendo a doença óssea de maior prevalência na população geriátrica.
FIGURA 3 Osso poroso
Considerada um problema de saúde pública, não só a incidência aumenta com a idade, como também a sua gravidade e, consequentemente as complicações. Geralmente, a osteoporose só provoca sintomas quando os ossos ficam quebradiços e fracos, fracturando ao mínimo traumatismo, muitas vezes comprometendo a capacidade funcional da pessoa idosa. Basta pouca pressão para fracturar os ossos, e só há sinal de alerta de osteoporose quando ocorre uma fractura, embora a diminuição de altura, lombalgias, postura inclinada e o aparecimento de corcunda sejam tudo indicações.
O aumento da mortalidade e morbilidade pela osteoporose e a subsequente fractura está associado a custos económicos significativos relacionados com a hospitalização, cuidados ambulatórios, institucionalização, incapacidades e mortes prematuras.
Os desafios para os profissionais de saúde estão na identificação dos factores de risco, na educação dos doentes e na intervenção preventiva ao longo de toda a vida, tanto em homens quanto em mulheres.
5.1 DEFINIÇÃO
Para FREITAS (2002), a osteoporose é definida como um distúrbio osteometabólico, de origem multifactorial, caracterizado pela diminuição da densidade mineral óssea, e deterioração da sua microarquitectura. Á modificação do osso associam-se aumento da fragilidade e maior risco de fractura após um mínimo trauma.
É comum conceituar osteoporose como sendo sempre o resultado de perda óssea. Entretanto, uma pessoa que não alcançou o seu pico máximo durante a infância e a adolescência pode desenvolver osteoporose sem ocorrência da perda óssea acelerada.
5.2 ETIOLOGIA
A ENCICLOPÉDIA DAS MEDICINAS COMPLEMENTARES (1996) refere que “As causas mais frequentes que determinam o aparecimento de osteoporose são o envelhecimento e a imobilização prolongada.”
A sua origem também pode ser, em certos casos, genética ou então dever-se a deficiências nutricionais graves, a uma redução da quantidade de hormonas sexuais, a doenças endócrinas produzidas pelo excesso de actividade das glândulas supra-renais (Síndrome de Cushing), da glândula tiroideia (hipertiroidismo) ou das glândulas paratiróides (hiperparatiroidismo).
Relativamente ás hormonas sexuais, segundo SCHNEIDER (1995), na osteoporose da pós-menopausa da mulher, a deficiência estrogénica desempenha um papel importante; no homem e na osteoporose senil, além da redução de androgéneos anabólicos, discutem-se também situações carenciais, principalmente de cálcio e fósforo, distúrbios da irrigação óssea e redução da actividade física e esforço ósseo como causas adjuvantes.
FIGURA 4- Incidência da Osteoporose ao longo da vida
5.3 FISIOPATOLOGIA
A osteoporose caracteriza-se por uma rotura do equilíbrio dinâmico fisiológico entre a reabsorção e a formação óssea, devido a uma insuficiência de edificação da “trama” orgânica ou a um excesso de reabsorção.
A fragilidade óssea daí resultante expõe a um risco importante de fracturas (achatamentos vertebrais, fracturas do punho e do colo do fémur).
5.4 OSTEOPOROSE E OSTEOPENIA FISIOLÓGICA
Segundo O DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM, 2001, há vários quadros de osteoporose que se opõem, sendo útil fazer uma distinção entre a osteoporose “doença” e a osteoporose “comum”. Esta última encontra-se muito próxima da osteopenia fisiológica da senescência.
A osteopenia fisiológica exprime o envelhecimento normal do esqueleto e observa-se em todos os indivíduos.
 |
A osteoporose, dita comum, é muito frequente, define-se anatomicamente por uma diminuição um pouco mais acentuada da massa óssea. Não seria mais do que o agravamento patológico da osteopenia fisiológica.
No indivíduo normal, o capital ósseo vai-se formando até à idade de 30 anos, começando depois uma diminuição progressiva (fig. 5). Esta perda acentua-se na mulher após a menopausa, devido ao défice fisiológico de estrogénios.
|
O DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM, 2001, refere que, “...a mulher perde até 40% da sua massa óssea entre os 20 e os 80 anos.” No entanto, esta perda óssea é, com frequência, clinicamente latente.
A osteoporose “doença” distingue-se anatomicamente como uma diminuição franca, mais acentuada, da massa óssea, por uma hipertransparência do esqueleto nas radiografias, por uma diminuição acentuada da massa óssea (na densitometria óssea o limiar das fracturas é frequentemente atingido) e sobretudo pelo aparecimento de complicações.
5.5 EPIDEMIOLOGIA
A prevalência varia segundo a influência de vários factores sobre a massa óssea e a facilidade de realizar o diagnóstico.
Por ser uma doença assintomática, o seu registo faz-se, muitas vezes, secundariamente, através das suas complicações, que são as fracturas.
De acordo com WYLIE (1977) cit. in NETTO (2000), nos idosos, uma em cada três mulheres e um em cada seis homens sofrerão fracturas do quadril, sendo responsáveis por 15% dos óbitos. As fracturas de quadril e colo do fémur, quando associadas à osteoporose, estão entre as maiores causas de imobilização, incapacidade e gastos de saúde com os idosos.
Segundo a ENCICLOPÈDIA DAS MEDICINAS COMPLEMENTARES (1996), por volta dos 75 anos, cerca de metade das mulheres já experimentaram pelo menos uma fractura óssea que pode atribuir-se à osteoporose.
Para FREITAS (2002), estima-se que 54% das mulheres brancas americanas tenham osteopenia e 30% osteoporose. Cerca de duas em cada cinco mulheres e um em cada oito homens sofrerão uma fractura osteoporótica até ao final das suas vidas.
O mesmo autor refere ainda que, as fracturas do punho ocorrem mais frequentemente por volta da quinta década de vida; as vertebrais aumentam depois dos sessenta anos, enquanto as fracturas de fémur têm a sua maior incidência a partir da sétima década. Para as mulheres brancas que não recebem intervenção contra a perda óssea, as fracturas são observadas em 50% delas; 17% sofreram fractura do fémur e 30 a 40% de vértebras. Segundo as estimativas, uma em cada seis mulheres brancas terá fractura do fémur, enquanto a proporção para os homens é de um para doze.
A taxa de mortalidade para as mulheres com fractura do fémur é quase 20% nos três meses após o acidente; essa taxa dobra para os homens. Aproximadamente 50% dos sobreviventes ficam dependentes para a realização das suas actividades da vida diária.
5.6 CLASSIFICAÇÃO DA OSTEOPOROSE
Para SCHNEIDER (1995) surgem duas formas de osteoporose, a osteoporose pós-menopausa e a osteoporose senil.
A principal diferença, entre estas duas formas, reside no facto de que enquanto na osteoporose pós-menopausa as evoluções dolorosas agudas ou crónicas são a regra e os diagnósticos radiológicos ocasionais são mais raros, na osteoporose senil ocorre o inverso: as dores são mais raras, as demais consequências clínicas da osteoporose senil, como a redução do tamanho, cifose torácica lentamente progressiva, cifoescoliose em forma de S, lordose da coluna lombar, têm menor importância patológica para os doentes e médicos.
Segundo FREITAS (2002), a osteoporose pode ser classificada como primária, subdividida em tipos I e II, ou secundária (Quadro 6).
| Primária tipo 1 · Predominantemente em mulheres, associada à menopausa · Perda acelerada do osso trabecular · Comuns fracturas vertebrais Primária tipo II · Ocorre tanto em mulheres quanto em homens idosos · Compromete ossos cortical e trabecular · Ocorrência de fracturas vertebrais e do fémur | Secundária * Endocrinopatias * Drogas * Doenças genéticas * Artrite reumatóide * Doenças gastrointestinais * Transplante de órgãos * Imobilização prolongada * Mieloma múltiplo * Cancro da mama * Anemias crónicas * Tratamento prolongado com heparina |
QUADRO 6 - Classificação da Osteoporose
Fonte: FREITAS (2002)
5.7 SINAIS E SINTOMAS
Geralmente a osteoporose é assintomática.
Pode haver casos em que a doença passe praticamente despercebida, mas em geral manifesta-se por dores ósseas, principalmente na zona baixa das costas.
 |
Os doentes tomam conhecimento da doença quando ocorre uma fractura ou o médico observa redução da densidade óssea em exame radiológico ou quando é realizada a densitometria óssea. Quando o processo está mais avançado produzem-se com relativa frequência roturas espontâneas do punho, vértebras, pélvis ou do colo do fémur (figura 6).
FIGURA 6- Fractura do colo do fémur.
5.8 DIAGNÓSTICO
Seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde (OMS, 1994), o diagnóstico da osteoporose é feito através da densitometria óssea. Este é um teste simples e não-invasivo da medida da densidade óssea. Os locais do esqueleto mais importantes são o colo do fémur, a coluna vertebral baixa (região lombar) e os ossos do punho. Exactamente porque nesses locais ocorrem as fracturas.
A densidade óssea obtida é então comparada com valores encontrados em pessoas jovens normais, para verificar se esse valor está abaixo do normal. Quanto mais baixa a densidade óssea maior será o risco de fractura decorrente da osteoporose.
A densidade óssea obtida é então comparada com valores encontrados em pessoas jovens normais, para verificar se esse valor está abaixo do normal. Quanto mais baixa a densidade óssea maior será o risco de fractura decorrente da osteoporose.
O seu médico pode recomendar, como medida preventiva e/ou diagnóstica o estudo da densidade óssea através da densitometria se:
· for mulher e estiver próxima a menopausa
· apresentar mais de 1 factor de risco
· estiver a decidir se vai “tomar” estrogéneos após a menopausa
· estiver a tomar corticosteróides (ex.: prednisolona), para doenças como asma, artrite, lupus
· tiver hiperparatiroidismo primário
· tiver tido uma fractura recentemente em que se suspeita de osteoporose
· estiver a avaliar a eficácia do tratamento para a osteoporose
Pode-se fazer um screening populacional da osteoporose através do ultrassom do calcanhar. Este é um bom método para identificar (filtrar) doentes com osteoporose numa grande população. Esses indivíduos identificados como portadores de osteoporose pelo ultrassom devem ser obrigatoriamente examinados através da densitometria óssea da coluna, fémur e punho, para o diagnóstico seguro da osteoporose e estimativa do risco de fractura nesses locais. Lembre-se que estes são os locais de fractura mais frequentes.
Exames laboratoriais
Os exames laborais são completamente normais. A sua solicitação visa estabelecer a presença de factores secundários determinantes da perda de massa óssea, mesmo na ausência de sinais e sintomas clínicos.
Devem ser solicitados a todos os doentes que apresentem osteoporose.
Os exames a ser pedidos, segundo FREITAS 2002, são:
· Hemograma,
· VHS,
· Cálcio sérico,
· Fósforo sérico,
· Proteína total,
· Albumina,
· Enzimas hepáticas,
· Creatinina,
· Electrólitos,
· Glicémia de jejum,
· Dosagem de cálcio na urina de 24h.
Biomarcadores ósseos
As fases de remodelação óssea são caracterizadas por ciclos de formação e reabsorção óssea simultâneas. A separação entre essas duas fases leva à osteoporose.
Os biomarcadores ósseos são produtos da degradação do osso, libertados para a circulação ou urina, derivados da actividade osteoblástica e/ou osteoclástica, durante as fases de formação e reabsorção óssea.
Os biomarcadores são de grande interesse na pesquisa e parecem correlacionar-se bem com as fases do metabolismo ósseos.
Podem ser úteis nas seguintes situações:
· Determinação do risco de fractura em indivíduos idosos;
· Determinação da resposta terapêutica a alguns agentes anti-reabsortivos;
· Identificação dos indivíduos com alta predisposição para perda óssea rápida.
Está provado cientificamente que altos níveis de biomarcadores de reabsorção estão associados a um maior risco de fractura da bacia.
Radiografias convencionais
A sensibilidade e a precisão das radiografias simples para determinar a densidade de massa óssea são fracas, e, na ausência de fractura vertebral, essa técnica não poderá ser utilizada como meio para diagnosticar a osteoporose.
As radiografias só mostrarão as alterações decorrentes da osteoporose quando a perda de massa óssea atingir aproximadamente 30%. O diagnóstico então obtido é tardio, tornando-se inviável a prevenção das fracturas.
As radiografias devem ser solicitadas como mais um exame complementar visando estabelecer a presença de fracturas vertebrais (indetectáveis clinicamente em cerca de 50% dos casos). Também estão indicadas nos indivíduos que perderam altura de maneira significativa e injustificada (radiografias de coluna torácica e lombar), para confirmar a presença de fracturas em outros sítios.
Morfometria digital por absorciometria
Biópsia óssea
A indicação principal é a realização diferencial das doenças ósseometabólicas.
5.9 FACTORES DE RISCO
| Factores maiores | Factores menores |
| · Sexo feminino · Baixa massa óssea · Fractura prévia · Raça asiática ou caucásica · Idade avançada em ambos os sexos · História materna de fractura do fémur e/ou osteoporose · Menopausa precoce não tratada (antes dos 40 anos) · Tratamento com corticóides | · Amenorreia primária ou secundária · Hipogonadismo primário ou secundário em homens · Perda de peso após os 25 anos ou baixo índice de massa corpórea (IMC<19) · Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo · Tratamento com outras drogas que induzem perda de massa óssea (heparina, varfarina, fenobarbital,..., lítio e metotrexano) · Imobilização prolongada · Passado de dieta pobre em cálcio · Doenças que induzem à perda de massa óssea |
QUADRO 7- Factores de risco para Osteoporose.
Fonte: FREITAS (2002)
Certas pessoas têm maior tendência a desenvolver a doença do que outras. Factores que aumentam estas probabilidades de desenvolver osteoporose são chamados “factores de risco”. Os seguintes factores de risco foram identificados:
• História pessoal de fractura após os 50 anos
• Actual massa óssea baixa
• História de fractura em parente de primeiro grau
• Ser mulher
• Ser magro ou ter uma silhueta pequena
• Idade avançada
• Histórico familiar de osteoporose
• Deficiência de estrogéneo como resultado da menopausa, especialmente se induzida cirurgicamente
• Ausência anormal de períodos menstruais (amenorreia)
• Anorexia nervosa
• Baixa ingestão de cálcio durante a vida
• Uso de certos medicamentos, como corticosteróides e anticonvulsivantes
• Baixo nível de testosterona em homens
• Estilo de vida sedentário
• Hábito de fumar
• Ingestão excessiva de álcool
• Ser caucasiano ou asiático, ainda que pessoas negras e hispânicas também apresentem riscos significantes
• Actual massa óssea baixa
• História de fractura em parente de primeiro grau
• Ser mulher
• Ser magro ou ter uma silhueta pequena
• Idade avançada
• Histórico familiar de osteoporose
• Deficiência de estrogéneo como resultado da menopausa, especialmente se induzida cirurgicamente
• Ausência anormal de períodos menstruais (amenorreia)
• Anorexia nervosa
• Baixa ingestão de cálcio durante a vida
• Uso de certos medicamentos, como corticosteróides e anticonvulsivantes
• Baixo nível de testosterona em homens
• Estilo de vida sedentário
• Hábito de fumar
• Ingestão excessiva de álcool
• Ser caucasiano ou asiático, ainda que pessoas negras e hispânicas também apresentem riscos significantes
As mulheres podem perder até 20% de sua massa óssea entre os 5 e 7 anos após a menopausa, tornando-as mais susceptíveis à osteoporose.
5.10 PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE
É a forma mais importante de evitar osteoporose.
Podem tomar-se muitas medidas preventivas para evitar a osteoporose. Quanto mais cedo forem aplicadas, mais provavelmente diminuem ou se minimizam os efeitos da osteoporose.
A prevenção inicia-se numa idade jovem, através de aportes de proteínas, cálcio e vitamina D regulares e suficientes, passando por uma actividades física “em carga”.
No momento da menopausa, a prevenção é feita nas mulheres “de risco” (são consideradas as mulheres com menopausa precoce, natural ou cirúrgica, as magras, com hábitos tabágicos e com antecedentes familiares de osteoporose), para tentar atrasar o aparecimento da osteoporose e impedir o aparecimento de achatamentos vertebrais ou de fracturas. Parece que esta finalidade pode ser atingida através da prescrição prolongada de um tratamento hormonal de substituição, sob vigilância ginecológica. Segundo o DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001), quando este tratamento é contra-indicado, como é o caso de mulheres com antecedentes directos ou familiares de cancro do útero ou da mama, pode encarar-se o tratamento com um “modulador selectivo da activação dos receptores dos estrogénios”. Em casos de utentes sujeitas a uma corticoterapia de longo prazo, em dose tão fraca quanto possível, a prevenção pode passar por um tratamento adaptado (cálcio e certos difosfonatos).
De acordo com o GUIA MÈDICO DE CONSELHOS PRÁTICOS (1984), algumas medidas podem ser tomadas:
* exercícios de suporte de peso, como caminhar, treino de musculação e corrida. Isso estimula o crescimento ósseo e fortalece os músculos circundantes, o que ajuda a suportar parte do esforço;
* os idosos podem executar exercícios mais suaves, como nadar e ioga;
* ingerir suplementos de vitamina D e cálcio;
* deixar de fumar e limitar a ingestão de álcool;
* uma dieta rica em cálcio, que ajuda a prevenir ou a minimizar o desenvolvimento da osteoporose. O cálcio encontra-se em produtos lácteos. Queijos magros, iogurtes e leite desnatado fornecem cálcio sem excesso de gordura.
5.11 PREVENÇÃO DE QUEDAS
· prender tapetes soltos e fios eléctricos;
· instalar corrimões de segurança nas casas de banho;
· assegurar boa iluminação e a presença de luzes de emergência;
· usar sapatos com saltos baixos e solas de borracha;
· evitar pisos escorregadios;
· instalar corrimões nas escadas;
· utilizar uma bengala ou andarilho se necessário/recomendado;
· evitar objectos soltos no meio da sala e nas passagens.
(www.uddo.com/osteoporose/)
Outras medidas incluem:
* evitar os hipnóticos e as benzodiazepinas de efeito prolongado;
* melhorar as perturbações da visão e do equilíbrio;
* melhorar a força muscular dos membros inferiores e da marcha;
* modificar o meio ambiente: evitar os tapetes que escorregam, os móveis mal colocados, etc..
(DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM, 2001)
5.12 TRATAMENTO
Em geral não se conseguem tratamentos muito satisfatórios.
A terapêutica baseia-se na administração de medicamentos que evitem a progressão da doença e contribuam em alguma medida para a recuperação da substância óssea perdida.
A terapia de substituição hormonal previne mais perda de osso provocada pela falta de estrogénios no corpo, pelo que muitos ficam protegidos contra a osteoporose como efeito secundário da aplicação da terapia de substituição hormonal.
As fracturas que se produzem como complicação da osteoporose precisam de tratamentos ortopédicos e da aplicação de técnicas de reabilitação.
Segundo SCHNEIDER (1995), caso um doente com osteoporose se encontre acamado devido ás dores, visando a rápida mobilização são vantajosas terapias físicas na forma de ginástica, mas sem exercícios contra resistência ou massagens vigorosas. Para atingir a rápida mobilização devemos empregar, se necessário, antiálgicos, analgésicos, anti-reumáticos e relaxantes musculares.
Se possível, recomenda-se exercício e, de acordo com NETTO (2000), é importante ressaltar que o tratamento fisioterápico é feito basicamente através de exercícios e de medidas úteis para aliviar os sintomas e prevenir deformidades articulares, apesar da natureza crónica dessas doenças.
Segundo o mesmo autor, os exercícios terapêuticos constituem um item importante na prevenção das deformidades articulares, visando essencialmente dois objectivos: a manutenção do tónus muscular e a preservação da amplitude do movimento articular. Os exercícios devem ser em número pequeno de repetições, fáceis de lembrar e simples de fazer. A escolha do tipo de exercício vai depender do grau de acometimento da doença. A aderência ao tratamento melhora se estes forem feitos perto da hora de deitar ou levantar.
O repouso deve ser sempre orientado nos períodos de exacerbação intensa da doença, o que não significa a não-realização de movimentos, e sim evitar a sobrecarga e os movimentos em excesso das articulações.
· Tratamento não farmacológico
O objectivo final do tratamento medicamentoso na Osteoporose é a diminuição do risco de fractura e aumento da massa óssea.
O adequado aporte de cálcio e vitamina D é fundamental no controle da osteoporose. A suplementação faz parte de praticamente todos os esquemas terapêuticos, sendo muitas vezes necessária, já que o aporte dietético geralmente é pequeno no nosso meio.
O carbonato é o que oferece maior percentual de cálcio elementar. Para minimizar efeitos colaterais gastrointestinais e aumentar a sua absorção, preconiza-se o uso após as refeições.
O citrato de cálcio é a segunda opção para os que apresentam obstipação com o carbonato ou que tenham história de litíase renal, além de ser menos dependente do ácido gástrico.
Segundo FREITAS (2002), as fontes alimentares de vitamina D são escassas, e os alimentos que a contêm não fazem parte das ementas mais frequentes. A vitamina D, responsável pela absorção do cálcio e seu transporte até aos ossos, encontra-se diminuída no idoso, devido à menor capacidade de transformar a vitamina D na sua forma activa. Simultaneamente, ocorre a deficiência na absorção intestinal. Assim sendo, os idosos necessitam de se expor o dobro do tempo, ao sol, para sintetizar a mesma quantidade de vitamina D que os jovens.
Existem no mercado preparados de vitamina D, activa, calcitriol e alfacalcidol, que devem ser administrados inicialmente em doses baixas, com controlo da calcémia, até que a dose ideal seja alcançada com segurança. Doses mais elevadas podem causar hipercalcémia em idosos.
5.13 INTERVENÇÔES DE ENFERMAGEM
Ä Nutrição alterada: menor que as necessidades corporais de cálcio e vitamina D, relacionada com a falta de conhecimentos
Valorizar os possíveis obstáculos que existam para o cumprimento dos valores dietéticos recomendados, os valores éticos ou culturais que afectam a ingestão de alimentos e os padrões actuais de alimentação.
È essencial ensinar:
· os quatro grupos de alimentos ricos em cálcio e vitamina D;
· o aumento da ingestão de cálcio, que deve ser superior a 1.500mg diários; se se prescreve um suplemento, é necessário beber uma garrafa de água para ajudar a iniciar a absorção;
· assegurar a ingestão de ferro, zinco, magnésio, vitamina B6, fósforo e vitaminas E e D; é essencial saber se os alimentos que come são ricos nestes nutrientes.
Ä Deterioração da mobilidade física, relacionada com a redução da agilidade devido ás limitações músculo-esqueléticas e a possíveis recentes fracturas
Planificar com o utente o tipo de exercícios que ele pode incorporar no seu estilo de vida diário e que são adequados ao seu estado em relação a qualquer fractura. Estes exercícios incluem simples movimentos articulares para caminhar, nadar e realizar exercícios em água (hidroginástica).
Dependendo do tipo de exercício, deve ter-se em conta os seguintes aspectos:
· permitir que haja um período de aquecimento para aumentar a circulação e evitar um esforço muscular brusco e repentino do sistema cardio-respiratório;
· planificar a parte activa do exercício, de modo a poder aumentar lentamente a intensidade e a duração;
· permitir que haja um tempo de “arrefecimento” para favorecer o retorno gradual à normalidade;
· alertar o doente sobre os sinais de fadiga muscular e esforço respiratório e circulatório.
Ä Risco de lesão relacionado com fractura recente e com as deformidades esqueléticas
Ensinar o utente a evitar levantar “pesos pesados”, saltar e realizar outras actividades que requeiram esforço que possa ser risco de fractura.
Ensinar o utente a entrar e sair do automóvel.
Para levantar objectos, deve ensinar-se o utente a inclinar-se para a frente, dobrando os joelhos em vez da cintura.
Analisar as formas de fazer com que o domicílio seja mais seguro, reduzindo os riscos de quedas:
· manter os soalhos limpos e secos, mas não muito brilhantes;
· retirar os tapetes que não estejam aderentes ao chão;
· proporcionar a luz adequada sem “encandear”;
· usar sapatos com boa aderência ao pavimento
Alertas de enfermagem
Segundo ROGERS e SEIDL (1995), os enfermeiros devem alertar os seus utentes para diversos factos:
* Deve-se advertir o utente acerca das doses excessivas de vitamina D, dado que pode causar toxicidade.
* Muitos idosos não têm a oportunidade de se “expor” adequadamente à luz solar. Quando não se consegue esta exposição à luz solar, é importante tomar suplementos de vitamina D.
* Os utentes devem evitar tomar antiácidos que contenham alumínio, como forma regular de obter cálcio. Os alimentos que têm um elevado teor de cálcio também podem ter um elevado “teor” de colesterol. Os produtos com pouca gordura, como o leite e os iogurtes naturais são boas fontes de cálcio.
* Se é prescrito um suplemento de cálcio, deve-se controlar o utente afim de detectar efeitos secundários, como flatulência, hipercalcémia, hipercalciúria e cálculos renais.
* Quando uma pessoa com osteoporose é hospitalizada, a enfermeira deve ter muito cuidado no emprego dos métodos adequados para a mobilizar e mudar de posição. Se a perda de osso é grave, pode haver fracturas como consequência dos métodos de mudança de posturas, tanto adequados como inadequados.
* Aos clientes com osteoporose devem-se ensinar formas de evitar ou eliminar os factores de risco de lesão. Estes incluem obstáculos, móveis baixos, tapetes ou carpetes soltas, iluminação insuficiente, animais domésticos, (...). As características do ambiente pessoal que aumentam o risco de quedas incluem as roupas muito apertadas, lentes mal graduadas, sapatos de “salto alto” e as saias que chegam ou arrastam no chão.
* A imobilização, imposta ou prescrita pelo repouso na cama, aumenta a desmineralização óssea, sendo aconselhado limitar a inactividade ao tempo necessário mais curto.
5.14 Cuidados nutricionais para utentes com osteoporose
Para NETTO (2000) a osteoporose é caracterizada por uma perda global de massa óssea, incluindo tanto minerais quanto a proteína da matriz colagenosa.
Segundo o mesmo autor, a ingestão elevada de proteínas causa aumento da calciúria, sem alterar a sua absorção ou excreção pelas fezes.
Alguns estudos demonstraram que, embora a redução da absorção intestinal de cálcio seja maior em indivíduos com fracturas osteoporóticas do que em pessoas da mesma idade sem osteoporose, a suplementação de cálcio propicia diminuição da perda óssea relacionada à idade. Deverá ser instituída para todos os idosos, especialmente para aqueles que consomem poucos derivados de leite.
Recomendações
Com o objectivo de melhorar o balanço de cálcio e, consequentemente reduzir a incidência de fracturas, segundo NETTO (2000), recomenda-se o aumento das quotas de cálcio da Recommended Dietary Allowances (RDA) de 800mg/dia para 1.500mg/dia em mulheres após a menopausa e em homens com mais de 60 anos. Vários estudos demonstraram que a excreção fecal de cálcio eleva-se com ingestão diária superior a 2.300mg/dia.
As considerações nutricionais que podem ser feitas baseiam-se na adequação da ingestão de minerais benéficos, com o objectivo de se atingir uma massa óssea máxima entre os 25 e os 30 anos de idade, especificamente na mulher, sendo considerada uma medida preventiva.
O exercício físico, exercido com frequência e continuidade, é importante num programa terapêutico por promover resultados positivos sobre o esqueleto ósseo.
Assim sendo, a dieta deverá ser adequada desde as idades mais jovens, quando a formação de hábitos alimentares é mais fácil, devendo ser mantida daí por diante, para evitar perdas precoces de massa óssea.
Como se vê, a dieta é um dos factores importantes na prevenção e tratamento da doença osteoporótica.
6. FRACTURA DO COLO DO FÉMUR
Segundo LIDDEL (1994) cit in CARVALHO (2003) “as fracturas são soluções de continuidade óssea que ocorrem quando a força aplicada ao osso é maior que aquela que ele pode absorver”.
Para HOPPENFELD e MURTHY (2001) a fractura do colo do fémur “é a fractura que ocorre proximalmente à linha intertrocantérica na região intracapsular do quadril”.
A incidência de fracturas do colo do fémur é elevada entre as pessoas idosas, principalmente por causa de ossos frágeis devido à osteoporose e às quedas que são frequentes. Daí que, normalmente, as fracturas deste tipo são espontâneas ou causadas por traumatismo de baixa energia.
Na opinião de LIDDEL (1994) cit in CARVALHO (2003) a elevada incidência de quedas relaciona-se com músculos quadricípedes fracos, em virtude da fragilidade geral consequente da idade e das condições que levam a uma menor perfusão arterial cerebral (anemias, êmbolos, doenças cardiovasculares, efeitos medicamentosos).
Para HOPPENFELD e MURTHY (2001) a osteoporose causa enfraquecimento do osso cortical e trabecular do colo do fémur o que predispõe essa região à fractura.
6.1 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Para CARVALHO (2003) o doente com o membro inferior afectado pode apresentar as seguintes manifestações clínicas:
- encurtamento, em adução, rotação externa e, por vezes, com impotência funcional;
- dor discreta na região inguinal ou no lado mediano do joelho; ao movimentar a perna causa um aumento significativo do desconforto e tem alívio da dor com o membro inferior ligeiramente flexionado e em rotação externa.
No caso das fracturas incompletas, estas causam um desconforto moderado até com o movimento. O doente é capaz de suster o peso e não há encurtamento significativo nem alterações rotacionais (LIDDEL, 1994 cit in CARVALHO, 2001).
6.2 DIAGNÓSTICO
De acordo com CARVALHO (2003) o diagnóstico baseia-se na determinação do tipo de fractura: incompleta ou com desvio.
Nas fracturas incompletas (Figura 7), o doente pode queixar-se apenas de dor na virilha, ou no lado medial do joelho e pode deambular com claudicação. Por vezes, procuram tardiamente o tratamento, estando a fractura já consolidada ou com desvio.
|
|
Ao exame clínico não existem sinais óbvios, apenas um desconforto pela movimentação activa e passiva do quadril. O espasmo muscular também pode estar presente e a percussão do grande trocânter é dolorosa.
Nas fracturas com desvio (Figura 8) a dor é evidente podendo dificultar o estudo radiológico adequado, tornando-se importante, algumas vezes, realizá-lo após a anestesia.
6.3 TRATAMENTO
Para CARVALHO (2003) o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico.
No tratamento conservador, pode-se utilizar a tracção cutânea temporária para reduzir o espasmo muscular, imobilizar a extremidade e aliviar a dor.
Podem ser usados sacos de areia para controlar a rotação externa.
Este tratamento tem como finalidade obter uma fixação satisfatória que permita mobilizar precocemente o doente e assim evitar complicações clínicas secundárias.
O tratamento cirúrgico consiste na redução da fractura e fixação interna ou substituição da cabeça do fémur por uma prótese (LIDDEL, 1994 cit in CARVALHO, 2003).
6.4 COMPLICAÇÕES
Na opinião de CARVALHO (2003) um doente idoso que sofreu uma queda, da qual resultou uma fractura do colo do fémur, com indicação para intervenção cirúrgica para a qual tem condições anestésicas, poderá apresentar um conjunto de complicações que deverão ser do conhecimento do enfermeiro para que este possa ter uma intervenção mais adequada. Segundo este autor poderá apresentar as seguintes complicações:
w Tromboembolismo – é a complicação mais frequente. A sua prevenção pode ser feita através da administração de heparinas de baixo peso molecular por via subcutânea, realização de exercícios, uso de meias elásticas e despiste de sinais de tromboflebite.
w Complicações neuro-circulatórias – podem ser devido a traumatismo directo dos nervos e vasos sanguíneos ou pelo aumento da pressão nos tecidos. Estas fracturas provocam sangramento para o interior dos tecidos originando edema excessivo.
w Choque hipovolémico
w Complicações pulmonares – são um risco para os doentes idosos submetidos a cirurgia. Estas complicações podem ser prevenidas através da aplicação de exercícios de respiração profunda e mudanças de decúbito. É importante avaliar os ruídos respiratórios para despistar o aparecimento de ruídos anormais.
w Úlceras de pressão – o risco de úlceras de pressão pode ser diminuído através dos cuidados com a pele nas zonas de maior pressão, os posicionamentos e a utilização de material apropriado. Através da aplicação da Escala de avaliação de Risco (Escala de Norton) obtém-se uma detecção precoce de complicações.
w Incontinência vesical – deve-se evitar o uso sistemático de sondas vesicais por períodos longos, pois favorece uma elevada incidência de infecções do tracto urinário. É importante avaliar os padrões de eliminação do doente para despistar uma possível retenção urinária no pós-operatório. O reforço hídrico deve ser feito de acordo com a tolerância cardiovascular do doente e indicação médica.
w Infecção – a presença de sinais inflamatórios e velocidade de sedimentação (VS) elevada deve ser verificada.
w Ausência de consolidação – tem como factores determinantes: o comprometimento da vascularização, a cominuição posterior e a osteoporose.
w Necrose avascular – esta surge mais frequentemente nas fracturas do colo do fémur, devido à interrupção da vascularização durante o trauma ou tratamento. Assim, uma redução adequada e fixação efectiva da fractura são importantes, pois a revascularização é lenta.
w Desgaste e desmontagem do material de osteossíntese.
6.5 INTERVENÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
De acordo com LIDDEL (1994) cit in CARVALHO (2003) nas primeiras 20 a 48 horas, a atenção do enfermeiro(a) deve incidir no alívio da dor e na prevenção de complicações. Assim, as intervenções de enfermagem são as seguintes:
· Avaliação de sinais vitais e estado de consciência;
· Pesquisa de sinais hemorrágicos e deiscência da sutura;
· Vigilância de drenagens, suas características e funcionalidade de hemodrenos;
· Controle do hemograma e hematócrito;
· Incentivar a respiração profunda, a tosse e os exercícios musculares;
· Administração de antibioterapia profiláctica prescrita;
· Monitorização da hidratação, nutrição e eliminação;
· Encorajar a movimentação no leito, mudanças de decúbito mantendo o correcto alinhamento do membro afectado;
· Colocação de almofada de abdução nos membros inferiores para evitar a adução e rotação interna, de acordo com técnica cirúrgica;
· Estimular a mobilização precoce. Nas primeiras 24 a 48 horas o doente deve fazer levante para a cadeira de rodas (de acordo com a indicação médica e estado geral do doente);
· O deambular vai depender do vigor físico do doente e o apoio com carga deve estar de acordo com a confiabilidade da montagem, que vai depender da qualidade do osso e da técnica cirúrgica. É da competência do médico indicar a quantidade de sustentação de peso permitida e o ritmo de progressão para a sustentação plena do peso.
6.6 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Tendo por base LIDDEL (1994) cit in CARVALHO (2003) os cuidados a prestar a um doente idoso com fractura do colo do fémur são os que a seguir se apresentam.
Ä Dor relacionada com a fractura, dano dos tecidos moles, espasmo muscular e cirurgia.
· Encorajar o doente a descrever a localização e o tipo de dor. A lesão dos tecidos moles e o espasmo muscular provocam desconforto e a dor persistente pode indicar o aparecimento de problemas neurocirculatórios.
· Manusear o membro inferior afectado sem movimentos bruscos, tendo o cuidado de o apoiar com as mãos ou com uma almofada. O movimento do membro com fractura é doloroso, havendo espasmos musculares com esse movimento. Daí que o apoio adequado é importante para reduzir a tensão dos tecidos moles.
· Usar estratégias que possam minimizar a dor: modificar o meio ambiente, administrar analgesia prescrita, incentivar o doente a utilizar medidas que aliviem a dor antes que esta se agrave, avaliar e registar a resposta do doente às medicações e às técnicas para reduzir a dor.
· Posicionar de forma a aumentar o conforto e a função: o alinhamento correcto favorece o conforto e o posicionamento reduz a tensão sobre o sistema musculoesquelético.
· Ajudar nas mudanças de decúbito. Estas evitam a pressão e o desconforto associado.
Ä Confusão mental e desorientação no tempo e no espaço relacionadas com a idade, stress do traumatismo, ambiente desconhecido e medicação.
· Avaliar o estado de orientação.
· Obter informação dos familiares sobre o estado de orientação e funções cognitivas antes da lesão.
· Ajudar o doente a usar os recursos sensoriais e a interagir com o meio ambiente.
· Utilizar actividades e recursos de orientação. No idoso pode haver comprometimento da memória a curto prazo e a orientação frequente pode ajudá-lo.
· Dar explicações simples quanto aos procedimentos e planos de cuidados.
· Incentivar a participação na higiene e nas actividades nutricionais.
· Providenciar meios que aumentem a segurança: grades laterais elevadas, luz de presença acesa durante a noite, campainha…
· Avaliar as respostas mentais às medicações, principalmente sedativos e analgésicos.
Ä Ferida cirúrgica
· Monitorizar os sinais vitais: a temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória aumentam em resposta à infecção.
· Realizar pensos com técnica asséptica e o menor número de vezes possível.
· Avaliar o aspecto da ferida e as características da drenagem.
· Avaliar as queixas álgicas: a dor pode ser devida a infecção.
· Administrar antibioterapia prescrita e despistar efeitos secundários.
Ä Alteração nos padrões de eliminação vesical relacionada com imobilidade no leito.
· Monitorizar a ingestão e a eliminação. A ingestão adequada de líquidos assegura uma boa hidratação e o débito urinário adequado diminui a estase urinária.
· Reduzir ao máximo a permanência de sonda vesical, visto ser uma fonte de infecção.
Ä Diminuição da mobilidade física relacionada com a fractura e permanência no leito.
· Conservar o alinhamento correcto do membro afectado.
· Colocar uma almofada no meio das pernas aquando da mudança de decúbito: vai proporcionar apoio à perna, conforto e previne a adução e rotação interna e, por consequência a luxação da prótese.
· Orientar e auxiliar as mudanças de decúbito e as transferências.
· Orientar e supervisionar a realização dos exercícios de fortalecimento muscular.
· Incentivar a utilização do trapézio.
· Orientar e supervisionar a deambulação segura e progressiva, de acordo com as limitações e prescrições de sustentação de peso.
· Incentivar e apoiar o esquema de exercícios.
· Orientar e supervisionar a utilização segura dos diapositivos de auxílio de marcha.
1. Prevenção de complicações
Como foi referido anteriormente existe um conjunto de complicações inerentes às fracturas do colo do fémur em pessoas idosas. Assim, a intervenção de enfermagem neste campo torna-se especialmente importante (CARVALHO, 2003).
Hemorragia
M Monitorizar os sinais vitais: as alterações da frequência cardíaca, tensão arterial e frequência respiratória podem indicar a instalação de choque. A perda de sangue e o stress podem contribuir para a sua instalação.
M Registar a origem e a quantidade das drenagens cirúrgicas. O excesso de drenagem pode indicar sangramento activo.
M Registar os valores de hemoglobina e hematócrito. Pode ocorrer anemia sendo necessário o recurso a transfusões sanguíneas.
Compromisso neurocirculatório
M Avaliar a extremidade afectada em relação à coloração e temperatura. A pele torna se pálida e hipotérmica quando há uma menor perfusão tecidual; quando há congestão venosa pode causar cianose.
M Avaliar o preenchimento capilar. Quando se faz compressão do leito ungueal, o rápido retorno da coloração rosada indica que há uma perfusão capilar satisfatória.
M Avaliar a extremidade quanto à presença de edema e tumefacção. Com o trauma surge tumefacção, se esta for excessiva e houver formação de hematoma pode dar-se o comprometimento da circulação e da função.
M Elevar a extremidade para reduzir o edema.
M Avaliar se há dor profunda e latejante.
M Avaliar a presença de dor através da flexão passiva do pé. Em caso de isquémia nervosa, há dor com o alongamento passivo que indica uma trombose venosa profunda.
M Avaliar a existência de sensibilidade e parestesias. A diminuição da dor e as parestesias podem indicar uma lesão nervosa.
M Avaliar a capacidade de movimentação do pé e dos maléolos.
M Avaliar ambos os pulsos pediosos. Estes indicam o estado circulatório das extremidades.
M Informar o médico em caso de alterações neurocirculatórias para que a função possa ser preservada.
Trombose venosa profunda
M Aplicar meias elásticas conforme prescrito. A compressão favorece o retorno venoso e previne a estase.
M Avaliar os pulsos periféricos, a temperatura e a dor.
M Evitar a pressão sobre os vasos sanguíneos poplíteos por dispositivos ou almofadas.
M Proceder à alternância de decúbitos e ao aumento da actividade conforme prescrito. A actividade favorece a circulação e reduz a estase venosa.
M Promover exercícios com o tornozelo a cada hora, favorecendo a circulação.
M Avaliar e estado pulmonar, estimular a tosse e a respiração profunda.
M Assegurar uma hidratação adequada, evitando a hemoconcentração.
Complicações pulmonares
M Avaliar o estado pulmonar: frequência, profundidade, ruídos respiratórios. A anestesia e o repouso no leito reduzem o esforço respiratório e provicam estase das secreções pulmonares.
M Despistar hipertermia. A hipertermia no pós-operatório pode ser causada por problemas respiratórios.
M Incentivar os exercícios de respiração profunda e tosse.
M Administrar oxigénio em SOS.
M Promover a mudança frequente de decúbitos, favorecendo a ventilação ideal e reduzindo a estase de secreções.
M Assegurar uma hidratação adequada, fluidificando as secreções e facilitando a expectoração.
Úlceras de pressão
M Avaliar o estado da pele nas zonas de maior pressão. Os idosos estão mais predispostos a soluções de continuidade da pele nas zonas de maior pressão devido a uma diminuição do tecido subcutâneo.
M Promover a mudança de decúbitos, procurando evitar a pressão prolongada e os traumatismos cutâneos.
M Prestar cuidados de higiene adequados. A imobilidade gera pressão, a massagem e as mudanças de decúbito diminuem essa pressão.
M Utilizar dispositivos que aliviem a pressão.
M Instituir cuidados protocolados na primeira indicação de uma possível solução de continuidade cutânea. As intervenções precoces previnem a destruição e a reabilitação prolongadas.
2. Preparação para a alta
A preparação para a alta é considerada um critério de qualidade. Na opinião de LIDDEL (1994) cit in CARVALHO (2003) na preparação para a alta o enfermeiro(a) deve ter em conta os seguintes aspectos:
2 Avaliar o meio ambiente domiciliar para o planeamento da alta. A existência de barreiras físicas podem limitar a capacidade do doente em deambular e se autocuidar no domicílio.
2 Encorajar o doente a expressar as suas preocupações em relação aos cuidados no lar.
2 Avaliar a disponibilidade de assistência física para os cuidados no domicílio.
2 Fornecer as orientações, de acordo com as estratégias adequadas, aos profissionais de cuidados de saúde domiciliares procurando a continuidade de cuidados.
2 Orientar o doente em relação aos cuidados pós-hospitalares:
o limitações na actividade;
o reforçar as orientações relativas aos exercícios;
o usar com segurança os dispositivos de auxílio de marcha;
o cuidados com a ferida operatória;
o medidas para favorecer a cicatrização (nutrição,…);
o medicação;
o problemas potenciais;
o supervisão e controlo da evolução através de consultas periódicas.
7. ARTROSE/OSTEOARTROSE
Artrose é definida como uma patologia degenerativa das superfícies articulares associada ao envelhecimento MOLINA (1998).
São artropatias crónicas caracterizadas anatomicamente por uma lesão inicial que afectam a cartilagem que se fissura superficialmente e em seguida em profundidade que se úlcera e se destrói progressivamente (DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM, 2001).
Segundo BRANCO (2000) esta patologia atinge cerca de um quinto da população mundial, sendo duas vezes mais frequente na mulher do que no homem.
7.1 ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
Segundo ALBERNI (1984) não se conhecem as causas concretas da degeneração das cartilagens, no entanto sabe-se que as articulações submetidas a um maior esforço excessivo e continuado correm maior perigo de sofrer este processo.
Pode-se dizer no entanto que existem determinados factores que alteram o funcionamento mecânico das articulações e que predispõem o aparecimento das artroses/osteoartrose: a idade, traumatismos, artrite reumatóide, obesidade, alterações metabólicas e antecedentes genéticos (MOLINA, 1998).
No que diz respeito à idade, não há dúvida que o envelhecimento favorece o desenvolvimento das artroses, no entanto por si só não explica o seu aparecimento, pois verifica-se que muitas pessoas idosas não sofrem desta patologia. A obesidade também por si só não provoca artroses, constitui é um factor negativo pois esta ocasiona uma sobrecarga articular, da mesma forma as alterações metabólicas e os traumatismos podem predispor ao aparecimento das artroses, embora tudo isto não possa ser comprovado cientificamente (ENCICLOPÉDIA SALVAT DA SAÚDE, 1984).
A lesão cartilaginosa inicial é, em muitos dos casos, secundária a uma má adaptação das superfícies articulares entre si; malformação das extremidades ósseas.
A Osteoartrite tem início quando alguns constituintes protéicos se modificam e outros diminuem em número ou tamanho. Há tentativa de reparação através da proliferação das células da cartilagem mas o resultado final do balanço entre destruição e regeneração é uma cartilagem que perde a sua superfície lisa que permite o adequado deslizamento das superfícies ósseas.
Este processo acompanha-se de libertação de enzimas que normalmente estão dentro das células cartilaginosas. A acção destas enzimas provoca reacção inflamatória local a qual amplifica a lesão tecidual. Aparecem erosões na superfície articular da cartilagem que fica como se estivesse cheia de pequenas crateras. A progressão da doença leva ao comprometimento do osso adjacente o qual fica com fissuras e cistos.
Ao mesmo tempo, aparentemente como uma tentativa de aumentar a superfície de contacto e procurando maior estabilidade, o osso prolifera. Mas não é um osso normal, sendo mais rígido e mais susceptível a microfracturas que ocorrem principalmente em articulações que suportam peso.
Aparentemente devido à reacção inflamatória local todos os elementos da articulação sofrem hipertrofia: cápsula, tendões, músculos e ligamentos. As articulações sofrem aumento de volume e podem estar com calor local.
O trauma é produzido por falta de lubrificação sinovial na base cartilagínea. Como não tem irrigação sanguínea, a cartilagem tem uma regeneração mínima.
O grau de comprometimento é bastante variado. A doença pode evoluir até a destruição da articulação ou estacionar a qualquer momento. Há indivíduos que têm deformidades nos dedos e que nunca sentiram dor e outros que terão dor e progressiva piora da doença com consequentes deformidades e diminuição da função articular.
7.2 CLASSIFICAÇÃO
As artroses/osteoartroses podem ser classificadas em osteoartrose primária e idiopáticas, quando não aparecem factores que explicam o seu aparecimento e em osteoartroses secundárias quando são devidas a factores patogénicos conhecidos, nomeadamente traumatismo, alterações na distribuição da cargas articulares, transtornos endócrinos (MOLINA, 1998).
7.3 SINAIS E SINTOMAS
As artroses manifestam-se por dor localizada ao redor das articulações afectadas tanto em repouso como em actividade, que pode ser mais aguda no final do dia e durante a noite na cama (MOLINA, 1998). BRANCO (2000) refere ainda que esta dor pode ter intensidade variável, desde uma ligeira dor até uma dor difícil de suportar, que aparece com o uso dessa articulação e que em fases mais avançadas pode surgir mesmo em repouso.
Outros autores referem que antes da dor, os doentes com osteoartrite podem referir um desconforto articular ao redor das articulações e cansaço. Posteriormente, aparece dor, mais tarde, deformidades e limitação da função articular. No início, a dor surge após o uso prolongado ou sobrecarga das articulações comprometidas.
Pode surgir também uma rigidez ou a dificuldade em iniciar os movimentos sobretudo de manhã ao levantar ou depois de períodos de inactividade, geralmente tem duração inferior a 15 minutos, esta rigidez passa com o movimento e com actividade das articulações, esta dificuldade em realizar movimentos pode ser maior ou menor, consoante as articulações atingidas e da gravidade da artrose (BRANCO, 2000).
7.4 LOCAIS MAIS FREQUENTES
Qualquer articulação pode ser afectada, no entanto são mais afectadas as articulações que efectuam maior trabalho, quer seja de carga (quadris, joelho, coluna vertebral) quer seja de mobilidade (ombro, dedos) (GUIA MÉDICO, 1984).
Iremos portanto, abordar sucintamente cada um dos locais referidos:
a) Artrose das mãos
A artrose das mãos afecta mais as mulheres de que os homens, numa relação de duas mulheres para um homem, instala-se a partir dos 40 anos e sobretudo por volta da idade da menopausa nas mulheres RADI.
Após lenta evolução acompanha-se de dor e vermelhidão. As articulações da mão ficam com proeminências ósseas duras e de distribuição irregular.
|
Pode haver, portanto, a formação dos chamados nódulos de Heberden (Figura 9) pequenas tumefacções, do tamanho de uma ervilha, que são osteófitos situados nas articulações interfalângicas distais; são hereditários e vulgarmente observam-se em mulheres de meia idade, sobretudo nas que têm uma osteoartrose generalizada.
|
Normalmente o seu desenvolvimento é lento, acompanhado inicialmente por dor, que depois desaparece. Em muitos doentes os sinais clínicos estão confinados apenas à existência dos nódulos de Heberden (Figura 10) (ELLIOT).
Pode haver comprometimento exclusivo das articulações próximas às unhas (interfalangianas distais). Com menor frequência, podem ocorrer lesões semelhantes nas articulações interfalangianas proximais e neste caso a capacidade de preensão pode ficar bastante comprometida e pode ser também envolvida a articulação abaixo do polegar (trapéziometacarpiana). Com frequência esta articulação é a única envolvida em ambas mãos.
A gravidade é bastante variável. Pode não afectar a função das mãos mas há casos de deslocamento do polegar para a região palmar e dor forte ao segurar-se objectos.
b) Articulações do ombro e cotovelo
As artroses clinicamente relevantes na região do ombro e do cotovelo são muito raras e na maioria dos casos são insignificantes.
c) Artrose das ancas (coxartrose)
A coxartrose é uma patolodia frequente. Ocupa o segundo lugar, atrás da artrose dos joelhos. Aparece mais frequentemente entre os 40 e os 60 anos de idade, no entanto pode aparecer ou abaixo dos 40 anos ou acima dos 60 anos, não existe diferença na frequência nas mulheres ou nos homens.
As coxartroses podem ser primitivas ou secundárias. Nas primitivas não são conhecidas as causas que as originam, as secundárias podem ter a sua origem numa patologia, num acidente em malformações congénitas e displasia da anca que tenham atingido previamente a anca (RADI).
O doente refere dores e a limitação da anca, estas dores manifestam-se de dia, depois de uma imobilização prolongada em posição deitada ou sentada, ou depois de uma paragem de pé prolongada as dores aparecem quando o doente começa a andar e aumentam em consequência do transporte de pesos ou por efeito de fadiga (RADI).
Á progressão da deformidade acompanha-se de fusão e fraqueza das massas musculares. Nas primeiras fases, o doente refere desconforto numa anca, ao andar. Mais tarde, a dor é referida à virilha, nádega ou coxa, quando faz carga sobre a articulação. Na doença em fase avançada, a deformidade em rotação externa fixa a articulação em flexão e adução levando a subluxação da cabeça
femural sob o bordo superior do acetábulo (Figura 11).
Um dos factores muito importantes nesta artrose é a obesidade, principalmente quando estão envolvidas duas articulações.
|
d) Artrose do joelho (gonartrose)
A sua frequência aumenta com a idade para mais de 50%, sendo uma consequência do andar erecto e muitas vezes do peso excessivo.
Instala-se sobretudo depois dos 40 anos de idade, é quatro vezes mais superior na mulher do que no homem. Os doentes são muitas vezes obesos. A artrose do/dos joelhos diminui-lhes a actividade e consequentemente aumenta a obesidade.
Segundo RADI pode ser localizada em 2 sítios, quer separadamente quer em simultâneo: entre a rótula e o fémur e/ou entre o fémur e a tíbia.
O doente sente dores ao nível do joelho quando faz esforços e principalmente quando desce, mas também quando sobe, estas acalmam-se em repouso e podem desaparecer totalmente. Retornam novamente na altura de começar a andar e depois de prolongada imobilidade numa posição coo estar sentado ou em pé durante muito tempo. Normalmente as dores diminuem depois de alguns movimentos e o doente explica o seu mal como «se estivesse enferrujado» e o desaparecimento de um «enferrujamento» (RADI).
 Segundo o mesmo autor, as dores atacam, de início sobretudo um joelho e de um só lado, depois gradualmente todo o joelho e por fim os dois. Além das dores o doente nota uma limitação dos movimentos dos joelhos que o impede de dobrar ou estender completamente as pernas, de ajoelhar para rezar e de flectir os joelhos para se vestir ou lavar. Há também uma deformação dos mesmos e esta manifesta-se pelo espessamento do contorno dos joelhos e depois com o tempo com o desvio da perna contra a coxa, de que resultam as chamadas pernas em «o».
Segundo o mesmo autor, as dores atacam, de início sobretudo um joelho e de um só lado, depois gradualmente todo o joelho e por fim os dois. Além das dores o doente nota uma limitação dos movimentos dos joelhos que o impede de dobrar ou estender completamente as pernas, de ajoelhar para rezar e de flectir os joelhos para se vestir ou lavar. Há também uma deformação dos mesmos e esta manifesta-se pelo espessamento do contorno dos joelhos e depois com o tempo com o desvio da perna contra a coxa, de que resultam as chamadas pernas em «o».FIGURA 12: Joelhos em «o» num caso de gonartrose
Fonte: RADI
e) Artrose do pé
A deformidade mais comum no pé é o hallux rígido, ou valgos que envolve a primeira articulação metatarso-falângica. Esta artrose é mais conhecida por «joanete». Observa-se com mais frequência em mulheres de meia-idade.
RADI designa-a uma deformação dolorosa do hallux, com a formação de uma saliência acima da superfície que pode inflamar-se e tornar-se vermelha (figura 13)
|
As dores de pés são bastante frequentes e de origem variada, estas, instalam-se muitas vezes em consequência de malformações dos pés como por exemplo, os pés chatos.
Surge com frequência devido a uma malformação de nascença caracterizada por um dedo demasiado curto, certas fracturas de uma das articulações do hallux podem levar a uma artrose e provocar uma deformação em «joanete»
O «joanete» permanece muito tempo sem provocar dores. O doente nota apenas a deformações do dedo grande, mas a pouco e pouco a parte interno do pé, e sobretudo do hallux, torna-se dolorosa, tumefacta, vermelha e inflamada.
Os doentes encontram certa dificuldade em se calçar e pedem muitas vezes ao médico que lhes resolva o seu problema estético RADI.
f) Artrose da coluna vertebral (espondilose)
Afecta as articulações das apófises e dos discos intervertebrais. As tensões a que ficam submetidas as superfícies das vértebras, devido à degeneração dos discos, levam à formação de osteófitos e sua consequente fusão.
Pode existir a degeneração do disco, que faz parte do processo normal do envelhecimento. As raízes nervosas podem ser comprimidas pela deslocação póstero-lateral do bordo anular do disco. No prolapso do disco, a forma que mais vezes causa sintomas é a protusão póstero-lateral do núcleo polposo através do anel.
A osteoartrose afecta sobretudo C5-C7, é mais vulgar nas mulheres de meia idade, e neste caso os movimentos do pescoço encontram-se limitados pela dor e rigidez e são por vezes acompanhados de crepitação.
Na forma mais avançada da doença, a degeneração do disco agrava ainda mais o compromisso apofisário e intervertebral. Há uma dor constante, mas ligeira, que acompanha os outros sintomas e pode converte-se em dor intensa. Nos casos graves, com compressão das raízes dos nervos, observam-se sinais neurológicos. Muitas vezes são manifestação desta patologia a dor, a fraqueza nos membros, as perturbações visuais e os episódios de perda de consciência (ELLIOT, 1979).
Segundo a mesma autora o prolapso do disco deve-se ao trauma que leva a degeneração desse disco. Normalmente é afectado o quinto ou sexto disco intervertebral cervical. A manifestação neurológica mais frequente é uma dor que irradia ao longo de um membro. Esta dor constante é exacerbada por qualquer movimento súbito, tal como abanar o pescoço ou espirrar. Habitualmente os sintomas são precedidos por um período de alguns dias, em que o doente se queixa de rigidez e dor no pescoço.
Muitas vezes as artroses das articulações vertebrais estão associadas a uma osteoporose.
7.5 DIAGNÓSTICO
Ao longo dos temos, não houveram progressos significativos no que diz respeito à detecção da artrose, o diagnóstico utilizado é o diagnóstico clínico.
São utilizados alguns meios de diagnóstico, nomeadamente a exploração radiográfica que segundo ALBERNI (1984) no início da doença não tem qualquer tipo de utilidade, pois a cartilagem que ocupa o intervalo que separa as duas superfícies ósseas é transparente aos raios x e portanto, na radiografia vê-se um espaço vazio entre os dois ossos opacos, contudo, quando o processo se encontra num estádio mais avançado a radiografia revela a afecção da cartilagem. Quando se trata de uma cartilagem artrásica a sua espessura diminui pelo desgaste e as extremidades ósseas aproximam-se entre si (constitui o sinal radiológico essencial).
SCHNEIDER (1995) refere ainda que são sinais radiológicos, para além da redução da fenda articular, a formação subcondral de cistos, esclerose subcondral que ocorre em conjunto com a formação de osteófitos, neste caso o osso subcondral fica duro e com aspecto de marfim na extremidade, devido à acumulação de novas camadas de osso; o crescimento de osteófitos (são projecções de osso que crescem para fora junto às articulações e para dentro da cavidade articular); a presença de quistos translucentes, redondos, varia de dimensão; a deformidade em que o colapso ósseo e quístico, a subluxação e o excesso de crescimento ósseo, assim como o material solto na articulação, contribuem para o seu aparecimento e pode-se referir ainda a presença de irregularidades nas superfícies articulares.
A exploração radiográfica torna-se portanto essencial como meio de diagnóstico, uma vez que possibilita a detecção precoce de uma artrose, isto mesmo antes de aparecem as dores articulares, pois estas manifestam-se posteriormente à alteração do osso subjacente ou à irritação da membrana sinovial
Em relação aos sinais laboratoriais não auxiliam muito, uma vez que como não existe inflamação a velocidade de sedimentação mantém-se normal.
7.6 TRATAMENTO
O tratamento das artroses visa essencialmente o alívio da dor e do desconforto, preservação da função da articulação atingida e protecção contra uma excessiva pressão ou traumatismos.
Como a origem das artroses é praticamente desconhecida, o tratamento é essencialmente sintomático durante as crises dolorosas (DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM, 2001).
Os medicamentos mais utilizados são, portanto, os analgésicos que permitem uma melhora funcional e a diminuição da dor; os anti-inflamatórios são utilizados usualmente como complemento dos analgésicos com o objectivo de diminuir a componente «congestiva» dos sintomas, por via geral ou local (infiltrações, isto é, injecção local de derivados corticosteróides).
Segundo o DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001) existem ainda medicações designadas como “antiartrásicos sintomáticos de acção lenta” (AASAL) que podem constituir um tratamento complementar, como é o caso da diacereína, o sulfato sódico de condroiteína, o oxoceprol e os insaponificáveis de soja e de abacate. São referidos ainda outros tratamentos não medicamentoso como o caso da correcção da sobrecarga ponderal, a adaptação do estilo de vida (uso de bengala, por exemplo), a cinesiterapia e as águas termais. Por fim, em último caso poderá ter que se optar por cirurgia, que se destina, no entanto, às formas mais avançadas em que não é possível o alívio álgico por meio das técnicas citadas anteriormente.
É de referir ainda que podem ser adoptadas medidas de suporte como: a aplicação de calor, redução do peso, repouso articular, evitar o uso excessivo da articulação.
7.7 MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Uma vez que não se conhecem as causas, torna-se um pouco difícil adoptar medidas de prevenção, no entanto podem ser adoptadas algumas regras que poderão evitar o aparecimento das artroses que são elas:
a) Evitar o excesso de peso, uma vez que um aumento de peso de um kilograma em relação ao seu peso normal, as ancas têm de suportar um sobrepeso de quatro kilogramas cada vez que realiza um passo;
b) Evitar os climas frios e húmidos
c) Evitar o excesso de actividade das articulações e todas as actividades que provoquem, um desgaste da cartilagem, como seja o transporte ou carga de grandes pesos, a prática continua de certos exercícios como o ténis e o golfe. Deve ser portanto praticado um exercício moderado;
d) Ir ao médico quando notar a primeira dor articular, pois a eficácia da terapêutica está relacionada com a precocidade de actuação.
7.8 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Ø Dor relacionada com a destruição da cartilagem e com a formação óssea irregular nas articulações
· Aplicação de calor húmido nas articulações afectadas, especialmente pela manhã, durante períodos de 10 a 15 minutos;
· Administração da terapêutica prescrita, especialmente analgésica;
· Planear períodos de descanso durante o dia
· Planear a maior parte das actividades vigorosas para o momento em que as dores são menos intensas;
· Ajudar o doente a planear a sua rotina diária para realizar actividades ou exercícios passivos que o ajudem a manter as articulações o mais flexíveis possíveis
· Sugerir a compra de um colchão duro que ajude a manter o corpo em bom alinhamento durante a noite;
· Ensinar o doente a adoptar posturas e posições adequadas.
Ø Intolerância à actividade relacionada com a dor articular e as limitações da mobilidade
· Ensinar o doente a descansar as articulações quando aumenta a dor, pois o descanso pode reduzir a dor;
· Se artrose é grave podem ser necessários dispositivos de ajuda como muletas etc.;
· Ensinar o uso correcto destes dispositivos,
Ø Risco de isolamento social, relacionado com o aumento dos sinais e sintomas da artrose
· Ensinar o doente a planear períodos de actividade e descanso
· Auxiliar o doente a planificar a participação em actividades que não provoquem exacerbação dos sintomas
Ø Deterioração da mobilidade física relacionado com a rigidez e a dor nas articulações
· Ensinar a importância do exercício regular
· Ensinar a utilizar dispositivos adaptativos que favoreça a sua capacidade de autocuidado
Ø Risco de deficiente auto-cuidado: banho, vestir/despir relacionado com a diminuição da função articular
· Ajudar a estabelecer um regime realista de actividade e medicação para aumentar o nível de funcionamento actual
· Remeter o doente para a terapeuta ocupacional e fisioterapeuta
8. ESPONDILTE ANQUILOSANTE
Segundo TUREK (1991) a “espondilite anquilosante é uma doença da coluna caracterizada patologicamente pela inflamação progressiva da coluna”.
Para MEDIAVILLA (1998) a espondilite anquilosante provém “…do grego spondylo (vértebra) e ankylos (rigidez articular), é um reumatismo inflamatório crónico que afecta de forma predominante o esqueleto axial...”.
Com estes conceitos e mais alguma leitura complementar pode-se concluir que a espondilite anquilosante é uma doença crónica e progressiva, que atinge a coluna vertebral e os tecidos adjacentes.
Este processo inflamatório origina fusões intervertebrais que, iniciando-se a partir da bacia – das articulações sacro-ilíacas –, expandem-se, nível após nível, no sentido do crânio, podendo dar lugar a uma coluna vertebral rígida e, de seguida, transformar-se num osso único, com perda total de movimentos articulares. Esta será a situação dos casos mais graves, quando a doença é deixada em evolução livre.
Por vezes, as inserções tendinosas e as articulações periféricas também são abrangidas no processo inflamatório: são as chamadas entesopatias e artrites periféricas. Manifestações relativamente frequentes e muito características são as dores calcaneanas, tanto plantares como as localizadas na inserção do tendão de Aquiles.
Não é raro que, ás manifestações da coluna vertebral se associem manifestações inflamatórias das articulações dos membros. Nesses casos, os joelhos e as ancas constituem as localizações mais encontradas.
8.1 ETIOLOGIA
As causas desta doença ainda não estão estabelecidas, embora, desde 1973, se conheça a extrema importância do terreno genético. Constatou-se, desde então, que mais de 95% dos indivíduos que sofrem de espondilite anquilosante possuem um marcador genético – o antigénio B27 do sistema HLA. Este marcador está subdividido em múltiplas variantes, de significado variável quanto ao risco que representam e estão em estudo outros factores genéticos com importância, quer no que respeita a ficar doente quer quanto à gravidade evolutiva do caso clínico. O ser HLA-B27 positivo representa um risco de ter ou vir a sofrer de espondilite anquilosante, mas esse risco é pequeno, se não houver familiares directos sofrendo da doença e só se torna significativo, quando a mãe ou o pai sofrem ou sofreram da doença.
Segundo especialistas médicos, as pessoas predispostas só desenvolvem esta doença após o seu organismo ser confrontado com alguns agentes ambientais, provavelmente de origem microbiana. Todavia, isso ainda só está provado para um tipo especial de espondilite anquilosante: as espondilites das artrites reactivas.
8.2 ANATOMIA PATOLÓGICA
A espondilite anquilosante tem subjacente um processo inflamatório crónico, inespecífico, com infiltração de linfócitos e plasmócitos; nesta designação global estão incluídos três processos primários e independentes:
- Entesopatia (entesis) – zona de inserção óssea de um ligamento, tendão ou cápsula articular) – é a lesão mais característica da doença. Consiste num infiltrado inflamatório focal na zona de união de um ligamento ou tendão ao osso; isto provoca a nível da cortical óssea um defeito, uma erosão, seguindo-se uma proliferação reactiva fibroelástica, e posteriormente uma ossificação da entesis. A nível periférico este processo é mais notório na inserção no calcâneo da fáscia plantar (calcâneo inferior) e do tendão de Aquiles (calcâneo posterior); a nível axial, a ossificação das fibras mais externas do anel fibroso do disco intervertebral será a responsável pela formação dos clássicos sindesmofitos.
- Sinovite crónica – processo inespecífico, semelhante à sinovite da artrite reumatóide; é a responsável pelas lesões nas articulações periféricas;
- Condrite – inflamação da cartilagem articular, com necrose fibrinóide das fibras do colagénio, em zonas perto da superfície; a evolução deste processo pode ter lugar em dois sentidos:
- União de massas fibrinóides e intercâmbio de fibras entre as duas superfícies cartilagíneas de uma articulação, a qual conduz a uma sincondrose, e posterior sinostose (anquilose), muito característica da espondilite anquilosante a nível axial, sobretudo nas articulações de menor mobilidade, como por exemplo as sacro-ilíacas;
- Destruição da cartilagem, com produção de artrite ou artrose secundárias.
-
Lesões mais características da espondilite anquilosante
- Entesopatia:
- Faceíte plantar
- Tendinite aquiliana
- Sindesmofitos
-
- Sinovite:
- Artrites periféricas
-
- Condrite:
- Sacroileíte – anquilose sacro-ilíaca
-
8.3 QUADRO CLÍNICO
A espondilite anquilosante, enquanto protótipo clássico de um reumatismo inflamatório de predomínio axial, manifesta-se clinicamente através de quadros que embora variáveis apresentam características unificadoras, baseadas no combinar em graus diversos de sintomatologia proveniente de um síndrome lombar, de um síndrome pélvico, do envolvimento articular periférico, de dores de inserções tendinosas (entesopatias) e de manifestações extra-articulares (quadro 8).
- Síndrome lombar (ou raquidiano)
O síndrome raquidiano traduz o envolvimento inflamatório axial (coluna) desta doença (espondilite).
Classicamente, o doente com espondilite anquilosante é um homem relativamente jovem apresentando queixas de dor crónica (com vários meses de evolução) de ritmo inflamatório na região lombar, ou mais caracteristicamente na região de transição dorso-lombar. Na grande maioria dos doentes o início é muito insidioso, com sintomas discretos e de intensidade moderada, que persistem durante meses ou anos de forma contínua ou intermitente, com períodos de remissão de duração variável. A evolução lenta dos sintomas, e melhoria que habitualmente se verifica com a mobilização diurna, faz com que em muitas ocasiões o doente não valorize as suas queixas e exista um longo intervalo entre o início destas e a primeira consulta médica por este motivo.
A dor apresenta as características típicas de uma queixa inflamatória: é frequentemente mais intensa de madrugada (agrava-se com o repouso nocturno), melhora com o movimento e ao levantar da cama; acompanha-se de rigidez, quer matinal, quer com a imobilização, e melhora com o exercício.
Para lá das lombalgias (queixa raquidiana de longe mais frequente), poderão existir dorsalgias (ou dorsolombalgias) ou cervicalgias, com aspectos clínicos sobreponíveis, mas que raramente são manifestação inaugural de doença.
- Síndrome glúteo (ou pélvico)
O síndrome pélvico traduz o envolvimento inflamatório das articulações sacro-ilíacas (sacroleíte).
A sacroleíte, manifestando-se por dores glúteas de ritmo inflamatório, pode ser muito atípica na sua apresentação, descrevendo-se a possibilidade de surgir uma irradiação pseudoradicular (pela face posterior da coxa, mas nunca abaixo do joelho) (pseudo-ciática), com frequência bilateral, podendo surgir alternadamente à direita e à esquerda (ciática basculante); este tipo de dor pode levar a um erro de diagnóstico com uma citalgia por conflito disco-radicular, mas a ausência de parestesias ou outras alterações neurológicas serve como importante elemento de distinção. Esta sintomatologia pode ser muito incapacitante, dificultando o apoio monopodal ou motivando uma claudicação da marcha. Muitas vezes o envolvimento das sacro-ilíacas é assintomático, podendo ser apenas uma descoberta radiológica.
- Envolvimento articular periférico
A par do envolvimento axial, a espondilite anquilosante apresenta em regra um envolvimento articular periférico. Pode consistir em:
- Surtos de hidrartrose recidivante (intermitentes), envolvendo sobretudo os joelhos e evoluindo sem significativa lesão articular (a menos que evolua para uma forma de inflamação articular);
- Surtos poliarticulares febris muitas vezes interpretados e tratados como Febre Reumática;
- Mais frequentemente, como artrites (mono, oligo, ou poliartrites); dentro destas o mais típico é a existência de uma oligoartrite assimétrica, atingindo predominantemente as articulações dos membros inferiores (joelhos, ancas, tíbio-társicas, tarso, ou metatarso-falângicas), sendo porém os ombros também muito frequentemente envolvidos. O padrão de evolução clínica desta artrite periférica (contínua, saltitante ou por surtos) e a repercussão anatómica articular (não erosiva, ou muito destrutiva e anquilosante) é variável de doente para doente. Embora qualquer articulação possa ser atingida, são as ancas e ombros (artrites rizomélicas) que podem evoluir para alterações mais importantes e invalidantes, sendo as sequelas de uma evolução articular destrutiva um dos factores que mais condiciona o prognóstico e a capacidade funcional do doente; por esta razão, o envolvimento articular periférico deve ser detectado o mais precocemente possível, de modo a que se possam instituir todas as medidas terapêuticas que permitam manter a mobilidade e evitar o aparecimento de lesões articulares.
Nos casos de início periférico, o atingimento vertebral pode demorar muitos anos a aparecer. Em alguns casos pode existir um envolvimento periférico associado a uma sacroleíte (bilateral ou unilateral) sem qualquer outra forma de lesão axial vertebral.
- Entesopatias
O envolvimento inflamatório das entesis é um dos aspectos clínicos mais importantes da espondilite anquilosante, e pode ser o único sintoma durante alguns meses ou anos.
A nível periférico, são mais frequentes a fasceíte plantar (inflamação da inserção da aponevrose plantar no calcâneo) e a tendinite aquiliana (inflamação da inserção do tendão de Aquiles), manifestando-se por talalgias inferiores e posteriores, as quais embora representem um fenómeno inflamatório, apenas se manifestam com o adoptar de posição de carga dos membros inferiores. Para além destas, podem ocorrer outras entesopatias, tais como a tendinite da inserção rotuliana do quadricípede, tenosinovites digitais, ou qualquer outra tendinite (epicondilite, epitrocleíte, trocanterite, ou tendinite do tubérculo tibial anterior).
A nível axial, são características as dores torácicas (por inflamação de qualquer estrutura articular ou periarticular da caixa torácica) que motivam uma limitação da expansibilidade torácica; os sindesmofitos da coluna não são mais do que uma manifestação radiológica de entesopatia, por calcificação da inserção do annulus fibroso do disco intervertebral no ângulo vertebral.
- Envolvimento torácico
A dor torácica é um sintoma muito específico da espondilite anquilosante, podendo ser o seu sintoma de início. Surge como consequência de um processo inflamatório articular ou periarticular. Agrava-se com qualquer movimento da caixa torácica, sendo esta característica, e a dor à palpação local pistas para um diagnóstico diferencial com dores torácicas de outras etiologias.
- Manifestações extra-articulares
As manifestações extra-articulares podem surgir em qualquer altura da doença, podendo até preceder o aparecimento de manifestações reumatológicas.
 |
QUADRO 8: Quadro clínico da espondilite anquilosante
Fonte: MEDIAVILLA (1998)
8.4 EVOLUÇÃO DA DOENÇA
À medida que doença evolui, juntam-se aos sintomas mais precoces algumas alterações decorrentes da progressão dos processos patogénicos, as quais condicionam de forma decisiva o espectro clínico possível nas fases mais evoluídas da doença, descritas no quadro 9.
QUADRO 9: Manifestações clínicas de espondilite anquilosante evoluída
Fonte: MEDIAVILLA (1998)
- Envolvimento vertebral
- A nível lombar: existe uma progressiva limitação da mobilidade com perda da flexão, extensão e mobilidade lateral da coluna. Numa primeira fase, esta limitação resulta sobretudo da dor desencadeada pela mobilização vertebral, e da contractura muscular paravertebral secundária a esta dor e à imobilização, sendo portanto ainda quase totalmente reversível. Lentamente, os músculos paravertebrais atrofiam-se e a lordose lombar começa a rectificar-se. Com a evolução natural da doença (se nenhuma intervenção terapêutica for instituída), surgem os processos de ossificação vertebral e paravertebral, com o aparecimento de sindesmofitos e de ossificações de ligamentos laterais e anteriores, tornando a pouco e pouco a coluna num bloco único, anquilosado, incapaz de executar qualquer tipo de movimento.
-
- A nível dorsal: o mesmo processo patológico afecta, com o decorre dos meses e de uma forma topográfica ascendente, a região dorsal, estabelecendo-se uma hipercifose dorsal harmónica. O doente assume uma atitude postural típica, com projecção da cabeça e tronco para a frente (coluna em ponto de interrogação). Nesta fase, o doente com o dorso encostado a uma parede, e com os joelhos em extensão, fica com o occipital longe da parede, convergindo o olhar para o chão. A medição da distância entre o occipital e a parede (flecha de forestier) permite uma avaliação da cifose e da sua progressão.
- A nível cervical: na progressão da doença assiste-se invariavelmente ao desenvolvimento da coluna cervical; ao contrário dos outros segmentos, em que muitas vezes a evolução se pode dar de forma quase assintomática, as lesões da coluna cervical motivam em regra grandes períodos de intensidade dolorosa, sobretudo porque a par da entesopatia ossificante paravertebral, existe neste segmento uma tendência para a ocorrência de lesões inflamatórias erosivas das articulações interapofisárias posteriores, as quais só deixam de motivar dor quando se anquilosam. Como consequência destes processos, existe então uma perda progressiva da mobilidade, que se acompanha de deformações com o pescoço e cabeça para a frente (fixação da coluna cervical em flexão), uma ligeira inclinação para um dos lados, e uma pequena rotação da cabeça para o lado contrário. Nesta fase, o doente para olhar para a frente precisa de elevar o campo visual, o que, dada a anquilose da coluna (e frequente limitação das coxo-femurais), só é conseguida mediante uma flexão dos joelhos e inclinação do tronco para trás, por vezes com as pernas separadas para assim aumentar a base de sustentação.
- A nível das sacro-ilíacas: pelo processo anteriormente descrito, existe uma tendência para a evolução para anquilose das articulações sacro-ilíacas. Porém, ao contrário do restante segmento vertebral, em que tal evolução motiva acentuada e crescente incapacidade funcional, a anquilose destas articulações não implica qualquer defeito.
As alterações e defeitos posturais e funcionais acabados de descrever como resultado final de um processo evoluído de espondilite anquilosante, eram há alguns anos atrás consideradas como patognomónicas desta doença, surgindo inevitavelmente na evolução deste processo patológico. Avaliando actualmente a globalidade dos nossos doentes com espondilite anquilosante, ver-se-à que se encontram tais deformações numa pequena minoria deles. Para explicar esta modificação e expressão final da doença poder-se-ão evocar vários argumentos:
- A expressão fenotípica da doença modificou-se ao longo dos anos, sendo actualmente mais benigna;
- Uma mais precoce e eficaz intervenção terapêutica poderá alterar o curso evolutivo da doença, impedindo o aparecimento de mais graves lesões;
- As formas mais benignas da doença eram anteriormente subdiagnosticadas, por falta de acuidade diagnostica, tornando o espectro clínico da doença limitado ás suas formas mais graves.
- Envolvimento articular periférico
De todas as articulações potencialmente envolvida pela doença, são as coxo-femurais e a/as dos ombros aquelas que poderão evoluir para alterações mais importantes, destrutivas e invalidantes, existindo uma tendência à remissão sem dano nas restantes articulações. A nível dos joelhos pode ficar como sequela uma ligeira atitude de flexão.
Particularmente a nível da anca, existem duas possibilidades de evolução:
- Para uma coxite incarcerante, concêntrica e anquilosante (com enormes sindesmofitos anquilosando a anca na periferia), radiologicamente, clinicamente e geneticamente mais relacionada com o envolvimento axial;
- Para uma coxite destrutiva, excêntrica, com colapso da interlinha articular, fazendo parte do envolvimento periférico da doença. A lesão das coxo-femurais, em regra com flexo irredutível, associada ás deformações raquidianas, agrava decisivamente a capacidade funcional destes doentes. Tem sido afirmado que os indivíduos com início mais precoce da doença têm mais frequentemente uma evolução rapidamente progressiva e incapacitante, com envolvimento das coxo-femurais.
As sequelas nas articulações periféricas são decisivas para a capacidade funcional do doente, realçando a importância da sua detecção o mais precocemente possível, com o objectivo de manter a melhor mobilidade possível e prevenir o aparecimento de atitudes viciosas.
- Envolvimento torácico
A afecção da caixa torácica no decurso da espondilite anquilosante (pelos processos expostos) provoca uma diminuição da amplitude dos movimentos da caixa torácica, com redução da expansibilidade torácica; este facto faz com que a respiração fique dependente de uma maior amplitude dos movimentos do diafragma, motivando uma respiração de tipo abdominal. Com a evolução da doença o toráx deforma-se, aplanando-se de frente para trás (toráx em tábua).
8.5 EXAME OBJECTIVO DO DOENTE
I. A nível sacro-ilíaco é muito difícil precisar no exame objectivo o envolvimento inflamatório destas articulações, o qual pode ser suspeitado por uma palpação dolorosa da sua região a nível glúteo-ponto sacro-ilíaco, situado imediatamente abaixo da espinha ilíaca postero-superior, ou por dor desencadeada em diferentes manobras exploratórias que mobilizam as sacro-ilíacas - afastamento em abdução das asas ilíacas, com o doente em decúbito dorsal (manobra de Volkmann), compressão sobre a crista ilíaca com o doente em decúbito lateral (manobra de Lewin), manobra de Laguere (hiperextensão e ligeira abdução forçada da anca), manobra do tripé (pressão directa sobre o sacro com o doente em decúbito ventral) e manobra de Fabere (flexão máxima da anca homolateral com hiperextensão da anca contralateral), as quais despertam dor, referida na região glútea.
Estas manobras têm particular importância no início da doença e durante os primeiros anos de evolução; à medida que o processo evolui as sacro-ilíacas tendem a anquilosar-se e as manobras são negativas. No entanto é de salientar que a sensibilidade e especificidade destas manobras é considerada muito baixa; não excluindo a necessidade de se efectuarem meios complementares de diagnóstico para confirmar a suspeita clínica de sacroleíte.
II. A nível lombar o doente refere dor à palpação lombar. O dado mais fundamental da mobilização consiste na constatação da existência de uma rigidez lombar; a limitação da mobilidade da coluna lombar pode ser pesquisa da por várias provas; a mais clássica é a prova de Schober em que se marca um ponto unindo a intersecção das apófises espinhosas com uma linha horizontal tangencial às cristas ilíacas, e um ponto dez centímetros acima deste; pedindo ao doente para efectuar uma flexão anterior do tronco, medimos qual foi o aumento de distância entre os pontos atrás considerados; um aumento inferior a três centímetros indica uma limitação franca da flexão da coluna. Esta limitação anterior pode ainda ser avaliada pela distância dedos-solo, aquando da flexão máxima da coluna.
A limitação da inclinação lateral da coluna (englobando coluna lombar e dorsal) poderá ser testada pela distância dedos-solo ou pela medição da diferença de altura da projecção do dedo médio sobre a coxa, em posição neutra de sentido e em inclinação lateral máxima (direita e esquerda).
Estas provas têm importância não só numa primeira avaliação do doente, para confirmação das limitações (contribuindo para o diagnóstico), mas ainda porque funcionam como poderosos instrumentos de avaliação, para controlo da evolução da doença e de respostas a intervenções terapêuticas.
Numa fase evoluída, o doente assume uma atitude postural típica, com a cabeça flectida, o pescoço anquilosado, uma hipercifose dorsal notável e uma rectificação lombar, levando-o a uma semi-flexão compensadora de coxo-femurais (por vezes já anquilosadas) e dos joelhos.
III. A nível cervical poder-se-à avaliar a limitação das amplitudes deste segmento através de variadas medições (efectuadas com o doente em pé e encostado a uma parede), nomeadamente da distância occipital-parede (flecha occipital, que reflecte sobretudo a curvatura cervical) e apófise espinhosa de C7 -parede (flecha cervical, a qual também avalia indirectamente a cifose dorsal), ou das distâncias orelha-acromiocIavicular, mento-acromiocIavicular, ou mento-esternaI.
IV. A nível torácico o envolvimento de articulações e estruturas periarticulares torácicas provoca uma diminuição da amplitude dos movimentos torácicos, que se evidência pela medida da expansibilidade torácica – medição da diferença do perímetro torácico (a nível do 4º espaço intercostal) obtido em inspiração e expiração máximas; um valor acima de 2.5 é considerado patológico.
8.6 MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES E COMPLICAÇOES
As manifestações extra-articulares podem preceder as manifestações articulares e ser o primeiro sinal de doença.
QUADRO 10: Manifestações extra-articulares e complicações
Fonte: MEDIAVILLA (1998)
8.7 TRATAMENTO
A espondilite anquilosante é uma condição cujo reconhecimento e tratamentos precoces são gratificantes. O tratamento passa por a administração de anti-inflamatórios não hormonais, intervenções cirúrgicas (casos bem seleccionados), fisioterapia. Todos estes tratamentos têm como objectivos o alívio das dores, a diminuição das inflamações e das contracturas, manutenção da postura, manutenção das funções articulares e evitar deformações atróficas.
Existem ainda propostas alternativas como a hidroterapia, a eletroterapia e massoterapia: analgésica e relaxamento; cinesioterapia: como se trata de uma doença deformante é necessário contrabalançar a tendência anquilosante, realizando:
¶ Flexibilidade da coluna
¶ Flexibilidade das articulações periféricas
¶ Alongamentos musculares
¶ Mobilizações passivas
¶ Fortalecimentos
¶ Expansibilidade torácica
8.8 EVOLUÇÃO E PROGNÓSTICO
Classicamente, o diagnóstico de espondilite anquilosante implicava um prognóstico funcional muito reservado, visto a generalidade dos casos diagnosticados evoluir quase sempre para formas muito anquilosantes, altamente invalidantes. Como foi referido anteriormente, este panorama alterou-se drasticamente nos últimos anos, quer porque a doença sofreu alguma alteração na sua expressão clínica, quer porque mais correctas intervenções terapêuticas (medicamentosas ou fisiátricas) melhoraram significativamente o prognóstico funcional da doença, quer ainda porque a acuidade diagnostica é actualmente muito maior, fazendo com que casos moderados e ligeiros (dantes subdiagnosticados) sejam agora detectados. Desta forma, a espondilite anquilosante é actualmente considerada uma doença auto-limitada, que embora possa apresentar evoluções muito prolongadas, com casos manifestando actividade clínica até 40 anos após o seu início, tem habitualmente um curso clínico benigno, com remissões espontâneas, de longos anos ou até definitivas. Assim, a doença é em regra compatível com uma vida normal ou sem sequelas articulares importantes, sobretudo quando o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento adequado instituído de imediato. Apesar da terapêutica, uma minoria dos casos evoluem desfavoravelmente desde o início, conduzindo os doentes a destruição articular periférica e/ou anquilose axial, com marcada incapacidade funcional secundária. Em casos muito raros poderá existir evolução para morte, a qual poderá ser motivada por complicações neurológicas (secundárias a luxação ou fracturas cervicais), pelo desenvolvimento de uma insuficiência aórtica grave, ou de uma amiloidose renal.
O curso clínico é quase sempre mais agressivo durante os primeiros anos de evolução. Existem alguns indicadores, que quando presentes na evolução desta doença poderão funcionar como factores de mau prognóstico (quadro 11), implicando uma mais apertada vigilância clínica e mais agressivas intervenções terapêuticas:
¶ Idade de início precoce;
¶ Artrite periférica persistente;
¶ Envolvimento articular da anca (considerado individualmente o factor mais importante na definição prognóstica da espondilite anquilosante);
¶ Uveítes de repetição;
¶ Envolvimento cardíaco;
¶ Envolvimento cervical (subluxações/ fracturas);
¶ Desenvolvimento de amiloidose.
 |
QUADRO 11: Factores de mau prognóstico da
espondilite anquilosante
Fonte: MEDIAVILLA (1998)
8.9 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
x Limitação nos movimentos
· Permitir que o utente execute sozinho, o maior número de actividades possível:
· Verificar se o utente tem dor quando se movimenta e registá-la;
· Estar vigilante ao utente na altura das mobilizações;
· Fazer com que o utente pratique exercícios musculares com regularidade (de acordo com as suas necessidades);
· Estar junto ao utente durante os exercícios, se necessário;
· Exprimir que o utente exprima os seus sentimentos dolorosos, se necessário;
· Avaliar as características da dor: localização, intensidade, duração, frequência, factores a aumentam/diminuem;
· Aplicar calor ou frio na região dolorosa, se apropriado;
· Utilizar roupas fáceis de vestir e despir;
9. Poliartrite reumatóide
Segundo NETTO (2000), a poliartrite reumatóide, também conhecida por artrite reumatóide, “é um processo inflamatório crónico, sistémico, de causa desconhecida, afectando as membranas sinoviais (tendões, ligamentos, fáscia, músculos e ossos)”.
O DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001) diz-nos que a poliartrite reumática é a mais frequente das poliartrites crónicas e que esta se caracteriza “por uma afecção inflamatória e relativamente simétrica das articulações, que evolui por surtos para a deformação e destruição das articulações atingidas”.
9.1 FISIOPATOLOGIA
A origem da artrite reumatóide desconhece-se, ainda que se formulem duas hipóteses: “origem infecciosa por invasão vírica, e origem imunológica, isto é, devido a alterações no sistema imunitário com mutações de anticorpos que provocam lesões aos próprios tecidos corporais” (DURANTE MOLINA, 1998).
Segundo ROGERS-SEIDL (1995), o processo destrutivo começa com a inflamação da membrana sinovial. Esta quando está edemaciada fica maior e estende-se sobre a superfície articular. Esta formação provoca erosão e destruição da cartilagem articular e do osso subjacente. Começa a anquilose fibrosa (subluxação e deformidade da articulação) e estabelece-se um tecido de cicatrização, impedindo o movimento normal da articulação. A última etapa é a anquilose óssea, na qual se forma nas articulações uma união óssea sólida, causando imobilidade das articulações «fixas».
De acordo NETTO (2000), o quadro clínico, de início insidioso, afecta primariamente pequenas articulações, como punhos, dedos e tornozelos, de forma simétrica e centrípeta. Contudo, DURANTE MOLINA (1998) diz ainda que as grandes articulações não estão excluídas bem como outros tecidos e órgãos do corpo, uma vez que é uma doença sistémica.
9.2 SINTOMATOLOGIA
De acordo com NETTO (2000), a poliartrite reumatóide é caracterizada por articulações dolorosas, quentes, eritematosas e edemaciadas, demonstrando, com frequência, períodos de remissões e exacerbações.
ROGERS-SEIDL (1995) acrescenta ainda a rigidez e os edemas articulares simétricos. Segundo este, inicialmente os sintomas são mal-estar, perda de peso, dor e ligeira rigidez periarticular. A dor e a rigidez são mais frequentes pela manhã e desaparecem com o uso moderado da articulação à medida que progride o dia. A rigidez pode aumentar depois de uma actividade que requeira esforço.
É frequente observar nódulos reumatóides subcutâneos à volta dos tornozelos e dos dedos.
Como a poliartrite reumatóide é uma patologia sistémica, podem aparecer também fadiga, debilidade, anorexia e ainda anemia, pleuresia, pericardite, neuropatia periférica, úlceras nos membros inferiores e manifestações oculares como conjuntivites.
9.3 FACTORES PRECIPITANTES
A artrite reumatóide é uma patologia de causa desconhecida, contudo há factores que podem activar a sua exacerbação.
Segundo ROGERS-SEIDL (1995), esta pode ser precipitada pela ansiedade, a exposição ao frio, o excesso de trabalho, uma infecção ou por alterações emocionais.
Para DURANTE MOLINA (1998), a obesidade não pode considerar-se como um factor desencadeante, mas pode precipitar o aparecimento dos sintomas e agravar o processo uma vez iniciado”.
De acordo com NETTO (2000), “as mulheres são afectadas com maior frequência em relação aos homens, numa proporção de 3 : 1”.
9.4 EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO
Segundo ROGERS-SEIDL (1995), há várias provas de laboratório que se podem empregar para ajudar a diagnosticar a artrite reumatóide, tais como: o factor reumatóide (FR), a velocidade de sedimentação globular (VSG), a fixação de látex, as reacções de aglutinina e as imunoglobulinas (IgM e IgG). Para diagnosticar a poliartrite reumatóide pode-se realizar a aspiração do líquido sinovial. Em pessoas com esta patologia o líquido é opaco e estéril, com viscosidade reduzida e um elevado número de leucócitos.
A doença caracteriza-se ainda pela presença do factor reumatóide no soro do doente. Esta imunoglobulina é evidenciada pelas reacções de Waaler-Rose e do látex, cuja positividade constitui um argumento muito importante para o diagnóstico.
A VSG está geralmente aumentada e este exame mão específico constitui um útil elemento de vigilância, tal como o valor da hemoglobina: com efeito, encontra-se frequentemente uma anemia (dita “inflamatória”).
As radiografias das articulações afectadas podem mostrar a progressão da destruição articular. Inicialmente observa-se desmineralização óssea de ambos os lados da interlinha articular, traduzida pelo aumento da transparência do osso e pelo aumento das opacidades das partes moles adjacentes.
9.5 TRATAMENTO
Segundo DURANTE MOLINA (1998), a natureza crónica e degenerativa da doença implica que o tratamento se centre em diminuir a dor e a inflamação, manter a função, e prevenir e/ou corrigir as deformações. Desde o princípio deve-se realizar um programa de protecção articular e de suporte psicológico que ajude a sobrelevar a doença.
O tratamento farmacológico consistirá em analgésicos, AINE’s, corticosteróides e imunossupressores; o tratamento reabilitador incluirá a fisioterapia e a terapia ocupacional (com exercícios de postura, talas e ortóteses, que se opõem às posições viciosas e às deformações articulares); enquanto que, o tratamento cirúrgico (artroplastia) diminui a dor e melhora a estética, mas não consegue uma melhora funcional.
Para ROGERS-SEIDL (1995), o equilíbrio entre o repouso e a actividade é crucial no idoso que sofre artrite reumatóide. O emprego do repouso restrito na cama está reservado às exacerbações agudas, para prevenir uma deterioração ainda maior das articulações inflamadas.
Se só existe uma ou duas articulações afectadas, pode administrar-se injecções intrarticulares de esteróides para obter o alívio sintomático. O metotrexato, que é um fármaco imunossupressor, tem algum efeito sobre a artrite reumatóide, no entanto, emprega-se unicamente quando se esgotaram todas as demais terapias.
A aspirina é o fármaco de eleição para o tratamento, principalmente devido aos seus efeitos antiinflamatórios. A dose adequada é a que alivia os sintomas sem causar efeitos tóxicos. Deve-se tomar durante a remissão e mesmo durante os períodos de exacerbação. Os AINE’s são também prescritos com muita frequência e incluem ibuprofeno, fenoprofeno, naproxeno, entre outros. Não é necessária uma dieta especial, ainda que a nutrição e os líquidos adequados ajudarão a manter as articulações e os sistemas corporais em bom funcionamento. É necessária a ingestão adequada de cálcio para reduzir ao mínimo a desmineralização óssea associada ao processo de envelhecimento.
9.6 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
São vários os problemas que a artrite reumatóide levanta para os quais há que implementar acções adequadas, tendo em conta que esta é uma doença crónica evolutiva. Assim, e com base em ROGERS-SEIDL (1995), apresenta-se a seguir o quadro 12 com os principais diagnósticos de enfermagem e respectivos objectivos dos cuidados de enfermagem relativos à patologia.
| Diagnósticos de enfermagem | Objectivos |
| Dor crónica relacionada com a degeneração articular | Que o doente seja capaz de controlar a dor com eficácia. |
| Deterioração da mobilidade física relacionada com o edema e a dor articular | Que o doente tome medidas para melhorar a mobilidade |
| Défice de conhecimentos: realização do auto-cuidado na poliartrite reumatóide; relacionado com a falta de experiência prévia | Que o doente incorpore conhecimentos na sua rotina de actividades diárias. |
| Risco de distúrbio da imagem corporal relacionada com as mudanças físicas secundárias à poliartrite reumatóide | Que o doente expresse verbalmente sentimentos acerca das mudanças corporais. |
| Risco de isolamento social relacionado com o mal-estar e as mudanças físicas experimentadas no corpo | Que o doente participe regularmente em interacções sociais. |
| Intolerância à actividade relacionada com a imobilidade | Que o doente mantenha o nível actual de mobilidade. |
| Risco de défice de auto-cuidado: tomar banho, vestir-se, alimentar-se; relacionado com a rigidez e a imobilidade articulares | Que o doente consiga ter uma capacidade de auto-cuidado óptima ou a melhor possível. |
QUADRO 12: Artrite Reumatóide: principais diagnósticos de enfermagem e respectivos objectivos.
Fonte: ROGERS-SEIDL, 1995
Para eliminar e/ou reduzir todos estes problemas há que implementar determinadas acções de enfermagem, de acordo com os objectivos descritos anteriormente, e que se apresentam a seguir, baseadas também em ROGERS-SEIDL (1995):
C Investigar todas as queixas de dor quanto à sua localização, severidade e factores precipitante.
C Aplicar calor (de modo a relaxar os músculos e reduzir a rigidez muscular) e/ou frio (de modo a induzir a anestesia local, reduzindo a dor) nas articulações afectadas quando necessário.
C Administrar a medicação segundo a prescrição e/ou em SOS.
C Auxiliar o doente nas suas actividades da vida diária e nos exercícios, promovendo o auto-cuidado.
C Adoptar medidas preventivas de complicações da imobilidade como as úlceras de pressão, flebites, atrofia muscular, contracturas e debilidade.
C Implicar o doente e a família em todos os aspectos do tratamento e da promoção do auto-cuidado e do bem-estar.
C Estabelecer uma relação de ajuda com o doente e a sua família, valorizando o significado que as mudanças físicas têm para estes e as respostas adaptativas a essas mudanças e deformidades, permitindo-lhes expressar os seus sentimentos relativos à doença.
C Encaminhar o doente para grupos de auto-cuidado e ajuda na doença e para outros técnicos de saúde, nomeadamente de fisioterapia e de terapia ocupacional se necessário.
C Estimular o doente a conviver com os outros, estabelecendo relações sociais e integrando-se em actividades de grupo.
C Ajudar o doente a planificar actividades intercaladas com períodos de descanso.
C Proporcionar um reforço positivo nas actividades que o doente consegue realizar com ou sem ajuda.
C Realizar ensinos ao doente e à sua família sobre:
§ Aplicação de um banho quente de manhã a fim de reduzir a rigidez articular e a aplicação de calor e/ou frio nas articulações afectadas quando necessário;
§ Medicação (nome, a dose, a frequência, a acção e os efeitos secundários dos fármacos prescritos), fornecendo informação escrita para evitar esquecimentos e confusões;
§ Importância de manter um equilíbrio entre o exercício e o repouso;
§ Actividades e exercícios de movimento articular passivo para algumas articulações específicas;
§ Adopção de posições adequadas e apoio das articulações afectadas;
§ Medidas preventivas de complicações derivadas da imobilização;
§ Planificação das actividades da vida diária;
§ Uso de utensílios e dispositivos criados especialmente para levar a cabo AVD’s e para apoiar as articulações afectadas (talas, almofadas, …).
MOLINA (1998) menciona que, dadas as características da patologia, é necessário realizar de forma periódica avaliações do doente para modificar os planos terapêuticos e adaptá-los à sua situação em cada momento.
10. GOTA
Segundo o DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001), “as artropatias estão relacionadas com uma perturbação genética do metabolismo de um elemento essencial. Nas artropatias metabólicas, a inflamação articular é devida à precipitação de microcristais”. No caso da artrite gotosa deve-se à precipitação de urato de sódio.
É, pois, uma doença metabólica caracterizada por:
FIGURA 14 – Tofos nas articulações da mão.
10.1 ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
Segundo o DICIONÁRIO DE MEDICINA PARA ENFERMAGEM (2001), a artrite gotosa ataca os homens com mais de 40 anos e muito raramente as mulheres, sobretudo depois da menopausa. Esta doença metabólica deve-se a:
§ um excesso da síntese das bases purínicas no organismo;
§ ou à degradação excessiva das células durante a evolução de certas doenças do sangue (leucemias), e também durante os tratamentos anticancerosos (estes medicamentos, ao destruírem as células cancerosas libertam os ácidos nucleicos que elas contêm);
§ ou à diminuição da eliminação urinária do ácido úrico por doença renal (insuficiência renal crónica) ou sob a influência de certos medicamentos (diuréticos).
Todos os gotosos têm hiperuricemia, mas nem todos os hiperuricémicos têm gota. A superprodução de ácido úrico é responsável por 10% dos casos e a diminuição da excreção urinária de ácido úrico representa os restantes 90% dos gotosos.
O típico ataque de gota caracteriza-se por 80% dos ataques iniciais incluindo uma só articulação, geralmente atingindo o dedo grande do pé, inflamação conhecida como podagra. A dor intensa é acompanhada de inflamação, edema e vermelhidão da articulação e, quando atinge outra articulação, pode ser confundida com artrite, tenosinuvite e até celulite. A gota, didacticamente, pode ser classificada em primária e secundária. A primária, mais comum, é de causa desconhecida e talvez ligada a factores genéticos. A gota secundária deve-se a factores predisponentes como:
A gota evolui por três estágios clássicos:
10.2 SINTOMATOLOGIA
A artrite do dedo grande do pé é característica da gota. A artrite inclui muita dor, vermelhidão, calor, edema e dificuldade para caminhar. Pode haver artrite do calcanhar e outras articulações. A imagem radiológica da articulação mostra grande processo inflamatório, edema e podem ocorrer tofos (como na fig. 14). Nos exames laboratoriais, temos hiperuricemia e sinais de inflamação.
FIGURA 15 – Imagem radiológica mostrando um tofo na articulação do 2.º dedo da mão.
A gota aguda é predominantemente uma doença de extremidades, sendo que 75-90% do ataque inicial são monoarticulares e 50% deles são do dedo grande dos pés (podagra). Em ordem de frequência, ocorre no tornozelo, calcanhar, joelho, pulso e dedos. Os ataques posteriores podem ser poliarticulares. O intervalo das crises depende muito do atendimento e do controle dos factores predisponentes.
A lesão característica da gota é o tofo, que é um depósito de cristais de urato monosódico monohidratado (como se observa na fig. 15), dispostos radialmente e rodeados por um processo inflamatório. São encontrados nas articulações, na sinovial das cartilagens, nas epífises dos ossos e nos interstícios do rim.
Os doentes não tratados costumam sofrer novos ataques gotosos, 62% em 1 ano e 80% em 2 anos. A gota crónica ocorre sempre com artrite crónica, que pode ser confundida com artrite reumatóide ou poliartrite inflamatória crónica.
FIGURA 16 – Articulações de ambas as mãos com vários depósitos de cristais de urato de sódio
10.3 Tratamento
O tratamento visa predominantemente à resolução da crise aguda e à normalização dos níveis plasmáticos de ácido úrico. A dor da crise é muito intensa e os anti-inflamatórios não esteróides (AINE’s) são usados com bastante frequência porque diminuem a inflamação. Adiciona-se sempre à colchicina, que é uma droga útil e efectiva na solução das crises gotosas.
Nas crises agudas, quando a colchicina for administrada dentro das primeiras horas, após o início de uma crise, menos de 5% dos doentes não conseguirão obter alívio. A dor, o edema e o eritema regridem dentro de 12 horas e desaparecem dentro de 48 a 72 horas. Para doentes com gota crónica, a colchicina tem actividade comprovada como agente profilático. A medicação profilática também está indicada no início do tratamento prolongado com alopurinol, já que as crises agudas frequentemente são mais comuns durante os primeiros meses do tratamento.
Muito raramente será necessária a intervenção directamente na articulação com punções articulares para aliviar a tensão e deposição de cristais de urato. Esta intervenção de emergência alivia muito os sintomas da podagra. Após os estudos clínicos, podemos usar medicações que diminuam a produção de ácido úrico ou outros que aumentem a excreção do mesmo pela urina, dependendo da origem da doença.
Como a gota é acompanhada de outras manifestações, deve-se estudar e tratar o gotoso multidisciplinarmente, porque este pode-se apresentar com cálculos renais, nefrite intersticial, hipertensão arterial e sintomas cardiovasculares.
O tratamento da gota inclui dieta com menos purinas. Para isso diminui-se a ingestão de proteínas, principalmente as originárias da carne de gado, peixes e aves, frutos do mar, miúdos e grãos. Se o doente é um grande produtor endógeno de ácido úrico, deve-se usar medicamento que bloqueie a produção de ácido úrico pelo fígado (alopurinol) e, se for um mau eliminador renal de ácido úrico, devemos usar medicamentos uricosúricos, que aumentem a excreção renal de ácido úrico.
Na gota, o alopurinol geralmente é utilizado nas formas crónicas graves caracterizadas por uma ou mais das seguintes anormalidades: nefropatia gotosa, depósitos tofáceos, cálculos renais de urato, redução da função renal ou hiperuricemia de difícil controlo com medicamentos uricosúricos.
10.4 INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
Segundo apontamentos leccionados pelo Prof. Madureira no âmbito das afecções metabólicas, na disciplina curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica II (2003), as intervenções de enfermagem relativas à gota incidem sobretudo na sintomatologia e no ensino ao doente/família. Assim:
1. Face à presença de dor, tumefacção e edema articular, há que:
§ Proporcionar repouso no leito;
§ Elevar a articulação comprometida e se necessário imobilizar com tala;
§ Evitar contacto das roupas utilizando gaiolas;
§ Aplicar gelo local (devido ao seu efeito analgésico);
§ Administrar terapêutica específica: colchicina, anti-inflamatórios, analgésicos;
§ Aplicar creme gordo a fim de evitar prurido pela descamação.
2. Na presença de febre nocturna:
§ Retirar roupa da cama durante a noite;
§ Se necessário substituir roupa interior;
§ Oferecer líquidos;
§ Vigiar temperatura e registar.
3. Face ao risco de surgir impotência funcional nas articulações atingidas, há que:
§ Efectuar posicionamentos anatómicos durante crises;
§ Planear programa de cinesiterapia;
§ Realizar mobilizações passivas e activas após crise aguda.
4. Realizar ensino ao doente/família sobre:
§ Alimentação, ingestão de líquidos
§ Medicação (nome, a dose, a frequência, a acção e os efeitos secundários dos fármacos prescritos), fornecendo informação escrita para evitar esquecimentos e confusões;
§ Sintomatologia que evidencia crises.
5. Face à grande possibilidade de surgimento de acessos agudos de gota, formação de tofos ou formação de cálculos (litíase) de uratos nos rins há que direccionar o ensino ao utente, de forma a que no intervalo das crises tenha conhecimentos que o levem a:
§ Ingerir grande quantidade de líquidos, de forma a facilitar a eliminação do ácido úrico;
§ Dieta rica em hidratos de carbono e pobre em gorduras e purinas:
o Eliminar da alimentação: sardinhas, anchovas, fígado, rins, moelas, miolos, chocolate, animais de caça, vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas;
o Limitar: carne nova, peixe, marisco, ervilhas, etc.
§ Evitar aumento de peso ou se necessário perder peso de forma gradual, para diminuir a sobrecarga a nível articular;
§ Evitar traumatismos ou mesmo esforço físico violento;
§ Cumprir esquema prescrito;
§ Se o doente frequentar centros termais, deve optar por águas alcalinas.
11. CONCLUSÃO
Na realização deste trabalho procurou-se elaborar um resumo daquilo que, na nossa opinião, seriam os aspectos principais sobre o envelhecimento, no que diz respeito às alterações fisiológicas normais do ponto de vista músculo-esquelético no idoso e as suas intervenções preventivas, bem como às patologias músculo-esqueléticas mais frequentes e as respectivas intervenções de enfermagem.
Na sua execução tentou-se, ao destacar os elementos que se consideram essenciais, clarificar termos e conceitos para uma melhor compreensão dos mesmos, como por exemplo o termo envelhecimento.
A idade traz mudanças no nosso corpo, algumas são óbvias, outras, por sua vez, são mais subtis. Muitas pessoas envelhecem confortavelmente e permanecem activas, alertas e mesmo vibrantes na terceira idade. Para estas pessoas a idade fisiológica pode ser mais jovem do que a idade cronológica. Outras, no entanto, experimentam os efeitos de patologias do sistema músculo-esquelético, o que, gradualmente vai limitar as suas habilidades no desempenho pleno das suas actividades.
Saber o que esperar e tomar medidas para contrabalançar os efeitos da idade, pode ajudar a manter o espírito jovem e uma vida independente, entre os quais salientamos: uma dieta saudável, exercícios regulares e uma atitude positiva frente à vida pode atrasar a instalação e a progressão de muitas mudanças provocadas pela idade.
Apesar de todas as alterações que acarreta, a velhice não deve ser encarada como uma doença, mas sim como uma fase do ciclo da vida que é.
11. BIBLIOGRAFIA
ALBERNI, Juan [et al.] – Guia médico : conselhos práticos. Salvat Editora do Brasil, L.da, Vol. 2/9, 1984.
Apontamentos leccionados pelo Prof. Madureira no âmbito das afecções metabólicas, na disciplina curricular de Enfermagem Médico-Cirúrgica II, 2003.
BABEAU, P. [et al.] – Enciclopédia salvat da saúde . Medicina e Saúde Salvat Editora do Brasil, L.da., Vol 8/10, 1984.
BERGER, Louise ; MAILLOUX-POIRIER, Danielle – Pessoas idosas : uma abordagem global : processo de enfermagem por necessidades. Ed. ver. e corrigida. Lisboa : Lusodidacta, 1995.
BRANCO , Jaime C. – Arterite de células gigantes e polimialgia reumática. Geriatria. – Lisboa. – vol II, nº19 (Novembro 1989), p.21-34.
CARVALHO, Fernando Manuel Monteiro de – Pessoas idosas com fracturas do colo do fémur: cuidados de enfermagem. Servir. Vol. 51, nº 1 (Janeiro/Fevereiro 2003), p.16/22
DURANTE MOLINA, Pilar ; PEDRO TARRÉS, Pilar – Terapia ocupacional en geriatria : princípios y prática. Barcelona [etc.] : Masson, cop. 1998.
ELLIOT, Margaret – A enfermagem das doenças reumáticas. Lisboa : Europa-América, 1979.
FREITAS, Elisabete Viana de [et al.] – Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, cop. 2002.
GOMES, Frederico Alberto de Azevedo ; FERREIRA, Paulo César Affonso – Manual de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro : EBM, 1985.
GRONDIN; Louise [et al.] – Planificação dos cuidados de enfermagem. Lisboa . Instituto Piaget.
HOPPENFELD, Stanley, ed. lit. ; MURTHY, Vasantha L., ed. lit. – Tratamento e reabilitação de fracturas. 1.ª ed. São Paulo : Manole, 2001.
INÊS, Luís Sousa – Polimialgia reumática. Mundo Médico. Ano 5, nº 27 (Março/Abril 2003), p.29
LAVERY, Sheila [et al.] – Enciclopédia das medicinas complementares . Público, 1996.
MEDIAVILLA, Maria Jesús – Espondilite anquilosante. Pathos. – Lisboa. n.º3 (Março 1998), p. 33-51.
NETTO, Matheus Papaléo – Gerontologia : velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo [etc.] : Atheneu, cop. 2000.
PETROIANU, Andy ; PIMENTA, Luiz Gonzaga – Clínica e cirurgia geriátrica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, cop. 1999.
QUEVAUVILLIERS, Jacques ; PERLEMUTER, Léon – Dicionário de medicina para enfermagem : enciclopédia prática. Lisboa : Climepsi, 2001.
RADI, Ivan – Os reumatismos. Colecção Saúde. Publicações Europa-América.
RAIMUNDO, Rolando – Osteoartrose aparece geralmente aos 50 anos. Medicina e Saúde. – Lisboa. Ano 3, n.º 29 (Março 2000), p. 26-27.
ROBERT, Ladislas – O envelhecimento. Lisboa : Instituto Piaget, D. L. 1995.
ROGERS-SEIDL, Francês F. – Planes de cuidados en enfermeria geriátrica. Barcelona : Masson, cop. 1995.
SCHNEIDER, J. – Manual de geriatria. São Paulo : Roca, 1995.
TUREK, Samuel L. – Ortopedia : princípios e sua aplicação. São Paulo : Manole – Vol. 3 , 1991.
Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina – A gota, disponível no dia 19/03/04 em http://www.virtual.epm.br/material/tis/curr-bio/trab2000/gota/gotahome/gotatit.htm
Sinónimos e nomes populares : osteoartrose, doença articular degenerativa, disponível no dia 19/03/04 em http://www. abcdasaude.com.br/artigo.php?310