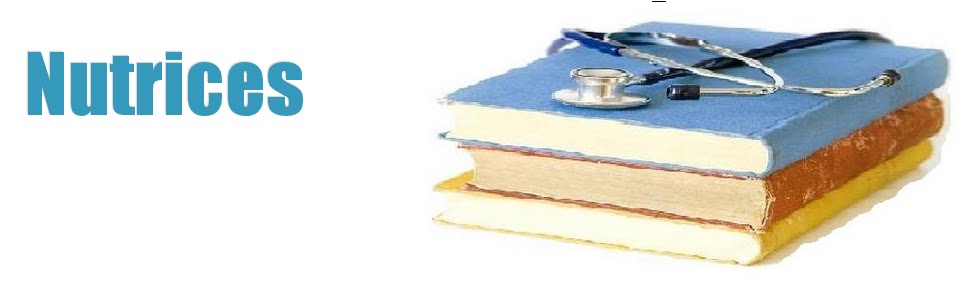0. INTRODUÇÃO
No âmbito da unidade curricular Enfermagem em Saúde Infantil e Pediátrica, do 3º Ano, 2º Semestre da Licenciatura em Enfermagem da ERISA, foi-nos proposta a elaboração de um trabalho de grupo sobre os Cuidados Centrados na Família à Criança com Doença Gastrointestinal.
Perante as diversas doenças Gastrointestinais, decidimos abordar o tema da Apendicite Aguda por ser a causa mais comum de intervenção cirúrgica de emergência na Criança e pela mais-valia que representa a sua abordagem como preparação para o futuro estágio.
Os objectivos gerais são abordar as patologias gastrointestinais mais comuns, abordar a Apendicite Aguda e elaborar um Plano de Cuidados adequado à Criança com Apendicite Aguda e sua Família. Os objectivos específicos são descrever sucintamente as patologias gastrointestinais mais comuns, descrever a etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, exames complementares de diagnóstico, terapêutica, prognóstico, tratamento da Apendicite Aguda e intervenções de enfermagem no pré e pós-operatório.
A metodologia adoptada para a sua elaboração foi a seguinte: Orientações do Guia de Elaboração e Apresentação de Trabalhos Escritos da ERISA, pesquisa bibliográfica e elaboração de um Plano de Cuidados, que foi realizado de acordo com a CIPE Versão 1.0.
Este trabalho está dividido em três partes. A primeira parte corresponde à fundamentação teórica da Apendicite Aguda. A segunda parte deste trabalho corresponde ao Plano de Cuidados elaborado segundo a CIPE Versão 1.0, adequado à Criança com Apendicite Aguda e sua Família. E por fim, a terceira parte deste trabalho corresponde à Reflexão Final, a ponderação sobre os objectivos e contributos da realização deste trabalho para o nosso processo de aprendizagem e dificuldades sentidas na realização do mesmo.
1. PATOLOGIAS GASTROINTESTINAIS MAIS FREQUENTES
O tracto gastrointestinal é vasto, e na Criança, principalmente no Lactente, é muito sensível.
São diversas as patologias que afectam o tracto gastrointestinal, sendo as mais comuns as seguintes:
Desidratação – caracteriza-se por uma alteração dos níveis de líquidos corporais, em que o débito total de líquidos excede a ingestão total de líquidos (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 840).
Diarreia – é definida como um aumento da frequência e alteração da consistência das fezes (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 843).
 Lábio Leporino e Fenda Palatina – são malformações ao nível dos lábios e cavidade oral (figura 1), que ocorrem durante o período de desenvolvimento embrionário, podendo aparecer isoladas mas, mais frequentemente, em conjunto (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 871).
Lábio Leporino e Fenda Palatina – são malformações ao nível dos lábios e cavidade oral (figura 1), que ocorrem durante o período de desenvolvimento embrionário, podendo aparecer isoladas mas, mais frequentemente, em conjunto (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 871).Gastroenterite – consiste numa infecção do trato gastrointestinal que afecta o estômago e os intestinos, que provoca diarreia aguda, vómitos e desidratação (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 843 e 844).
Atresia do Esófago – apesar de ser uma malformação congénita rara, é muito comum nos lactentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais. Consiste num desenvolvimento incompleto do esófago, em que este não se conecta ao estômago porque termina em fundo estreito ou fechado desidratação (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 877).
 Gastrosquisis – consiste numa malformação ao nível da parede abdominal, que leva os intestinos e outros orgãos a desenvolverem-se fora da cavidade abdominal (TAMEZ e SILVA, 2006: 136).
Gastrosquisis – consiste numa malformação ao nível da parede abdominal, que leva os intestinos e outros orgãos a desenvolverem-se fora da cavidade abdominal (TAMEZ e SILVA, 2006: 136).
|
A apendicite consiste na inflamação do apêndice vermiforme (figura 1) e é considerada a causa mais comum de cirurgia abdominal de emergência na Criança (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 857)
2.1. Etiologia
No geral, a apendicite aguda deve-se à obstrução do lúmen do apêndice vermiforme por um ou mais fecalomas (Hockenberry, Wilson e Inkelstein, 2006: 857). Os mesmos autores referem que pode ainda ser consequência da inflamação do tecido linfóide, frequente após uma infecção viral, ou da obstrução por um parasita como Enterobius vermiculares (figura 2).
2.2. Anatomia e Fisiopatologia
SEELEY, Stephens e Tate (2001: 843) afirmam que o apêndice vermiforme localiza-se anatomicamente na extremidade do cego (porção proximal do intestino grosso). Tem uma forma sacular com cerca de 9 cm (forma de verme), rodeado por diversos nódulos linfáticos. Não se conhecem funções desta estrutura anatómica.
Segundo Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006: 857), quando há uma obstrução aguda, a drenagem das secreções mucosas é interrompida, aumentando a pressão no interior do lúmen do apêndice. Isto resulta na compressão dos vasos sanguíneos, levando à isquémia, ulceração do revestimento epitelial, necrose e, por fim, ruptura, com contaminação fecal e bacteriana da cavidade peritoneal (peritonite).
2.3. Manifestações Clínicas
A dor começa, geralmente, centralizada no quadrante inferior direito do abdómen. Frequentemente, há perda de apetite associada. A febre está diversas vezes presente, assim como, náuseas, vómitos e diarreia. Outras das manifestações clínicas da apendicite são a rigidez abdominal, ausência ou diminuição de sons intestinas, taquicardia, respiração rápida e superficial, palidez, letargia, irritabilidade e postura encurvada.
2.4. Diagnóstico e Exames Complementares de Diagnóstico
O diagnóstico duma apendicite nem sempre é simples, pois existem várias infecções que têm características semelhantes à apendicite. No entanto, um diagnóstico precoce evita gangrena ou perfuração. A Apendicite Aguda com poucos sintomas é mais frequente nos idosos ou nas crianças pequenas.
Inicialmente, o diagnóstico baseia-se na História da Criança e no Exame Físico, sendo o abdómen o alvo inicial do mesmo. Geralmente existe ausência de ruídos peristálticos e uma sensibilidade à palpação (dor periumbilical, dor intensa na zona entre a crista ilíaca antero – superior e o umbigo). Após exame físico, recorre-se aos seguintes Exames Complementares de Diagnóstico:
ü Hemograma.
ü Análises laboratoriais à urina – A análise da urina pode revelar alterações, devido ao contacto do apêndice inflamado com o uréter e a bexiga e despista também infecções urinárias;
ü Leucograma – Poderá evidenciar leucocitose (um valor de leucócitos maior do que 10.000/mm3) associado a uma temperatura superior a 37.7º C, o que pode determinar uma Apendicite Aguda;
ü Estudo da Proteína C Reactiva (PCR) – Esta proteína aumenta após 12 horas do inicio da infecção (note-se que a PCR é apenas um indicador de infecção, não sendo por isso especifico para a Apendicite Aguda);
ü Ecografia Abdominal – quando persistem dúvidas no diagnóstico, permite visualizar o edema do apêndice;
ü TAC – Permite visualizar a parede do apêndice edemaciada.
Os resultados destes dois últimos exames, como a visualização do apêndice inflamado e a presença de líquido ao seu redor, são importantes sinais para o diagnóstico correcto. A sua implementação é limitada nas crianças, como prevenção na exposição de radiações.
2.5. Tratamento
Segundo Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006: 857), o tratamento no caso de Apendicite Aguda é a intervenção cirúrgica, uma apendicectomia, que consiste na remoção do apêndice vermiforme inflamado (figura 3).
O esquema terapêutico adoptado no pré-operatório é geralmente a soroterapia, como Soro Fisiológico 0,9% ou Dextrose 0,5% em Soro Fisiológico 0,9%, analgesia, como Paracetamol ou Ibuprofeno, antibioterapia, como Cefoxitina, e terapêutica ansiolítica, como o Midazolam.
No pós-operatório a terapêutica é, geralmente, a mesma mas pode haver alteração da analgesia, para um analgésico mais forte, e da antibioterapia, como Ceftriaxone e Metronidazol.
2.6 Prognóstico
As complicações associadas a apendicectomia são escassas. A taxa mortalidade para a apendicite perfurada melhorou para 1% desde o último século. A identificação da patologia o mais precoce possível é importante para a prevenção de complicações. Se não tratada, morrem 99,9% dos doentes.
2.7. Cuidados Centrados na Família
Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006: 10) afirmam que a filosofia dos Cuidados Centrados na Família vê a Criança e a Família como sendo indivisíveis. O seu objectivo é manter a união e os laços familiares com a criança, de forma a facilitar o período de hospitalização e a promover o bem-estar familiar.
Os mesmos autores defendem que o Enfermeiro tem um papel fulcral na manutenção da relação familiar, devendo respeitar, apoiar, orientar, encorajar e aumentar a força da competência familiar.
Neste sentido, a abordagem da Criança deve contemplar sempre a sua Família, de forma a facilitar os cuidados de enfermagem susceptíveis de provocar dor ou desconforto. Assim, o Enfermeiro deve desenvolver competências e estratégias, recorrendo à Família para determinar a melhor forma de abordar a Criança, e assim praticar cuidados atraumáticos.
2.8. Cuidados de Enfermagem no Pré-Operatório
No pré-operatório é essencial que o Enfermeiro prepare a Criança e a Família para a intervenção cirúrgica, atendendo às necessidades psicológicas e físicas que esta impõe. Neste sentido, Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006: 716 a 722) referem que devem ser elaboradas e implementadas as seguintes intervenções de enfermagem:
¶ A preparação psicológica pode aplicar muitas das técnicas utilizadas na preparação da Criança na hospitalização, entre elas: filmes, brincadeiras, e passeios. São sempre estratégias para uma eficiente preparação da Criança e uma maior familiaridade da mesma nos procedimentos médicos, ajudando a diminuir a ansiedade;
¶ Permitir que a Criança veja e toque em materiais com os quais se vai deparar na Cirurgia para se familiarizar com eles, ajudando também a diminuir ansiedade;
¶ É a Família a responsável pela Criança, pelo que tem a função de assinar o Consentimento Informado e Esclarecido e outros papéis necessários. O Enfermeiro deve assegurar que a Família tem o conhecimento necessário para o fazer, providenciando pequenos encontros para esclarecer dúvidas;
¶ Confirmar no Processo da Criança: o procedimento cirúrgico, os exames complementares de diagnóstico necessários, o registo de alergias e antecedentes pessoais e terapêutica pré-operatória e/ou de ambulatório;
¶ Devem ser prestados os cuidados de higiene à Criança necessários e esta deve ficar preparada apropriadamente para a cirurgia. Deve também ser medida e pesada (e registado no processo), e devem ser tiradas todas as próteses, acessórios e maquilhagem que esta possa ter;
¶ Uma preocupação importante é a restrição de alimentos e líquidos antes da cirurgia, para prevenir a aspiração durante a anestesia. Antes de iniciar a restrição hídrica a Criança deve ser estimulada a beber de modo a evitar a desidratação e minimizar a sede. Durante a restrição devem ser vigiados os sinais de desidratação, e fazer o ensino dos mesmos à Criança e à Família;
¶ A presença da Família no momento de indução anestésica é importante e traz benefícios, como a diminuição da necessidade de pré-medicação e ajuda a evitar uma separação preocupante da Criança da Família e vice-versa. O desejo que as Crianças demonstram em ter os pais do seu lado durante o procedimento cirúrgico necessita de ensinos personalizados aos pais acerca do que podem esperar. Quando os pais decidem não participar, é importante que estes deixem um objecto de valor sentimental para a Criança e que, logo após a cirurgia, esta vá para junto deles;
¶ Durante a cirurgia, os pais devem ter um lugar específico onde possam esperar pela Criança e onde sejam informados de todo o processo cirúrgico e possíveis complicações;
¶ Antes da ida para o bloco operatório, deve confirmar-se que a Criança tem a pulseira de identificação e que esta contém os dados correctos.
¶ Preparar a Criança e a Família para o “cenário” do pós-operatório, fazendo os ensinos adequados.
2.9. Cuidados de Enfermagem no Pós-Operatório
As intervenções de enfermagem devem, segundo Hockenberry, Wilson e Inkelstein (2006: 722, 723), ser planeadas e implementadas de forma a ajudar a Criança na recuperação cirúrgica, evitando complicações e assegurando o seu conforto e o da Família. Os pontos que se seguem, dizem respeito às principais intervenções de enfermagem perante uma Criança no pós-operatório de uma apendicectomia e sua Família.
¶ Preparação da unidade para o acolhimento da criança
ü Aquecer a cama e/ou berço
ü Preparar e testar o equipamento, para despiste de avarias, nomeadamente da máquina de soro, bombas infusoras, monitores, sondas de aspiração, oxigenoterapia, entre outros;
¶ Monitorização dos sinais vitais, valorizando sempre a dor como 5º sinal vital;
¶ Observar estado do penso operatório (delimitar com caneta em caso de repasse e caracterizá-lo nos registos; se descolado, reforçar o penso e não removê-lo)
¶ Estar alerta para situações de hemorragia, com especial atenção aos locais que não apresentem penso;
¶ Observar coloração de pele e mucosas;
¶ Avaliar estado de consciência e actividade psicomotora;
¶ Vigiar sinais de choque, distensão abdominal e infecção;
¶ Avaliar presença de globo vesical, após desalgaliação;
¶ Observar sinais de desidratação
¶ Notificar ao médico para quaisquer irregularidades na condição clínica da criança
3. PLANO DE CUIDADOS: CRIANÇA / FAMÍLIA
3.1. Pré-Operatório
 | |
 |
Ø Determinar Stress na Criança e na Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e a Família;
Ø Escutar a Criança e a Família;
Ø Facilitar a Adaptação da Criança e da Família à Instituição de Saúde;
Ø Promover [ambiente calmo];
Ø Promover Processo Familiar [positivo];
Ø Promover Coping da Criança e da Família;
Ø Ajustar [horários cuidados de enfermagem];
Ø Promover Bem-Estar Psicológico da Criança e da Família;
Ø Incentivar [Pensamento Positivo];
Ø Envolver Família;
Ø Incentivar Família a Confortar a Criança;
Ø Permitir Brinquedo [significativo];
Ø Divertir a Criança;
Ø Promover o Repouso da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir/Treinar a Criança e a Família sobre Técnica de Relaxamento.
 | |
 |
Ø Determinar Medo da Criança e da Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e a Família;
Ø Escutar a Criança e a Família;
Ø Facilitar a Adaptação da Criança e da Família à Instituição de Saúde;
Ø Tranquilizar a Criança e a Família;
Ø Promover [ambiente calmo];
Ø Promover Processo Familiar [positivo];
Ø Promover Coping da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir/Treinar a Criança e a Família sobre Técnica de Relaxamento;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre o Processo Patológico;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Exame [exames complementares de diagnóstico];
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Cirurgia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Bloco Operatório;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Anestesia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Acesso Intravenoso;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Terapia Intravenosa;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança sobre Máscara;
Ø Permitir [tocar nos materiais];
Ø Envolver a Família.
 | |
 |
Ø Monitorizar Dor da Criança [escala da dor adequada à idade e grau de desenvolvimento];
Ø Entrevistar a Família sobre Dor na Criança no Domicílio;
Ø Entrevistar a Família sobre Controlo da Dor na Criança no Domicílio;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre o Controlo da Dor;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Analgésico;
Ø Gerir Analgésico à Criança;
Ø Incentivar Criança a Comunicar Dor;
Ø Promover o Conforto da Criança;
Ø Envolver a Criança [nos cuidados];
Ø Ensinar/Educar/Instruir/Treinar a Criança e Família sobre Técnica de Relaxamento;
Ø Promover a Adesão ao Regime Medicamentoso;
 | |
![clip_image024[1] clip_image024[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-FqcOMz37fx6gNheEmPYa4-TmFty3zp1BYW4qz_zNC_DbRutQBEXHhcc_0ueDWAwm_93N-jpK6MZGLGMErvDEi_U0e_8WoS3cgZyujfVsHalNChl5ylkmFG60khB7N_H4EOa3v50hhG_b/?imgmax=800) |
Ø Determinar Conhecimento Sobre a Saúde da Criança e da Família;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender da Criança e da Família;
Ø Utilizar [palavras neutras] com a Criança e com a Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre o Processo Patológico;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Exame [exames complementares de diagnóstico];
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Cirurgia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir sobre Tratamento e [meios de diagnóstico] a Criança / Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Cirurgia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Bloco Operatório;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Anestesia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Acesso Intravenoso;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Terapia Intravenosa;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança sobre Máscara;
Ø Validar Conhecimento Sobre a Saúde da Criança e da \;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
 | |
![clip_image022[1] clip_image022[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDwLfAfCx1BdpZRRLAaS9t_ABiFBA-8EKL-sOpqjcaWeoYVi63wCwiD7K2Jxk5cKKDQB4NBz2Z00_y7oit1YetADzRyy-uV7tqjPsgLwn8WPhaOybtrQv-HUrA8m99hYoHtfALxFavNa7S/?imgmax=800) |
Ø Determinar Atitude Face à Cirurgia da Criança e da Família;
Ø Determinar Conhecimento da Criança e da Família sobre Cirurgia;
Ø Tranquilizar a Criança e a Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre a Cirurgia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Bloco Operatório;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Anestesia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Acesso Intravenoso;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Terapia Intravenosa;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança sobre Máscara;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image022[2] clip_image022[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ZdCs_Lekyd6S8CRhiLLAd0ZDd5cd56jth-UMlYn8gCjBZOxwlcMyq6iPOM9tC7y43s8uaVZ9S9l3YJBQcs6TOEEebSMG-wNpOAwgKx3FRbaZnpgTedfodGekfkHtNl06qu8ow6fVRD1J/?imgmax=800) |
Ø Determinar Conhecimento sobre a Cirurgia da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Comer e Beber Interrompido;
Ø Avisar a Criança e a Família sobre Complicação;
Ø Remover Alimento e Bebida [que estejam ao alcance da criança];
Ø Supervisionar Comer e Beber Interrompido.
 | |
 |
Ø Monitorizar Desidratação na Criança [sinais];
Ø Determinar Conhecimento da Criança e da Família sobre Desidratação;
Ø Ensinar / Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Desidratação;
Ø Gerir Medicação.
 | |
 |
Ø Monitorizar Temperatura Corporal na Criança;
Ø Monitorizar Febre na Criança [sinais];
Ø Determinar Conhecimento da Criança e da Família sobre Febre;
Ø Ensinar/ Educar/ Instruir a Criança e a Família sobre Febre;
Ø Gerir Medicação.
 | |
![clip_image024[2] clip_image024[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWh1ovt7Ze576uH4pGwCV5YMFskqXnBQgExYReylJlsXObyTcYJZ2Pns7sxbji6iiVGdIUGw4vpsoUpacXtpJuTMP3lVVJ8EnHxHUmdaiJQmo9IVCZmqPXAiCZ0E2xPaEHShE2WTbS97aA/?imgmax=800) |
Ø Determinar Coping da Criança e da Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e a Família;
Ø Escutar a Criança e a Família;
Ø Facilitar a Adaptação da Criança e da Família à Instituição de Saúde;
Ø Tranquilizar a Criança e a Família;
Ø Promover [ambiente calmo];
Ø Promover Processo Familiar [positivo];
Ø Permitir Brinquedo da Criança;
Ø Divertir a Criança;
Ø Empregar [técnicas de distracção];
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre o Processo Patológico;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Exame [exames complementares de diagnóstico];
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Cirurgia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Bloco Operatório;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Anestesia;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e Família sobre Acesso Intravenoso;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Terapia Intravenosa;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança sobre Máscara;
Ø Envolver a Família.
 | |
 |
Ø Determinar Barreira à Comunicação na Criança e na Família;
Ø Determinar Capacidade para Comunicar da Criança e da Família;
Ø Escutar a Criança e a Família;
Ø Conversar com a Criança e com a Família;
Ø Estabelecer uma Ligação com Criança e Família;
Ø Envolver Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image031[1] clip_image031[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4K25eHXwln6z9gF5KtRlX_zUxHxdosDTarEzwAVaoo2asmPdOkDKsOniG4wvg3bWdZNG3kfF9NnBzuCuG4BmgM2azzHbcLyOWG0o-FI7VROJtzCmKGlrY4xYOOmXEDrwWfz_XK-g4WB9i/?imgmax=800) |
Ø Determinar [Risco] Chorar na Criança;
Ø Entrevistar a Família sobre o Chorar da Criança no Domicílio;
Ø Escutar a Criança;
Ø Conversa [suavemente] com a Criança;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e com a Família;
Ø Envolver a Família;
Ø Promover a Vinculação;
Ø Permitir Brinquedo [significativo];
Ø Incentivar Família a Confortar a Criança;
Ø Confortar a Criança;
Ø Incentivar a Família a Abraçar a Criança.
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image031[2] clip_image031[2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYe4V9hE8JrB-HatOL-B8Vmt75qG4NWzC5tYo21sDgL8FZ8QmFCRN5Cg9ixurwLldUsg-mFi3ChygS8kZ4hpb9q2YrLXDIRK2_2HY9IkKCHWiUyGwjqiPQXSknn8YHqqyBRinX0CqeqKYF/?imgmax=800) |
Ø Identificar o Padrão de Sono da Criança;
Ø Entrevistar a Família sobre o Padrão de Sono da Criança no Domicílio [e estratégias adjuvantes];
Ø Ensinar/Educar/Instruir/Treinar a Criança e a Família sobre a Técnica de Relaxamento [antes de dormir, como copo de leite morno];
Ø Promover o Conforto da Criança [diminuir a intensidade da luz do quarto, não interromper a Criança durante o seu período de sono, apenas em casos de urgência e de necessidade extrema];
Ø Tranquilizar a Criança;
Ø Permitir Brinquedo, Roupa [pijama];
Ø Posicionar a Criança;
Ø Envolver a Família;
Ø Permitir a Família Presente.
Ø Gerir Medicação.
 | |
![clip_image022[3] clip_image022[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwNfnalDR7kPXDYF7XBlwTiHzki0O5vSeeQTvVLfV_k0Pw74iXsKoTW47QG9dItEO3yReEotceiprUrAxOkBEJjkekRKR7kA7O3CMGhG0oUJsAh_5zUty9usUNrMjeo08JB-MbLxuyedZu/?imgmax=800) |
Ø Determinar Crise Familiar;
Ø Determinar Stress da Criança e da Família;
Ø Escutar Criança e Família;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e com a Família;
Ø Incentivar a Participação da Família;
Ø Promover a Vinculação;
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image031[3] clip_image031[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-o5vMoCJbfRtPPgkekLsj1OMDhyphenhyphen0v2n9-Ol8cGCsTlZHUsEy4AyTKk2GuL7cuy_63ii_V-VPbZ8gLVbAeUN1QoAVZWF6TsqNM-zTOTOJCfo3nbpxlTz5chrc7PutrogVYm8Bcqk673-us/?imgmax=800) |
Ø Determinar o Conhecimento da Criança e da Família sobre Medicação;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Medicação e Efeito Colateral;
Ø Incentivar a Participação da Família;
Ø Gerir Medicação;
Ø Apreciar Adesão à Terapêutica da Criança.
3.2. Pós-Operatório
No pós-operatório os diagnósticos de Stress Por Mudança de Ambiente Actual, Medo Actual, Dor Actual, Risco de Desidratação, o Risco de Coping Ineficaz, o Risco de Barreira à Comunicação, o Risco de Chorar, o Risco de Padrão de Sono [Comprometido], o Risco de Crise Familiar e o Risco de Não Adesão À Terapêutica mantêm-se. As intervenções são essencialmente as mesmas no pós-operatório, pelo que não consideramos necessário repeti-las.
 | |
 |
Ø Determinar a Imagem Corporal da Criança;
Ø Escutar a Criança;
Ø Estabelecer Relação Empática com a Criança;
Ø Explorar [Meios de Valorização Pessoa] da Criança;
Ø Conversar com a Criança sobre [implicações] da Imagem Corporal;
Ø Elogiar a Criança;
Ø Conversar com a Criança e Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade;
Ø Solicitar apoio da Família na Adaptação;
Ø Monitorizar a Depressão na Criança;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Família sobre a Depressão;
Ø Promover Equilíbrio do Status Psicológico;
 | |
![clip_image022[4] clip_image022[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvarV0aY1p5HZseISKY33h8WuIXesV8E6b5pdShuiYQ2DBGmSAJYNmrcGMtR8dWLSG2x7d6I1-HFu6dOct7btEBQrM6ozXbzSVkPlKW3hB4GUH279qFymTfi3PapzK45juwFuljEqgkmPQ/?imgmax=800) |
Ø Determinar a Capacidade de Autocuidado da Criança;
Ø Promover Autonomia da Criança;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança sobre o Cuidar da Higiene;
Ø Desenvolver na Criança a Capacidade Para Cuidar da Higiene Pessoal;
Ø Desenvolver na Criança a Capacidade Para se Alimentar;
Ø Desenvolver na Criança a Capacidade Para se Arranjar;
Ø Desenvolver na Criança a Capacidade Para se Transferir;
Ø Desenvolver na Criança a Capacidade Para se Vestir;
Ø Solicitar a Participação da Família;
Ø Providenciar [objectos pessoais necessários] ao Auto-Cuidado (estojo de toilette, desodorizante, hidratante),
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
 |
Ø Determinar Conhecimento sobre a Comer e Beber [no pós-operatório] da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre o Comer e Beber [no pós-operatório];
Ø Avisar a Criança e a Família sobre Complicação;
Ø Supervisionar Comer e Beber.
 | |
 |
Ø Observar o Penso da Ferida frequentemente;
Ø Monitorizar [sinais vitais];
Ø Reforçar o Penso da Ferida [se repassado ou descolado];
Ø Executar o Tratamento à Ferida Cirúrgica [quando prescrito];
Ø Determinar o Conhecimento sobre Complicação da Ferida Cirúrgica da Criança e da Família;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir sobre Complicação da Ferida Cirúrgica a Criança e a Família;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image022[5] clip_image022[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtGXLZTUTTthhBtXpgB1QEUGs4mnoG0GKiAKs6DVaY11llBTay0SI9W40xPzjvDDgPlC1u8aifP6ZWRMQghDQWidc7ZVK6hvcbxoJ1AOqs_7qnX36fd9QKQiEBKjtthngXzDlroH_AhaLB/?imgmax=800) |
Ø Determinar o Conhecimento Sobre Cicatrização de Ferida da Criança e da Família;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre a Cicatrização da Ferida;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
 |
Ø Determinar o Conhecimento Sobre Cuidado à Ferida da Criança e da Família;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender da Criança e da Família;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Cuidado à Ferida;
Ø Demonstrar o Cuidado à Ferida à Criança e Família [se possível];
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image024[3] clip_image024[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRx1xb814y6lgmjEtFJgQ2j3fInsecg1aVPjqvceVCxu-G0rCNoAhdVr61Ka_8k9enseA5iIzzKsKtkA3HPGI-FOKnMZrO39K4c3GcEWWR3PmMPrOq34csjBuUlIs32T8amZK2OO0RmXed/?imgmax=800) |
Ø Monitorizar Hemorragia [sinais] na Criança;
Ø Monitorizar [sinais vitais] da Criança;
Ø Monitorizar a Pele e as Mucosas da Criança;
Ø Monitorizar o Estado Neurológico da Criança;
Ø Monitorizar o Penso da Ferida da Criança;
Ø Determinar o Conhecimento da Criança e da Família sobre Hemorragia;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender da Criança e da Família
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Hemorragia;
Ø Gerir Medicação;
 | |
![clip_image043[1] clip_image043[1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPHT0HZTLkEBt-z_RcOdk1qoEUfc3TVd2M-WqxgF2WCMHtflPaG4Co4w107SgEAMykjZlzRlvvuOP5nSyYxM0HFrQmnpELy4YM00llIr4YMzCiB3z4Ig7tIvFpiUY2mkT1LDsd7TGDkCot/?imgmax=800) |
Ø Monitorizar [Sinais Vitais];
Ø Lavar as Mãos;
Ø Tratar com Técnica Asséptica;
Ø Monitorizar Sinal de Infecção [no local de inserção] do Cateter Venoso na Criança;
Ø Manter [permeável] o Cateter Venoso na Criança;
Ø Trocar o Penso do Cateter Venoso [quando perder integridade];
Ø Monitorizar Sinal de Infecção na Ferida Cirúrgica;
Ø Trocar o Penso da Ferida [segundo indicação médica ou quando perder integridade].
Ø Desinfectar Ferida Cirúrgica;
Ø Determinar o Conhecimento da Criança e da Família sobre Infecção;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Infecção e Complicação da Infecção;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
 |
Ø Determinar o Padrão de Eliminação Intestinal da Criança;
Ø Entrevistar a Criança e a Família sobre o Padrão de Eliminação Intestinal da Criança no Domicílio;
Ø Monitorizar Obstipação na Criança;
Ø Monitorizar Fezes;
Ø Monitorizar Ruídos Intestinais;
Ø Massajar Abdómen [movimentos circulares e suaves];
Ø Solicitar a Participação da Família;
Ø Incentivar a Criança a Andar;
Ø Adequar a Alimentação da Criança (exemplo: fibras e ingestão de líquidos moderada);
Ø Determinar o Conhecimento da Criança e da Família sobre Obstipação;
Ø Apreciar Disponibilidade para Aprender;
Ø Ensinar/Educar/Instruir a Criança e a Família sobre Obstipação;
Ø Incentivar a Criança e a Família [a colocar dúvidas];
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image031[4] clip_image031[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPHHJoxy4Ku3EEEA8IxuA7RirXyqUrBgAvB8b68N-c64YfAe36dUYeIoUIs-PHyLqGlAg-nF1pmNxeqM1w_5rrYEb5lQip_QzfI7wOV4aqVBO5hrEdGbCB91ihELy7FDTIZGE-87D4iktf/?imgmax=800) |
Ø Determinar Depressão na Criança e na Família;
Ø Determinar Capacidade para Comunicar da Criança e da Família;
Ø Escutar a Criança e a Família;
Ø Conversar com a Criança e com a Família;
Ø Estabelecer uma Ligação com Criança e Família;
Ø Envolver Família;
Ø Demonstrar Disponibilidade.
 | |
![clip_image031[5] clip_image031[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9kJucy4XliZlUDzOcLAD-UF5hwfdtdnVLO7nF0TyVrPg2YL3RVxb8RX5Gpg8n_u18VL8nOjyqWJt7_JRpltUzXTQDRkREbM9igMWs8IBjnSOYxM0Sd22XIunevJpUPJO_4rJMOYRj00Ij/?imgmax=800) |
Ø Determinar Exaustão na Criança e na Família;
Ø Escutar a Criança e a Família
Ø Conversar com a Criança e a Família;
Ø Estabelecer uma Ligação com a Criança e a Família;
Ø Providenciar [local para repouso] da Família;
Ø Incentivar a Criança e a Família a Repousar;
Ø Demonstrar Disponibilidade.
4. CONCLUSÃO
O trato gastrointestinal é vasto, o que leva a que o número de patologias que o afectam o seja também. A Apendicite Aguda é uma das patologias que o podem afectar e das mais comuns na Criança.
Crê-mos que, ao longo deste trabalho, alcança-mos com sucesso todos os objectivos gerais e específicos que estabelece-mos na introdução do mesmo. A elaboração inicial dos objectivos facilitou em muito a realização do trabalho, mantendo-nos no caminho certo. O grande obstáculo foi a abordagem da Criança e da Família, e elaborar um Plano Cuidados centrado em ambos.
Com a realização deste trabalho podemos concluir que a abordagem perante a Criança deve ser cuidadosa, nunca esquecendo a sua Família. O que poderá parecer simples, facilmente se transformará numa situação mais complexa, tanto pela idade e desenvolvimento da Criança, como pela sua Família. Cabe ao Enfermeiro abordá-los de forma adequada, estabelecendo um Plano de Cuidados eficaz.
A hospitalização da Criança é uma experiência assoladora, tanto para ela como para a Família. O Enfermeiro tem por dever facilitar a compreensão do processo patológico, do internamento, de forma a suavizar esta experiência.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
· Conselho Internacional de Enfermeiros, CIPE Versão 1.0 – Classificação para a Prática de Enfermagem, Genebra, 2005, ISBN: 92-95040-36-8;
- HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D.; WINKELSTEIN, M.L., Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. ISBN: 978-85-352-1918-0;
- SEELEY, R.R; STEPHENS, T.D.; PHILIP, T., Anatomia e Fisiologia. Loures: Lusodidacta, 1997. ISBN: 972-96610-5-7;